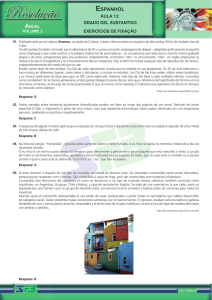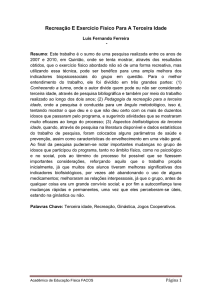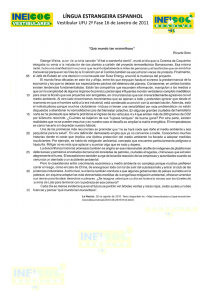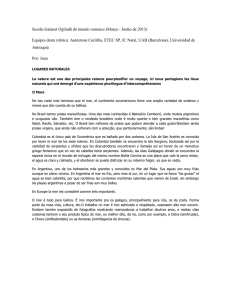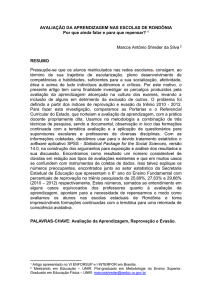Agulha - Revista de Cultura
Anuncio

. . . revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 editorial Um estranho país chamado Brasil É possível que em alguma parte do planeta o cidadão sinta-se sufocado pela irrealidade – esta é, de certa maneira, a idéia que muitos fazem de uma sociedade como a estadunidense. Em um país como o Brasil, por exemplo, o que sufoca a todos é o excesso de realidade. Não se trata de fantasia ou ficção – quando muito um efeito ótico ou uma representação teatral, recursos já quase sem função. Tudo corresponde em exatidão à realidade: miséria, corrupção, fraude, privação. Enfim, vive-se ali em um estado criminal, tudo perfeitamente embrenhado no imagináriofantoche de sua gente. Onde ficará este país de que ouvimos falar apenas através da mídia? No futebol brasileiro é comum observar os monstros sagrados percorrerem o gramado como se fosse um mundo só deles. São tão supremos em sua individualidade que perdem por completo o senso da partilha. Isto reflete o modelo de ascensão social no Brasil. A rigor, não é o que perdemos, mas antes o que jamais tivemos. O conceito de boa índole é um vírus, da mesma natureza do bom selvagem. Se acaso é verdade que a oportunidade faz o ladrão, este é um país de grandes oportunidades. Gente oriunda de qualquer classe social, uma vez em condição de poder, esbanja recalque, realça o sentimento de exclusão. Refiro-me ao poder em instância miúda, a que atinge o cotidiano em facetas múltiplas: o protocolador de processos em uma repartição pública, a atendente de serviço de informação por telefone, o apresentador fortuito de um programa de televisão. A deliberação da própria vida nas mãos do rancor, miséria espiritual, que se origina na falta de comida, saúde, estudo etc. Porém quem acredita mais nesses ditos de campanha eleitoral? Golpe fatal da realidade: a descrença total em qualquer auxílio, retificação ou alívio. Torna-se a maquinação em verdade, e muito mais eficaz. Exímia projeção de um artifício: já não temos nada a perder. Talvez apenas por um falso apego religioso, relutância sem princípio, inanição mental, medo atávico, algo que não nos permita visualizar com clareza o alvo, uns poucos ainda relutem em aderir ao novo credo: a realidade é tudo o que temos. O Ronaldinho fenômeno, o Domingão do Faustão, a Igreja Universal, o Rock in Rio, o Jornal Nacional, este editorial, os romances do Paulo Coelho, nada nos redime. Somos uma sociedade completamente vitimada pela realidade, cujo único aspecto inacreditável, porém não fantasioso, é o fato de que somos todos cúmplices – as exceções por vezes nem fazem idéia de onde estão. Com isto, não cabe a ninguém reclamar, e as indisposições soam como… Pensemos um pouco. Em um de seus mais belos poemas, Jorge Luis Borges conclui dizendo que “essas pessoas, que se ignoram, estão salvando o mundo”. Trata-se de uma noção fantástica que o poeta argentino tinha do senso de justiça, algo inato e incorruptível. A expressão “salvar o mundo” foi absorvida pela irrealidade, tornou-se chavão cinematográfico a refletir prepotência. Neste trâmite, nem mesmo a poesia foi salva. E a casta intelectual, à qual pertencem todos os poetas, foi se tornando tão venal quanto os jogadores de futebol. Ficamos unicamente com a realidade. Nossas evocações mágicas ou místicas já nem mais arbitrárias são, nem conduzem a analogia alguma. Ídolos caídos, nada mais. Um grande surto de decepção e a realidade impondo seus méritos. Mas tudo isto se passa nesse longínquo país chamado Brasil, que já não sabemos onde fica. Talvez para o resto do mundo esta seja uma notícia apenas curiosa. Para nós, brasileiros, tratase do palimpsesto de farsas acumuladas, pele sobre pele, onde o fundo do poço torna-se improvável, um truque a mais, uma mágica circense. Quem nos livra então da realidade? Não temos cinema para tanto. Alguns poucos ídolos aposentados ou gastos pela ganância. Uns símbolos maltrapilhos, desacreditados por conveniência. Só nos resta a realidade. O país do futuro tornou-se um país sem imaginário. Não tem mais José a quem se dizer: e agora? Não tem mais ninguém. E está longe, longe de casa e ainda mais longe da irrealidade. Os editores Carta Aberta ao Ministério da Cultura LEIA - DIVULGUE - PARTICIPE sumário 1 a audácia do tédio - sobre algumas raízes profundas do movimento do orpheu. ricardo daunt 2 acerca de la creación literaria y artística y su importancia como vía de conocimiento. adriano corrales arias 3 armando silva carvalho: o texto não faz nem refaz o mundo (entrevista). ana marques gastão 4 demônios, paraísos perdidos & telejornais. josé carlos a. brito 5 diez marcas en la sombra. benjamin valdivia 6 altino caixeta de castro: do espanto da palavra e outras perplexidades (entrevista). maria esther maciel 7 gerardo chávez: a propósito de un autorretrato de memoria. carlos henderson 8 guignard: o sonhador de ouro preto. carlos perktold 9 gnose, gnosticismo e a poesia e prosa de hilda hilst. claudio willer. 10 julio cortázar, altermundista algunas reflexiones sobre su pensamiento social. carlos véjar pérez-rubio 11 la función o transformación de los poetas. salomón valderrama cruz 12 la posibilidad de representación plástica en la obra de federico garcía lorca. susana giraudo 13 lina zerón en su morada de mariposas (entrevista). josé geraldo neres 14 maria teresa horta: corpo solar e lunar no corpo do texto. ana marques gastão 15 pedaços da vida nos objetos de farnese de andrade. mirian de carvalho artista convidado vicente do rego monteiro (pintura) texto de carlos perktold resenhas livros da agulha ana hatherly cruzeiro seixas - herberto helder - ivan junqueira - josé francisco ortiz - magdalena chocano (por rodolfo häsler) - marco vasques (por ademir demarchi) - panorama de la literatura brasileña - patrícia galvão (por adelto gonçalves) - patrícia guzmán - philippe jaccottet - sérgio medeiros (por myriam ávila) - sosígenes costa (por helena parente cunha) - versos comunicantes II - william blake (por claudio willer) música discos da agulha ataualba meirelles carlos malta - fernando moura (por pedro tinoco) - iso fischer (por etel frota) - luciana souza (por josé nêumanne pinto) - maogani marimbanda (por floriano martins) - mario checchetto & alexandre zamith - putumayo cumplicidade galeria de revistas expediente editores floriano martins & claudio willer projeto gráfico & logomarca floriano martins jornalista responsável soares feitosa jornalista - drt/ce, reg nº 364, 15.05.1964 correspondentes alfonso peña (costa rica) américo ferrari (peru) benjamin valdivia (méxico) bernardo reyes (chile) carlos m. luis (estados unidos) eduardo mosches (méxico) edwin madrid (equador) francisco morales santos (guatemala) harold alvarado tenorio (colômbia) jorge ariel madrazo (argentina) jorge enrique gonzález pacheco (cuba) josé ángel leyva (méxico) josé luis vega (porto rico) marcos reyes dávila (porto rico) maría antonieta flores (venezuela) maria estela guedes (portugal) mónica saldías (suécia) rodolfo häsler (espanha) saúl ibargoyen (méxico) sonia m. martín (estados unidos) artista plástico convidado (pintura) vicente do rego monteiro apoio cultural jornal de poesia banco de imagens acervo edições resto do mundo os artigos assinados não refletem necessariamente o pensamento da revista agulha não se responsabiliza pela devolução de material não solicitado todos os direitos reservados © edições resto do mundo escreva para a agulha floriano martins ([email protected]) Caixa Postal 52874 - Ag. Aldeota Fortaleza CE 60150-970 Brasil claudio willer ([email protected]) Rua Peixoto Gomide 326/124 São Paulo SP 01409-000 Brasil revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Brasil Carta Aberta do Ministério da Cultura . Vimos, através desta carta aberta, chamar a atenção de V. Sas. para um aspecto crítico dentro da política de divulgação da cultura e realidade brasileira no exterior. Observamos que essa política não aborda a cultura como um conjunto de diversas expressões artísticas de vários gêneros, mas a reduz a dois ou três gêneros, como as artes plásticas e a música. São raros os projetos envolvendo o gênero literário. A literatura é uma ponte entre os países, contribuindo para o melhor entendimento entre as nações, servindo para ampliar o horizonte de conhecimentos políticos, sociais, históricos, psicológicos e estéticos, entre outros. Ela é o gênero artístico que representa o mais amplo e profundo panorama de uma nação, talvez ao lado do cinema, mas um filme é, primeiramente, um roteiro escrito, isto é, um livro; muitos romances foram filmados, na Europa muitos filmes premiados são apresentados também em livros. Através da história fictícia de uma personagem em determinada época, envolvida com o desenrolar da história de um certo país, o leitor é transportado para uma outra realidade, completamente distante e diferente da sua. É pela literatura que ele passeia, sem sair de casa, pelas cidades e paisagens de um outro país e vive a realidade ou o universo metafísico daquela personagem totalmente distinta de seu mundo. Não só descobrimos as nossas diferenças, mas também o quanto somos iguais, apesar da distância e dos costumes desconhecidos. Sendo assim, é indiscutível que a literatura aproxima, amplia, renova, revoluciona a mente do leitor, criando novas formas de pensamentos, ampliando sua visão de mundo e visão de si mesmo. Além das tramas envolvendo a psique humana e/ou a vida empírica do homem e/ou o mundo sócio-político ou histórico desenrolados no romance e na prosa, a poesia é a expressão mais sublime de um idioma. Trata-se da condensação estética do pensamento sob a inspiração racional ou emocional. A poesia, pela sua raridade, pelo seu valor estético e lingüístico e pelo seu fundamento, representa a essência de um idioma. Em todos as línguas há poesia, é o gênero estético mais antigo da literatura. No Brasil, a poesia é amplamente desenvolvida, alcançando dimensões excepcionais. Entretanto, não há quase nenhum projeto oficial divulgando a poesia com o objetivo principal de manter a sua tradição e evolução, de expandir certas tendências ou temáticas. Sem as indispensáveis oportunidades que propaguem os trabalhos, as propostas intelectuais dos autores brasileiros, muitos deles permanecem desconhecidos, embora apresentem obras de inegável qualidade. Também os clássicos da literatura brasileira são esquecidos, não há nenhuma comemoração oficial da morte de Machado de Assis ou Guimarães Rosa ou Carlos Drummond de Andrade ou João Cabral de Melo Neto e outros. São através desses projetos que a cultura é revivida e enraizada em nossa memória, são esses programas que despertam novos interesses e renovam as lembranças fazendo com que nossa cultura se crave na memória e se firme na tradição. Ademais, a literatura, assim como as artes plásticas, o cinema, a música ou a dança é, em muitos países, um gênero artístico popular, completamente integrado não só na formação escolar do cidadão, mas também nas atividades de lazer. Na Europa e nos Estados Unidos, onde a literatura goza de tradição e qualidade, a leitura é um hábito corriqueiro cultivado pelas inúmeras bibliotecas e pelas programações literárias, como diversos festivais, leituras públicas com a presença dos autores e discussões na televisão, além das edições de inúmeras revistas especializadas e dos abrangentes artigos nos jornais escritos por autores nacionais e internacionais. Considerar a literatura como um gênero artístico de difícil acesso no exterior, devido à língua, não corresponde mais à realidade de hoje. Com as facilidades criadas pela internet e pela globalização, o número de tradutores e o nível perfeccionista das traduções aumentaram, a língua não é mais um obstáculo difícil de se transpor. Atualmente, o leitor estrangeiro procura o universo brasileiro através da leitura e tem muitas dificuldades em encontrá-la, porque lamentavelmente ela não está presente nos maiores festivais nem nos menores nem nos salões literários nem nos salões das embaixadas brasileiras… simplesmente não está sendo divulgada ao público estrangeiro. Também os escritores estão ausentes, muitos se esforçam para conseguir o financiamento de uma passagem para algum festival, para o qual foram convidados, e dificilmente são atendidos. Por outro lado, é grande a comunidade brasileira em muitos países europeus, no Japão e nos Estados Unidos. Esses brasileiros não querem perder a identidade e naturalmente procuram transmitir sua cultura a seus descendentes. É também para essa comunidade que a convivência com literatura brasileira deveria ser facilitada. Desta forma, não é a literatura que é de difícil acesso, não é a língua luso-brasileira que é de difícil acesso, não é o escritor um ser solitário, esquisito, eremita, não é devido à falta de interesse dos leitores ou à falta de verbas que a literatura deixa de ser destacada no exterior, mas a razão está nos apoios financeiros insuficientes e nas escassas iniciativas. Conforme o exposto, acreditamos que essa deficiência é causada, sobretudo, pela necessidade urgente de maior incentivo e divulgação nessa área. Ocorre que esse gênero artístico está sendo praticamente obscurecido pela política cultural brasileira. Buscamos, através desta carta aberta, alertar o Ministério da Cultura para essa lacuna, chamando a atenção para os procedimentos necessários, em prol da rica e diversificada literatura de nosso país, exigindo o tratamento que ela merece: sua valorização e inclusão nos projetos culturais voltados à divulgação da cultura e realidade brasileira no exterior. Atenciosamente, Claudio Willer [ [email protected] ] Floriano Martins [ [email protected] ] Viviane de Santana Paulo [ [email protected] ] Ao Ministério da Cultura – MinC Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar Brasília DF 70068-900 Brasil Observação: se você tiver interesse em apoiar essa iniciativa, envie um e-mail para o Ministério da Cultura: [email protected] [email protected] . revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Sobre algumas raízes profundas do movimento do Orpheu Ricardo Daunt . O ensaio que o leitor da Agulha vai ler agora é inteiramente extraído de um intercapítulo de um trabalho sobre o modernismo português, intitulado Audácia do tédio. Panorama estético do Orpheu em Portugal, que virá a lume em julho deste ano, pela Landy Editora, de São Paulo e contará em seu primeiro volume com um alentado estudo sobre o movimento, no qual esta contribuição se insere, e será acompanhado de mais um volume, apresentado em dois tomos, contendo as obras pertinentes ao movimento do Orpheu. É preciso que se diga ainda que a questão relativa às raízes profundas do movimento, no contexto da obra acima mencionada, é uma contribuição até certo ponto apenas aditiva ao entendimento do Orfismo e longe está de querer esgotar o assunto, que suscita desdobramentos de toda ordem. É de se esperar que o leitor acate de pronto o intento deste pequeno contributo, que é o de formular especulações, algumas talvez pouco corriqueiras, sobre a estesia órfica e seus entroncamentos no âmbito da tradição literária ocidental. Pedimos ainda que o leitor adote como perspectiva de leitura a mesma daquele curioso consulente que abre uma obra a meio e se põe a lê-la sem a preocupação de tomar nas mãos a ponta do fio da meada. O presente ensaio, portanto, começa logo após aquele ponto imaginário, aqui, mas real no livro que avança para o prelo, ponto em que o autor acabou de apresentar uma súmula dos programas e subprogramas de arte do Orpheu, súmula esta que por seu turno derivou de um exame minucioso das obras que entendeu órficas. Especulações adicionais sobre as raízes do movimento Após a leitura da súmula dos programas de arte do Orpheu, uma pergunta, talvez pertinente, talvez absurda, fica no ar. Parece justo formulá-la: se não tivesse havido o Simbolismo, teria o movimento do Orpheu realizado o que realizou? Por ora, não temos nas mãos mais do que um jogo de adivinhação, já que tal pergunta pressupõe a possibilidade, mesmo que no campo das meras abstrações, de suprimir com uma tesoura uma parte da história das artes, assim rompendo a grande malha que vai sendo entretecida ao longo do tempo, e a despeito dele, feita de influências assumidas, descompassos e vazios, e que se chama tradição. Mais correto e oportuno seria indagar se as raízes do movimento do Orpheu contentam-se com os subsídios primordiais que o simbolismo legou, ou se penetram para além dele o solo vivo da experiência humana, arrancando de estratos mais profundos seu alimento. A imagem das raízes afundando-se no solo logo se apresenta imprópria. No território da arte - e de toda a experiência humana - não existe compartimento estanque. O senso comum de distante e próximo também não se sustenta, nem o de antigo e novo se estabelece de uma vez por todas, assentado sobre o fio do tempo, quando a mera e trivial impressão deixa de satisfazer ao espírito crítico. Por esse prisma, e passando em revista a história da arte ocidental, não encontramos dificuldade de concluir que dado um ponto determinado da malha da tradição, vale dizer, no ponto - qualquer que seja ele - em que se identifica um traço estético, ou a dominante de um programa de arte, ou um mero estilema, sobre aquele ponto as forças todas resultantes da complexidade da tessitura da malha exercem alguma espécie de influência, caso contrário, como explicar a própria existência e permanência da malha e o sentido de seus pontos e nós, e a tensão permanente exercida ao longo dessa invisível rede? Deverá ser com esse espírito que buscaremos agora cambiar nossa perspectiva de análise, em busca de novas e talvez menos evidentes entroncamentos subterrâneos do movimento do Orpheu. Para tanto, iremos nos guiar pela mão de dois dos mentores mais destacados e prolíficos do movimento, Pessoa e Sá-Carneiro. Dirá o leitor que a escolha é arbitrária e que o exame do enraizamento da obra órfica desses autores, a despeito de seu incontestável relevo e importância para o Orpheu em Portugal, não dá conta da diversidade do movimento. Absolutamente de acordo. É de se supor que uma investigação caso a caso nos levasse mais longe, mas talvez nos desviasse de nosso objetivo - que não é o de buscar as fontes onde foram beber os rapazes do Orpheu em suas trajetórias individuais, nem mesmo o de apontar as fontes de inspiração que nortearam os passos de SáCarneiro e Pessoa, mas o de compreender como o movimento do Orpheu se insere na tradição. Dada uma determinada geração de escritores e poetas, na obra de quais deles patenteiam-se mais vigorosamente as questões de sua geração e que dizem respeito não somente ao fazer literário, como à manutenção e ruptura da tradição literária? Na obra dos que com maior amplitude, intensidade e profundidade embateram-se com a tradição, originando a partir desse embate obras influenciadoras em seu tempo e representativas da época ou do movimento específico em que autores e produto se inseriram. Não pode restar dúvida de que Pessoa e Sá-Carneiro bem representam, mentores que foram, o movimento do Orpheu. Jules Laforgue (1860-1887) é o ponto de partida de nosso exame. [1] Nascido em Montevidéu, filho de pais franceses, deixou seu país de origem na adolescência, viveu na França e na Alemanha, onde, com o apoio de Paul Bourget, obteve um posto de leitor junto à Imperatriz Augusta, em plena corte berlinense. Ali permaneceu por cinco anos. Foi um período de grande produção, [2] em que a convivência cortesã e o contato com a cultura alemã lhe renderiam generosos frutos intelectuais. Em sua estada em Berlim, Laforgue visitou por duas vezes a casa de Schopenhauer, uma de suas influências. Por essa época, havia tido contato com a filosofia do inconsciente de Hartmann, que foi sua bíblia e breviário. [3] O primeiro contato de Laforgue com o pensamento de Hartmann deu-se por influência direta de Paul Bourget, seu primeiro mentor e revisor de seus textos, e foi decisivo. Hartmann defendia que o princípio último é o inconsciente; e que tudo é dirigido por essa Fatalidade universal, inexorável, para onde o homem é arrastado. Aceitar o destino que nos reserva, entende o filósofo, é a suprema sabedoria. O encontro de Laforgue com as idéias de Hartmann geraram no poeta o entendimento de que havia alcançado a unidade que buscava e as bases de uma estética fabricada com um tanto da filosofia do inconsciente, um tanto de Darwin, outro tanto de Helmholtz, Hegel e Taine. Através do inconsciente, que se inclina sempre na direção da consciência, busca-se, como em um espelho que é depurado incessantemente, o princípio irracional que não é outro coisa senão a própria vida. Sob a influência dos dois últimos elabora-se uma estética do devir, que é simultaneamente, graças a Hartmann, também uma estética do individual e do efêmero. [4] Por volta de 1880, debruçava-se sobre o projeto de um romance autobiográfico, o Raté, uma obra gigantesca, espécie de dança lúgubre do século XIX, composta por quatro grandes afrescos, como afirmara o poeta: "a epopéia da humanidade, a dança macabra dos últimos tempos do planeta, os três estados da ilusão".[5] Não teve tempo para levar avante o ambicioso programa. Entre 1886 e 1887, época em que já se encontrava de regresso a Paris, Laforgue produziu uma volumosa correspondência que engloba seus amigos mais próximos, como Gustave Khan, Charles Ephrussi, seu primeiro empregador, que era colecionador e historiador da arte; Charles Henry, interessado no exame da fisiologia das cores e dos sentidos, e nomes de peso como Verlaine, em quem reconheceu "misteriosas afinidades",[6] entre elas, certamente, o erotismo, a ironia e uma difusa sensibilidade poética; além dos citados, também com ele se correspondiam Huysmans, Moréas, Mallarmé, Adam, Vignier, Vielé-Griffin, Stuart Merrill e outros. [7] Longe de querermos enveredar pelo exame biográfico do poeta, interessa-nos ressaltar a peculiaridade de sua mundividência, que não o encaminhou na direção de uma fácil e pacífica adesão a essa ou àquela corrente literária. A multiplicidade de referências, a diversidade de experiências, inclusive sob o ponto de vista social, aliadas a uma grande inquietude de espírito contaminaram integralmente sua obra, que embora receptiva a influências tomou rumo próprio, extemamente pessoal e alheio aos modismos da hora. Obcecado pela necessidade de "fazer o que é original a qualquer preço", vivendo desenraizadamente, colhendo experiências aqui e ali, sua obra filtrou de maneira eloqüente uma percepção fragmentária de um mundo em agitada transformação, onde sentidos e valores são despojados de convenções e hierarquias e onde o absurdo se instala no cotidiano repleto de incongruências. Amante e ao mesmo tempo misógeno, denotava um pessimismo schopenhaueriano, a que já aludimos, do qual amiúde se afastava, estimulado pelo diletantismo, [8] pela ironia e pelas experiências formais. Entre elas a criação de neologismos, a elaboração de locuções mais truculentas, como que provocadas em um ambiente de frialdade laboratorial. Praticou a prosa e a poesia; planeou romances, entre eles Moralités légendaires; [9] experimentou o verso filosófico e enveredou por uma poética ocupada com desmantelar as fronteiras entre o sonho e a realidade, entre o poético e o prosaico, entre o corriqueiro e o sublime. Para tanto minou impiedosamente os alicerces do discurso poético. Nesse sentido, a convivência com Edouard Dujardin, o muitas vezes esquecido inventor do monólogo interior, com seu romance Les lauriers sont coupés, foi decisivo para que Laforgue ampliasse as possibilidades e os ritmos do discurso prosaico e pudesse fazer uso de uma ferramenta que lhe permitia transportar para o papel com eficiência os elementos dispersos da linguagem do sonho e dos sentidos. Seu caminho poético logo o levaria ao encontro do verso livre. "Seria inexato atribuir a Vielé-Griffin a invenção do verso livre. Antes dele, Jules Laforgue, Marie Krysinska e Gustave Kahn o haviam publicado." [10] Interessado em percorrer um caminho só seu, dividiu opiniões quanto a sua filiação ao decadentismo ou ao simbolismo. Não resta dúvida, contudo, que a par de ser um influenciador do movimento moderno, os principais nomes do simbolismo o tem como um de seus integrantes. Em uma pesquisa sobre a evolução literária, levada a cabo por Jules Huret em 1891, vários poetas se pronunciaram acerca de Laforgue. Mallarmé afirmou nessa ocasião que, juntamente com Vielé-Griffin e Gustave Kahn, ele faz parte do conjunto dos principais poetas que contribuíram para o movimento simbólico. Remy de Gourmont entende que Moralités légendaires um gênero híbrido, entre a poesia e a prosa, que veio a lume três meses depois de sua morte, "ficarão como um dos carros-chefe de seu tempo". Teodor de Wyzewa, a propósito da mesma obra, assim se manifesta: "conheço poucos livros, entre todos esses do nosso tempo e de nossa época, que fornecem como este [Moralités légendaires] a impressão de uma alma de gênio: e acredito com efeito que, entre os jovens artistas de sua geração, somente Laforgue teve gênio".[11] Mirbeau alude ao puro gênio francês que morreu aos vinte e sete anos e critica os que se obstinam em apontálo como um decadente, "o que ele não é nem por um vintém".[12] E, caminhando em direção ao presente, convém recordar que T. S.Eliot considera Laforgue um de seus mestres, inserindo o poeta francês na longa linhagem de poetas metafísicos. [13] No número de 31 de agosto de La Republique Française de 1885, ano da publicação de Complaintes, Laforgue consegue publicar anônimamente um pequeno texto (que na verdade é de sua autoria), bastante esclarecedor acerca da obra sobre a qual nos deteremos mais adiante: O Senhor Jules Laforgue, que exalta o schopenhauerismo, excessivamente burguês, aplicando-se na Philosophie de l'inconscient, de Hartmann, de um misticismo mais amplo e mais profundo e de um pessimismo menos vulgar, imaginou retomar, para traduzir suas concepções poéticas, esta velha forma popular do lamento com métrica ingênua, com refrões tocantes, que corresponde em música a seu congênero o realejo. Apressemo-nos a acrescentar que o realejo de Complaintes que aqui se encontra não tem de popular mais do que o volteio rítmico e por vezes o velho refrão emprestado e permanece um instrumento refinado, capaz de sutis nuances psicológicas, bem como de efeitos bem recentes no terreno do verso".[14] Para muitos, no entanto, Sanglot de la Terre é a chave de sua obra. Sanglot [..] é uma história de uma alma pouco comum, como asseverou Laforgue, que de um só golpe ultrapassa a escala humana para se elevar à escala universal. [15] O coração dorido do poema é o da própria Terra, que é também o objeto de paixão do sujeito lírico nela presente. Seu modo de amar é complexo e de certo modo incomum, em sua ambivalência constante. Laforgue ama a vida e despreza a vida, como observou com extrema propriedade Remy de Gourmont, que em outra passagem declarou que sua poesia seria a parodia de sua profunda sensibilidade. Sensibilidade, contudo, que não o conduziu a experimentar a plenitude do prazer ou o gozo amoroso. Espécie de Hamlet sem espada, metamorfoseia-se em Pierrot careteiro, incapaz de encontrar uma saída para seu conflito com o mundo; e incapaz de aceitar a possibilidade de o levarem a sério, talvez porque tudo então se tornasse ainda mais doloroso. Para os propósitos mais restritos deste trabalho, e antes que as semelhanças, inversões de sinal e desvios premeditados de rota, de Pessoa e Sá-Carneiro com respeito a Laforgue - que já começam a despontar discretamente em nossas mentes - nos conduzam muito apressadamente na direção de conclusões e analogias entre estes e Laforgue, definindo precipitadamente as influências do poeta francês sobre os dois mentores órficos, examinemos sem demora alguns aspectos de Les complaintes. O lamento, como o próprio poeta asseverou acima, é uma forma popular antiga. Sua função é a de celebrar uma perda. A poética de Laforgue, contudo, subverte o sentido literal do discurso lamentativo, introduzindo a ironia, e uma escritura que busca a qualquer preço, inclusive com a perda da tensão lírica, eliminar as hierarquias poéticas, numa emulação com o caos e o absurdo do mundo. Se o infinitivo, do qual Laforgue abusa, "não tem em sim mesmo uma conotação optativa, sua recorrência o transforma em um verdadeiro voto, em palavra de ordem, como lembra Bertrand, e o ponto central reside na questão amar - ser amado. O verbo amar, freqüentemente lançado no discurso sem sujeito ou objeto significa que "o desejo e sua tensão constituem o foco temático e pragmático de cada lamento".[16] Em um momento, o sujeito lírico declara que ama tudo, como nestes versos quase ao final de em "Préludes autobio- graphiques": Última crise. Duas semanas errabundas, Em tudo, sem que meu Anjo Guardião me responda. Dilema com dois atalhos para o Éden dos Eleitos: Me deixar absorver meu Eu pelo Absoluto? Ou então, elixizar o Absoluto em mim-mesmo? Acabou. Eu amo tudo, amando melhor que Tudo me ama. Assim, vou flutuando pelas orquestrações submarinas, Pelos corais, ovas, braços verdes, escrínios, Na turbilhonante agonia eterna […].[17] A série de lamentos vai sendo ampliada. Assim também a lista variada de destinatários da mensagem. São figuras distintas, como Fausto, a lua da província, as puberdades difíceis, o fim das jornadas, etc.; uma espécie de itinerário da decepção, em que de um lado se apresenta aquele que afirma tudo amar, mas que ao cabo reconhece que não é amado e que nada pode recompensá-lo e, de outro, a realidade impenitente. [18] Mas o sujeito lírico não desiste, a despeito de eventuais autocríticas. Em outro poema o sujeito lírico laforgueano pergunta-se a propósito: "qui m'aima jamais?" [19] Também, e à medida que o sujeito lírico insiste em seu voto de amor a tudo, constatando que nenhum amor pode recompensar o seu, por vezes recua de seus propósitos e regressa sobre seus passos para tocar o núcleo de sua própria dor. Dirá ele em "Complaintes de Lord Pierrot": "volvemos sobre nós mesmos, como um faquir",[20] verso que é extremamente emblemático do homem moderno. "Este efeito-bumerangue, este movimento giratório do mesmo ao mesmo, ele [Laforgue] retoma na maioria dos lamentos, como se o desejo, não mais do que a palavra, não conseguisse captar o outro e tolhesse sua própria efetivação." [21] O sentimento de amor termina por sublinhar a ausência do objeto; o sujeito ama em vão, sem esperança. [22] Laforgue poderia ter tratado do amor fazendo uso da ode lamartiniana, por exemplo, subjetivando suas expectativas, anseios e vontades. Preferiu, ao contrário, um subgênero que serviu no século XVII a finalidades satíricas e burlescas, resgatando algumas de suas características desse período, mas desfocando-o e desajustando-o a partir da elaboração de novos registros e recortes temáticos. Com o escopo do lamento, construiu uma lírica antifrásica, que nem por isso deixa de tocar a sensibilidade; e para cuja concepção poética Laforgue reivindicou o nome de empírica. Quanto mais o sujeito lírico recobre seu discurso de ironia e distanciamento, mais inapelavelmente ferido e desacorçoado parece estar (mesmo que imprecisa e indefinida seja a extensão do dano, e mesmo que se encontrem escamoteados seus verdadeiros sentimentos). "Vida ou Nada! escolher. Ah! que disciplina! Não há um Éden entre essas duas usinas?" [23] O lamento, tal como é conhecido, introduz sempre a presença de um outro, que mesmo ausente é o receptor da mensagem. É por vezes uma comunicação que por pouco não consegue sequer transbordar do peito, e que comumente se perde no vazio. Parece uma necessidade própria do lamento a retomada da problemática humana, quase sempre inserida na dinâmica amorosa, trazendo à tona uma crescente frustração - bem como a ênfase, dela decorrente, e o retorno ao ponto de partida; um retorno do sujeito de enunciação lírico sobre si mesmo; um revolver em seguida das próprias pegadas numa tentativa de acentuar a reivindicação - expediente que o poeta francês freqüentemente também utilizou. No caso de Laforgue, a carnadura do sujeito lírico, ao tangenciar temas dolorosos, encontra-se amiúde protegida pela carapaça da retórica, que inibe o discurso solipsista, introduzindo em seu lugar uma sensibilidade reificada, difusa em toda a extensão da palavra poética, e ao mesmo tempo carente em cada segmento menor. É a fórmula que Laforgue desenvolveu e como mestre dominou para fugir ao pieguismo e ao transbordamento lírico, assim adulterando, também, o caráter elegíaco do lamento. Associados a tudo isso, a moeda do humor, que resgata por vezes um olhar desarmado sobre as coisas (cuja outra face, quando se lança a moeda no ar, é o sentimento de desajuste de quem se vê excluído e quer ser notado), e o riso; o motejo desapiedado, ou convulsivo, que banaliza o infortúnio, acentua a rebeldia e a discrepância - e a ironia, que preside os instantes em que o sujeito lírico laforgueano se posta ao lado de si mesmo, alterizando-se, e diz coisas, as quais, ele sabe bem, o mundo banal não dará ouvidos. O riso laforgueano é um riso apalhaçado, um meio de disfarce que estilhaça hierarquias quer do discurso lírico, quer dos referentes sociais ou de classe. é uma proposta de reavaliação do mito do poeta. O poema abaixo ilustra um pouco o modo como o poeta francês emprega o humor, a ironia e revela alguns aspectos nucleares de sua poética. Ah! a bela Lua cheia, [24] Gorda como uma fortuna! O toque de recolher ao longe soa, Um passante, senhor adjunto; Um cravo toca defronte, Um gato atravessa a praça: A província que dormita! Martelando um último acorde, O piano cerra sua janela, Que horas devem ser? Calma Lua, que exílio! Pode-se dizer: assim seja? Lua, ó diletante Lua, [25] Comum a todos os climas, […] Lua feliz, assim tu vês Àquela hora, o cortejo De sua viagem de núpcias! Partiram para a Escócia. [26] Que armadilha, se, neste inverno, Ela levasse a sério meus versos! Lua, vagabunda Lua, Compatibilizamos interesses e conduta? Ó ricas noites! eu me suicido, A província no meu coração! E a Lua, boa velha, De algodão nas orelhas. [27] Ao longo do poema, a Lua é "bela", "cheia" e "gorda", depois "calma", depois "diletante", depois "vagabunda", depois "boa velha". Alguém a vê feliz; não é o poeta, mas a nubente. Num primeiro momento ela tem qualidades positivas (mesmo sua gordura é bem vista, porque associada à fortuna), ao término do poema, a Lua após experimentar o diletantismo é apenas vabagunda e velha. Mesmo quando ainda calma, já evoca sentimentos desagradáveis, como o exílio. Mesmo quando bela, não consegue ser bucólica, porque um burocrático senhor adjunto caminha debaixo dela ao toque de recolher e sua presença já é uma crítica social velada. A calmaria da província, que parece se refletir na Lua, contaminando-a, devolve uma luz que gera um estado de angústia em que se afigura o sentimento de exílio do sujeito lírico - ou ao menos um certo sentir de uma de suas múltiplas e instáveis vozes ou entonações. Neste ponto é fundamental observar que essas alterações bruscas de tom e de sentimento, essas mudanças de perspectiva tão radicais, como se a enunciação lírica passasse sub-repticiamente de um emissor a outro, fazem parte de uma estratégia que Laforgue adota em seu projeto de despersonalização e disfarce. Insistamos sobre o sintagma "província" em outro passo, justamente onde ocupa, com sua significação vasta, o coração do sujeito lírico, por intermédio e pelo concurso de suas "ricas noites". A essa altura, é o suicida que fala, e o faz como um marginal a tudo isso, cuja vida não comporta ricas noites, ou o enlevo de guardar na memória uma província de belas lembranças sentimentais. Mas é igualmente o sentimento de quem se dá conta de sua própria exclusão, procurando através da ironia algum alívio. Em outro diapasão tange o sujeito de enunciação que imaginou a noiva (de outro) lendo seus poemas ("que armadilha"), e sua imaginação vem acompanhada de sarcasmo, mas também de autocomiseração, quase como se o contato físico com o objeto poético pudesse resultar em um comportamento, por parte da mulher recém-casada, não sancionado pela sociedade. E nesse caso a armadilha (entendida aqui quer como a oportunidade de leitura, quer também como a matéria dos versos) sugere a existência de uma rejeição social do poeta e de sua poesia. No que diz respeito ao humor, Laforgue lida com ele de maneira diferenciada ao longo do poema. No início, à altura do primeiro dístico, o verso se injeta de um humor fanfarrão, depois sibilino (como no terceiro dístico), e discretamente familiar (como no quinto dístico). Esse humor dilui-se, reaparecendo mesclado a uma ironia dominante, no último dístico do poema. O humor, a ironia, a autocompaixão, o escárnio, a crítica, o ponto de vista, o lugar no hipotético espaço projetado, o tempo - tudo é extremamente fugaz, descozido, fraturado. Nenhum sentimento, ou ponto de vista, persiste o tempo suficiente na enunciação lírica laforgueana para que se identifique com segurança o sujeito que o diz sentindo. O mesmo vale para todos os demais estratos do campo escritural. Não há, na bricolage de Laforgue, oxigênio suficiente para o sujeito solipsista respirar. Acrescente-se ainda que, em socorro da postura contrária ao solipsismo, acima aludida, surgem na escritura laforgueana inúmeras personagens, que por vezes são sujeitos de enunciação, por vezes objeto do enunciado, como Lord Pierrot, o Cavaleiro-Errante, o Sábio de Paris, o Anjo incurável. O Vento, O Tempo e o Espaço são personificados, como a Lua, acima. Outras personagens legendárias ou mitológicas comparecem na obra de Laforgue, como Pan, Antígona, Prometeu, Eva, Nero, Don Quixote e tantas outras. A lista é farta, e ao redor de cada uma delas se estabelecem relações analógicas. Tais relações formam um tecido de referências e significações que escamoteia qualquer tentativa quer de isolar uma personagem central com base apenas na enunciação poética, quer de tracejar o sujeito lírico. Tal fato ocorre sobretudo em virtude do jogo dramático - jogo de máscaras, como num baile carnavalesco -, que perpassa versos e poemas, inter-relacionando fragmentos de enunciados e transformando essa rede analógica em um experimento cósmico-escritural. Os versos de Laforgue são um convite urgente para pensarmos o turbilhão da vida, com todas as suas impossibilidades; são uma convocação para que avaliemos criticamente o status quo, e por conseguinte sua leitura pode não ser reconfortadora, porque não tranqüiliza ou mitiga. Infelizmente, adentrar mais a fundo a poética do poeta francês não é o propósito deste trabalho. Ficarão também em suspenso nossos comentários sobre os aspectos do obra de Laforgue mais determinantes para o de-senvolvimento da estética órfica, pois não é ainda chegado o momento para isso. Duas qualificações, 'metafísica' e 'empírica', assinaladas aqui de passagem, e atribuídas à obra do poeta francês, merecem não ser esquecidas. O exame do sentido dessas expressões, respectivamente no âmbito da poesia européia e no campo da filosofia e da psicologia deverá nos conduzir na direção pretendida. Nosso primeiro passo é compreender o que vem a ser a poesia metafísica. [28] Antes porém é preciso apartar o leitor do caminho que eventualmente o conduza a Andronico de Rodes, que denominou metafísicos os tratados aristotélicos que sucediam a física, bem como é necessário, ao menos por ora, deixar de refletir sobre os fundamentos dos sistemas metafísicos modernos. Esse termo, no âmbito da poesia, foi inicialmente utilizado por Dryden em "A discourse concerning the original and progress of satire" (datado de 1693) e depois por Johnson no ensaio intitulado "Life of Cowley", em 1779, quando denominou metafísicos a uma raça (sic) de poetas surgidos na Inglaterra no início do século XVII. Mais tarde, Saintsbury resgata os primeiros trabalhos de Henri King, Thomas Stanley, Edward Benlowes e William Chamberlayne em sua obra Minor poets of the Caroline Period, vinda a lume no início do século XX. [29] Em 1921, Herbert Grierson publica Metaphysical lyrics and poems of the seventeenth century: Donne to Butler, abarcando em uma coletânea, além dos poetas mencionados no título da obra, nomes como Crashaw, Marvell, Townshend, Lord Herbert, John Cleveland, Benlowes, ao lado de dezenas de outros nomes que despontaram nesse período. [30] Em seu trabalho, Grierson define a poesia metafísica como aquela "inspirada por uma concepção filosófica do universo e pelo papel assumido pelo espírito humano no grande drama da existência".[31] Seus temas, norteados, entre outros, pelas investigações de Aquino e pela visão de mundo de Espinoza, desenvolvem-se a partir de simples experiências havidas na superfície da vida, tristeza e alegria, esperança e medo, a paz do campo, a azáfama e agitação das cidades, mas igualmente através de atrevidas concepções, e das mais profundas intuições, das mais sutis e complexas classificações e 'pronunciamentos da razão', se em tudo isso o poeta consegue incluir a sensação, fazendo desses temas experiências apaixonantes, comunicáveis em vívida e comovente imagética, em ricas e variadas harmonias (itálicos nossos). [32] T. S. Eliot debruçou-se sobre a questão quase toda sua vida, em artigos como "Reflections on contemporary poetry" (1917), "John Dryden" (1921) "Andrew Marvell" (também do mesmo ano) e "Dante" (de 1929), e mormente em uma série de conferências realizadas em 1926 em Trinity College e em 1933, na The Johns Hopkins University. Em linhas gerais, o poeta e conferencista naturalizado inglês defende a tese de que a poesia metafísica é um fenômeno cíclico que principia em Dante, no século XIII, ressurge no XVII com Donne, Marvell, King, Vaughan, Crashaw e outros; atinge o século XIX, com Baudelaire, Laforgue, Corbière e Rimbaud e aparece novamente no século XX, com ele próprio. [33] Tal ressurgimento não significa, de modo algum, a repetição de um modelo ou gabarito poético. A cada reaparecimento, a poesia metafísica adapta-se ao novo tempo, perseguindo uma trajetória crescente de desintegração do intelecto; é, com Dante, diversa da praticada por Donne. Mesmo seus discípulos e seguidores não fazem idêntico uso dela. Diferentemente se renova com o contributo de Laforgue; e é distinta em Blaise Cendrars e Eliot, ou James Joyce. O que vem a ser a poesia metafísica? Na concepção de Saintsbury os poetas metafísicos são aqueles que procuram algo além ou adiante da natureza, como refinamentos do pensamento ou da emoção. [34] A definição é vaga, instável, como instável é o próprio território que delimita a presença da poesia metafísica através dos tempos. De pronto, e antes de mais nada, é preciso descartar qualquer relação entre a poesia denominada filosófica, que designa a produção de poetas que se ocuparam com exprimir em seus versos um sistema de idéias a serviço de uma concepção do universo, ou da moral - e a chamada poesia metafísica. Os poetas metafísicos não tinham como propósito elucidar ou refletir sobre filosofia, a despeito da evidente unidade da obra de Dante, do ângulo filosófico e religioso. Com efeito, a poesia filosófica tem lugar quando o poeta manipula em seu trabalho um inteiriço sistema filosófico. No caso de Dante, havia a filosofia de Aquino, não resta dúvida, mas o que o torna um poeta metafísico não é o fato de que Dante lidara com um sólido substrato filosófico em seu trabalho; em outros termos não é o fato de o poeta florentino haver nutrido uma espécie de paixão pela filosofia, que o torna metafísico, mas sim o fato de haver realizado uma transformação na maneira de se expressar e viver a paixão humana por intermédio da filosofia. Outro aspecto que parece nortear o poeta metafísico em todas as épocas é o desenvolvido misticismo de seu trabalho, que em Dante se apóia em Richard e Hugo de São Vito; Donne e seus discípulos em Ignácio, e Santa Teresa; e Laforgue em Hartmann e Schopenhauer. Evidencia-se de imediato que o misticismo do poeta metafísico não terá sempre o mesmo lastro, intensidade e direção. Nos três períodos mencionados, os séculos XIII, XVII e XIX, ocorrem diferenças em termos de espécie e grau no que diz respeito à penetração da sensibilidade pelo misticismo. No século XII, como se sabe, passou a florescer um tipo de misticismo religioso derivado do sistema teológico de Tomás de Aquino, que por sua vez decorre de seu exame do pensamento de Aristóteles. Para Aquino, e isto é de fundamental importância para se fixar a partir de Dante o significado da poesia metafísica, a visão divina do encontro com Deus só poderia ser provocada se o intelecto analítico estivesse presente e tomasse parte. [35] Donne estudou profundamente teologia, aprofundou-se em Belarmino, conhecia o pensamento de Lutero, Calvino, Melanchthon e Pedro, o Mártir; familiarizara-se com diversos comentadores da Igreja Romana, e "tinha a literatura controversa dos jesuítas na ponta de seus dedos".[36] Eliot observa que "Donne é, em certo sentido, parte jesuíta e parte calvinista: atrevo-me a sugerir que um profundo exame das doutrinas de ambas as seitas […] atire alguma luz sobre a mente de Donne".[37] O misticismo de Laforgue, é inútil repisar, está impregnado de Hartmann e Schopenhauer. Termos do agrado de ambos, como "nada", "absoluto", "inconsciente", perpassam sua obra, conquanto em Laforgue "exista uma contínua guerra" entre os sentimentos implicados pelas idéias de schopenhauer, de tal sorte que o próprio schopenhauerismo acaba por entrar em colapso. [38] Quer concordemos com Eliot, quer não, é inimaginável pensar a obra laforgueana apartando do exame as mencionadas referências filosóficas do poeta francês. A poesia metafísica do século XIX e do século XX, como observa Eliot, deriva "da crença no Bem e no Mal, e consiste em um consciente e deliberado contraste e perturbação da moral e do intelecto com o não-moral e não-intelectual".[39] A geração de Dante em muitos aspectos recolocou em termos novos a relação amorosa, e esse fato deriva muito provavelmente da capacidade de elevação mística e do substrato filosófico que a alimentou. Senão vejamos: a mulher provençal era um objeto de desejo feito de carne, regra geral casada, e rodeada de pretendentes. Os amantes adúlteros eram fiéis entre si e o casamento não era de modo algum um ninho de amor. Para amar era preciso, como observou Remy de Gourmont, "ser casado e amar fora do casamento".[40] Ao contrário, a escola florentina modifica a concepção do amor e da moral. O amor adquire todos os caracteres "de um culto".[41] O foco de atenção não é mais a mulher em sua integral carnadura, mas a beleza; a paixão da carne cede lugar à idealização amorosa; o poeta se compraz em enaltecer e reverenciar o intangível, porque abandonou o estreito e limitado projeto de tão-somente possuir. Não nos enganemos, porém: se é comumente admitido que o trecento ocupou-se mais da contemplação do objeto amado do que dos sentimentos e sensações oriundos dessa união, o que deixou registrado foram os sentimentos e sensações daquele que comtempla o amado. Não será isso um passo além? Nos melhores versos eróticos (sic) de Dante, Guinizelli, Cavalcanti e Cino, como muito oportunamente observou Eliot, não se encontra nada em termos de simples galanteio, ou descritividade objetual; nenhuma tentativa de exprimir emoções e sensações por elas mesmas, mas apenas uma tentativa de sugerir beleza e dignidade do objeto contemplado pela afirmação do efeito daquela beleza e dignidade sobre o amante em estado contemplativo. [42]"Quem faz na claridade o ar tremer?" ("Che fa di clarità l'aer tremare!"), indaga o sujeito lírico em um soneto de Cavalcanti. [43] O Amor no trecento é um objeto a ser compreendido com o concurso dos sentidos, mas sobretudo do intelecto, não o intelecto frio e calculista, mas por uma razão sensível, sistemática, incansável, que se impõe a tarefa de estabelecer os limites do que seja o Amor, ao mesmo tempo em que amplia e distende seus múltiplos significados, com uma provocativa e inigualável elegância e equilíbrio, para os quais concorrem uma poderosa e treinada imaginação e uma especial sensibilidade para sentir e avaliar: Pediu-me uma Senhora fale agora Dum acidente geralmente forte E de tal porte que é chamado Amor Quem ora o nega prove-o novamente Mas um presente entendedor requeiro Nem espero de um baixo coração CONHECIMENTO aberto a esta razão Se não se apega a natural sustento Meu intento não vai poder provar Onde ele nasce e quem o faz criar […] NAQUELA PARTE onde está a memória Assume estado toma forma qual Na escuridão diáfano de lume […] Vem da forma visível que se entende E apreende no possível intelecto […] Não pode ser no rosto percebido Ferido o homem cai branco no alvo […] Se vê de Amor que dessa forma vem […] Voa seguramente vai canção Aonde queiras tão bem trabalhada Que tua razão será sempre louvada De pessoa que tenha entendimento Estar com outra não é teu intento (itálicos nossos). [44] O trecento sustentou uma afirmação nítida da ordem intelectual, [45] como bem se pode avaliar pela leitura do poema acima; o seicento, em contrapartida, promoveu uma clara afirmação da desordem inteletual, que iria se intensificar cada vez mais, dando lugar mais tarde a uma degeneração do ouvido, a uma desintegração do intelecto e a uma separação entre som, imagem e pensamento. O século XVII dissociou o intelecto e as emoções; a dissociação do som e do sentido do verso resultou em uma crueza versificatória que chegou a nossos dias. [46] Enquanto no século de Donne o substrato intelectual caótico promoveu um compromisso com a carne, mais do que uma aceitação dela, e por conseguinte uma contração do campo de experiência, a vivência amorosa, traduzida em Vita Nuova, de Dante, apontou para o caminho da transformação das emoções da adolescência, ao invés de delas se descartar, amplificando esse mesmo campo de experiência, [47] como ilustram os versos abaixo. Um anjo clama na razão divina, E diz: 'Senhor, entende-se, no mundo, Que seja maravilha o que provém De uma alma tal que até no céu resplende'. […] Minha amada deseja-se no céu: quero, pois, que saibais sua virtude. Quem queira gentil dama parecer, Com ela à rua vá, que, quando passa, coloca Amor em peito vil um gelo, Pelo qual todo sentimento morre; E quem à vista sua resistisse Se tornaria nobre ou morreria. […] Dela pergunta Amor: 'Coisa mortal, Como ser pode tão ornada e pura!' E, após a contemplar, jura consigo Que Deus fazer entenda maravilha. Tem ela a cor das perlas, como assenta À mulher, e não fora de medida: Ela é quanto bem pode a natureza: Por seu exemplo o belo se avalia. […][48] A principal característica da poesia metafísica é a de lograr elevar o sentimento a regiões comumente alcançadas por intermédio do pensamento abstrato; e de transportar o pensamento para esferas do sentir. Em outros termos, o que é ordinariamente apreensível apenas pelo pensamento torna-se, na poética metafísica, sensação e o que é sensação, sentimento, transforma-se em pensamento sem deixar de ser sentimento, sensação. A poesia metafísica é capaz de fornecer o equivalente emocional do pensamento sem deixar de ser emoção; emoção e pensamento fundem-se sem que permaneçam indistintos, uma vez que sua fusão não dissipa, dissimula ou elide nenhum dos termos, nem escamoteia nenhum deles. Quando intelecto e emoção se estimulam mutuamente ao redor do objeto poético, a imagética intensifica-se. Os significados são distorcidos, semelhanças inesperadas são impostas sempre com a finalidade de produzir um prazer deliberado. Não é propriamente no âmbito vocabular que tudo isso ocorre, mas, como bem salienta Eliot, na maneira de frear o fluxo natural de uma idéia, retardando o desdobrar do pensamento de modo a extrair dele cada grama de emoção suspensa. [49] Como no pequeno trecho do poema abaixo: Indago, com minha boa-fé, o que tu, e eu Fizemos, até nos amarmos? Não éramos nós desmamados então? Embora sugássemos os prazeres do campo, infantilmente? Ou ressonávamos nós no covil dos sete dorminhocos? Assim era: Mas tudo, quaisquer prazeres cogitados Se alguma vez uma beleza eu vi, Que desejasse, e tivesse, fora apenas um sonho de ti. [50] À imagética fortemente realçada pelo retardamento do fluxo da idéia, tão característica em Donne e presente em maior ou menor grau nos poetas metafísicos mais fortes, alia-se uma habilidade única em conferir ao pensamento "o máximo de valor tanto poético quanto dramático". Em outros termos, não tanto no âmbito do pensamento, mas no desenvolvimento dele é que reside a linhagem metafísica de Donne. [51] Ainda no âmbito da imagética é preciso que se diga que o tratamento e as soluções, também aqui, variam de poeta para poeta e sobretudo de geração para geração. Em Dante, o uso de imagens obedece na maioria das vezes a um critério estrito de utilidade. Suas metáforas possuem uma necessidade racional, como observa Eliot. [52] Servem elas para fazer aflorar uma determinada e desejada experiência sensorial. Ao contrário, em Donne o objetivo se dispersa. O prazer é em parte alcançado pela incongruência. A "harmonia de dissonâncias"[53] -, decorrente de um desequilíbrio entre imagem e idéia, originada por seu turno de uma compulsão por uma destas, mais do que da descoberta de semelhanças entre ambas - é o caminho mais dileto e mais em acordo com a necessidade de exprimir por meio da poesia a noção de um mundo carente de unidade. Outro aspecto presente em Donne e nos metafísicos em geral é o método de abordagem que toma como ponto de partida o maior em direção ao menor, o central em direção ao periférico, construindo um percurso do passional para o reflexivo. [54] A poesia metafísica contemporânea de Laforgue, e a que veio em seguida, adotou amiúde esse método, que se concilia com o desmantelamento da unidade poética na modernidade e com a crescente deterioração da fronteira entre o poético e o não-poético e, por conseqüência, com a superação das posturas e diretrizes românticas. Mesmo em Donne, o impulso amoroso, passional, é freqüentemente rompido, dando lugar a um anticlímax de argumentação, quando não a um exercício de cinismo bem ao gosto laforgueano. Entende Eliot que a literatura da desilusão é a literatura da imaturidade, e que nesse sentido Dante "é mais um homem do mundo do que Donne".[55] Provavelmente a afirmativa é muito verdadeira em sua última parte, mas não pelo motivo alegado por ele. Por certo, nem todos concordariam com Eliot quando lança a pecha de imaturo sobre o poeta que desprovido de um modelo redutor que iniba as angústias próprias ao espírito de sua época testemunha o esboroamento do mundo circundante, em termos filosóficos, éticos ou morais. "The waste land", do próprio Eliot, é prova de que uma mente poética pode perfeitamente se ocupar do esfacelamento do mundo e do sentimento de desilusão com semelhante constatação sem atestar imaturidade. Usar intensamente os materiais disponíveis é um traço da modernidade, como o próprio Eliot afirmou em certa passagem, [56] e com certeza a perplexidade não é um sentimento que o poeta deva descartar sem certo empobrecimento espiritual. Continuemos. O conceptismo, que prevaleceu no barroco, foi providencial para o desenvolvimento da poesia metafísica do século XVII, mas é necessário não confundir um e outro. No conceptismo, a mente, o intelecto, o racionício debruçam-se sobre a realidade e seus objetos, buscando apreender-lhes a essência. Nessa tarefa os sentidos são relegados a plano secundário e alijados ou ao menos neutralizados, de modo a não corromperem a atividade da lógica e do raciocínio. A poesia metafísica, como já se sabe, funde sentidos e intelecto, para revelar aspectos inesperados ou inalcançados pela mente solitária ou pelos sentidos desavisados. Contudo é inegável que a mente treinada no conceptismo e nos artifícios de sua linguagem concisa e ordenada acaba por adquirir hábitos mentais que a habilitam à poesia metafísica. [57] É o que acontece por exemplo com Marvell e Herbert, ambos por vezes conceptistas, por vezes metafísicos - sendo essa última característica resultante de uma prática mental, de um hábito no exercício de associação de idéias; de um treinamento conceptista, enfim. Os recursos disponibilizados pelo conceptismo favoreceram imensamente o verso de Donne, propiciando, por exemplo, que o poeta alternasse com êxito sua atenção entre a idéia e o objeto; entre o objeto e a idéia por ele sugerida, de maneira densa, surpreendente, mas sem obscurecimento da compreensão, em um processo que é com certeza nuclear no âmbito da poesia metafísica, e ao qual Eliot denominou de "pensamento vagante".[58] É de se reiterar, em acréscimo, que a dinâmica da poesia metafísica em Donne - e em outros - não nos oferece dois fluxos distintos, consecutivos, um de emoções, outro de conceitos; ou, ainda, um de sentimentos, outro de pura verborragia, alternativamente ou em seqüência no verso - cumprindo um desígnio pendularmente retórico. Mais justo e adequado seria pensar em "caleidoscópio de sentimentos";[59] ou em um fluxo unitário em que pensar e sentir estivessem fundidos, sendo o poema um 'objeto' feito dessas intersecções de pensar e sentir, ou de sentir e pensar. A excessiva proximidade dos elementos tradutores do sentir e delatores do pensar favorece outras características do verso metafísico, que são a concentração, a compressão, a demolição de compartimentos e a eliminação de hierarquias. Nessa trilha, humor e seriedade fundem-se também, como faces da mesma moeda, como freqüentemente se pode denunciar em Donne, ou partilham do mesmo momento enunciativo, com em Laforgue. Ao lado da concentração, [60] a ampliação é outra característica da poesia metafísica. Tomando-se por exemplo um conjunto de imagens combinadas, seu efeito final não será a soma dos estímulos intermediários, mas uma derivação; uma ampliação - de tal sorte que se pode constatar que a sugestão terminal, aquela que permanece como um persistente eco, após a fruição do enunciado poético, não se fez notar em nenhuma das imagens apresentadas, isoladamente, mas é, ainda assim, um resultado da matemática poética que as adicionou. Os versos iniciais de um conhecido poema de Donne parecem ser o epítome do que temos falado nas últimas páginas. E, ainda, exemplificam bem um postulado implícito em toda poesia metafísica que é o de que "absolutamente nada seja inefável; e de que a mais rarefeita sensação pode ser exata e diligentemente expressa; [61] inclusive a sugestão da total imobilidade. O mesmo vale para o mundo das idéias, o território do pensamento, uma vez que a poesia metafísica é intelectualizante e não se inibe com desafios e jogos mentais. Onde, qual almofada sobre o leito, Se inchava fértil declive para acamar A inclinada cabeça da violeta, Nós nos sentamos, olhar contra olhar; Nossas mãos firmemente cimentadas No constante bálsamo que delas brotava; Nossos olhares enlaçados, e tecendo Os olhos em um duplo filamento, De modo a enxertar nossas mãos como agora Foi o meio de nos fazer um só, E modelar nos nossos olhos as figuras A nossa única procriação. […] Como sepulcrais estátuais permanecemos O tempo todo, em posição idêntica, E nada dissemos, o dia todo. […] Este êxtase torna incomplexo, (Nós dissemos) e traduz o que amamos, Vemos com isso, que não era sexo O que vemos, não víamos o que se movia: Mas como as muitas almas contêm Uma variedade de coisas, não se sabe o quê, Amor, essa mistura de almas mistura-se de novo, E faz ambas uma só, com esta e aquela. […][62]. Durante o século XIX, com Laforgue, Corbière e inclusive no século XX, com Eliot e Joyce, verifica-se na poesia metafísica uma tendência à onipresença do ego, que parece ser um desdobramento do processo de desintegração do intelecto, [63] que teve início bem antes. Também a reboque da desintegração do intelecto, parece estar uma característica que, já marcante na poesia do século XVII, tende a intensificar-se mais tarde, que é a apropriação no discurso poético de coisas díspares, dissimilares. Em um mundo distinto daquele de Dante - em que o espírito humano alcançou enorme completeza, intensidade, alcance e disparidade -, a dissimilaridade foi um recurso adotado a partir do século XVII para articular uma cadeia de pensamentos disparatados, sobre o novelo estirado do sentir - para assim capturar o trabalho da mente e das emoções em um mundo menos harmônico, desprovido de uma interpretação dominante. [64] Um poema em prosa de Laforgue, parcialmente impresso adiante, registra a presença da dissimilariedade, bem como o processo de desintegração do intelecto laforgueano, ambos procedimentos atinentes ao estilo metafísico. Grande lamento da cidade de Paris Prosa branca Boa gente que me escuta, isto é Paris, Charenton inclusive. Casa fundada em … para alugar. Medalhas em todas as exposições e menções. Arrendamento imortal. Depósito no atacado e no varejo de felicidades sob encomenda. Fornecedores franqueados com um montão de majestade. Casa recomendada. Previnem a queda dos cabelos. Em loterias! Enviadas ao interior. Nada de estação-morta. Assinaturas. Depósitos sem garantia da humanidade, aborrecimentos dos grandes como de praxe e de ocasião. Facilidades de pagamento, mas de dinheiro. Dinheiro, gente boa! E cá se abastece, importação e exportação, através de vinte estações e alfândegas. Que tristes, sob a chuva, os trens de mercadorias! A vós, deuses, comércio de paramentos, mobiliário de igreja, decorados para batismos, o culto fica no terceiro, clientela inefável! Amor, a ti, casas de ouro dos internatos nas quais os cueiros e farrapos farão o papel de doces cartões com monogramas, complementos e enxovais para crianças, somente águas alcalinas reconstituintes, ó clorose! jóias de serralho, falbalás, bondes, espelhos de bolso, canções! E no lado oposto, que fazem aí? Trabalha-se, para que Paris se abasteça… […] Mas a inextirpável elite, de onde? para onde? Casas de branco: pompas volupciais [sic]; [65] funerárias: esplinuosidades [sic], rancores à la carte. […] E a chuva! três esfregões diante de uma clarabóia de mansarda. Um cão ladra para um balão no alto. […] Como as vinte-e-quatro horas passam depressa para a discreta elite!… Mas os gritos públicos recomeçam. Aviso importante! O amortizável declinou, fecha o Panamá. Leilões, peritos. […] Ainda gritos! Único depósito! Ceias pela centésima parte! Máquinas cilíndricas Marinoni! Tudo garantido, tudo por nada! […] Meses, anos, calendários de segunda mão. E o outono se grandenluta [sic] no bosque de Boulogne, o inverno gela os guisados dos pobres nos pratos sem pintura de flores. Maio purga, a canícula sobre a frívola brisa das praias descora as custosas toaletes. Depois, como nós existimos na existência em que se paga à vista, preparam esses senhores corteses Pompas Fúnebres, autópsias e cortejos saudados sob o velho Monotopázio [sic] do sol. E a história prossegue sempre adestrando, rasurando essas Mesas crivadas de lastimosos idem - ó Falência, vá com qualquer! ó Falência, vá com qualquer… [66] Pressente-se acima uma espécie de canto de cisne da palavra poética, ou, por outra, a presença de um cadáver de linguagem autopsiado, já destituído de seus traços anatômicos prováveis, e em que os órgãos internos se encontram desprovidos de suas características básicas. Nesse ambiente de derrocada das fronteiras funcionais do corpo poético, o sujeito de enunciação lírico perde também os contornos e as balizas a que o leitor está habituado. O eu do poema não é mais um jorro vocal brotando de uma mina de energia poética, mas se encontra plasmado a tudo e a nada. Uma algaravia perpassa o poema sem que se saiba com segurança se foi o eu do poema que se manifestou, ou se o poema se tornou um espaço sonoro para registros alheios, como uma praça pública por onde sons escoam simultaneamente, provenientes de diversas origens, inclusive da voz perdida, solitária, do sujeito lírico do poema - poema esse que, por força disso, já não parece mais ser a expressão de um eu poético. No entanto, ainda o é. O eu laforgueano está em todo lugar do poema, contrai-se, dilata-se, alteriza-se, anulase, disfarça-se, conforme o caso, mas está lá. Adota uma aparência de mero condutor das vozes anônimas da realidade pressentida, como também assume a expressão crítica do que testemunha, e poreja sutis indícios de que algo sente para que a palavra exista como sua manifestação; igualmente, é tão impessoal quanto um tipógrafo, ironiza a eloqüência do que se manifesta com alarde, evoca a passagem do tempo, o câmbio das estações, o clima; marca-os com o ferro em brasa de uma voz a que o momento não autoriza alçar à escala da franca dor pessoal. Mas ela está ali, por toda parte, inclusive na quase impossibilidade de identificação do sofrimento individual do sujeito lírico, inclusive quando parece haver silenciado. O poeta metafísico, e Laforgue é um exemplo disso, não deixa de lidar com o que se poderia denominar de sentimentos pessoais (que nada têm a ver com os sentimentos originados na trajetória de vida da pessoa civil do poeta, mas que são aqueles sentimentos expressos no poema, identificados com o sujeito lírico), porém trata-os como se fossem de outrem. Pode-se dizer nesse sentido que o poeta metafísico, quer por via desse expediente, quer pelo concurso febril e determinante do intelecto sobre a sensibilidade, adota como norma a estratégia da despersonalização. No que se refere à temática e ao modo de tratá-la, como se verifica no poema acima, não há limites. Tudo pode ser arrolado como expressão poética - e esta é mais uma característica persistente da poesia metafísica: o alcance, a amplitude de seu domínio sobre a realidade adjacente (ou não) -, e tal desenvolvimento pode ter lugar sem uma razoável preparação, ou evidente seleção e triagem. Os sentidos treinados do poeta metafísico - sobretudo de Laforgue - coletam tudo o que há para ser coletado, operando como um voraz comprador em visita a um bricabraque em que emoções, memória, impressões e registros sonoros de várias fontes são mercadorias igualmente atraentes e necessárias. Um exame do percurso da poesia metafísica depois do século XVII, até o XIX, confirmará um recrudescimento dessa postura acima relatada, resultante que é, também, da crescente desintegração do intelecto. A enunciação metafísica de Laforgue reconhece, além do mais, a absoluta contigüidade e vizinhança de coisas, pensamentos e sentimentos, por mais disparatados (como em um bricabraque); tudo está à mão, porque nada mais - por paradoxal que pareça - é exclusivo, compartimentado. Tudo pode ser utilizado, reutilizado. O brado do cauteleiro intercepta uma reflexão sobre a vida comercial, que intercepta uma reflexão sobre a sociedade, o dinheiro e o homem, a morte e as estações. A crise persistente e inamovível que se estabelece no 'lugar' do poema, como em Laforgue se viu - com a adicional apropriação do prosaico -, como também no âmbito da voz que dita a expressão poética, são os frutos mais febris e generosos dessa dissociação intelectual, no século em que o poeta francês nasceu e morreu. É forçoso neste ponto deixar por instantes a seara da poesia e adentrar o terreno da psicologia e da filosofia, para levarmos esta investigação sobre as raízes menos evidentes do Orpheu a bom termo. É pois o momento de entendermos mais profundamente o sentido do adjetivo empírico, como havíamos prometido páginas atrás. Nove anos antes do falecimento de Laforgue, precisamente no início de 1878, Charles Sanders Peirce escreveu um artigo intitulado "Como tornar claras nossas idéias". Nele, após salientar que nossas crenças são em realidade regras de ação, afirmava que para desenvolver o significado de um pensamento, necessitamos apenas determinar que conduta ele está apto a provocar: este é seu único significado. E o fato tangível na raiz de todas as nossas distinções de pensamento é que não existe nenhuma que seja tão sutil ao ponto de não resultar em alguma coisa que não seja senão uma diferença possível de prática. Para atingir uma clareza perfeita em nossos pensamentos em relação a um objeto, pois precisamos apenas considerar quais os efeitos cabíveis de natureza prática que o objeto pode envolver - que sensações devemos esperar daí, que reações devemos preparar. Nossa concepção desses efeitos, seja imediata, seja remota, é, então, para nós, o todo de nossa concepção do objeto, na medida em que essa concepção tenha afinal uma significação positiva. Esse é o princípio de Peirce, o princípio do pragma- tismo. [67] O princípio de Peirce permaneceu como que esquecido por mais de 20 anos, até que William James o expôs, em uma conferência sobre religião, na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), em 1898. Daí em diante, o pragmatismo passou a ser amplamente discutido. "Não há nada de novo absolutamente no método pragmático", diz Peirce. Sócrates, Aristóteles, Locke, Berkeley e Hume "fizeram contribuições momentâneas à verdade por seu intermédio. Shadworth Hodgson insiste em que as realidades são somente o que sabemos delas" (em itálico no original). [68] James adverte contudo que esses precursores do pragmatismo fizeram uso desse método de modo parcelar, fragmentário - e que sua aplicação apenas teve lugar mais tarde, no século XX. De acordo com o pragmatismo de James, palavras como "Deus", "matéria", "Razão" não podem ser tomadas como definitivas. "Tem-se que extrair de cada uma delas "seu valor de compra prático, pô-las a trabalhar dentro da corrente de nossa experiência" (itálicos nossos). [69] Nesse sentido, o método preconizado pelo filósofo é mais um programa de trabalho do que uma solução e não propõe ou defende dogmas ou doutrinas. Concorda, contudo, com o nominalismo, com o utilitarismo e com o positivismo (no que este tem de recusa a soluções verbais e a abstrações metafísicas). Em outras palavras, o método pragmático supõe uma determinada "atitude de orientação", que é a de "olhar além das primeiras coisas, dos princípios, das 'categorias', das supostas necessidades; e de procurar pelas últimas coisas, frutos, conseqüências, fatos" (em itálico no original). [70] Como defenderam Schiller e Dewey, a verdade em nossas idéias significa a mesma coisa que em ciência. Significa que as idéias, acrescenta James, "tornam-se verdadeiras na medida em que nos ajudam a manter relações satisfatórias com outras partes de nossa experiência" (itálico nosso). [71] Assim, uma dada opinião nova - para certo indivíduo - é verdadeira na proporção em que satisfaz seu desejo no sentido de assimilar essa nova experiência às suas crenças em estoque […]. A idéia nova que é mais verdadeira é a que perfaz de modo mais feliz sua função de satisfazer nossa dupla urgência. Faz-se verdadeira, classificase como verdadeira pela maneira como opera; enxerta-se, então, no velho corpo da verdade, que se desenvolve. [72] Para Dewey e Schiller ser verdadeiro quer dizer cumprir essa função de união de partes prévias da experiência com partes mais novas. [73] Acolhendo essas concepções, James observa que "a verdade para nós [pragmatistas] é simplesmente um nome coletivo para processos de verificação" (itálicos nossos). [74] Entende James, também, que a verdade é uma propriedade de algumas de nossas idéias. Significa seu acordo, como a falsidade significa seu desacordo. Assim também entende o filósofo como idéias verdadeiras aquelas que assimilamos, corroboramos e verificamos - e falsas aquelas em que isso não se dá. [75] Em todas as instâncias o pragmatista está atrelado aos fatos e coisas concretas, o que não o impede de harmonizar os processos empíricos do pensamento com os reclamos da religião. James observa: "alguma espécie de deidade imanente ou panteísta operando nas coisas, de preferência a operar por sobre elas, é, de qualquer modo, a espécie recomendada para a nossa imaginação contemporânea" (o segundo itálico é nosso). [77] E isto é fácil de explicar: o pragmatista, amante dos fatos, rejeita a afirmação do Espírito Absoluto (que serve como um substituto para Deus) como sendo a pressuposição racional de todas as particularidades de fato, quaisquer que possam ser elas; entende o pragmatista, e não poderia ser de outra forma, que tal pressuposição é uma afirmação de indiferença para com os particulares do mundo. Ainda: o pragmatismo não alimenta preconceitos contra a teologia desde que suas idéias tenham algum valor para a vida concreta. E "o quanto serão verdadeiras dependerá inteiramente de suas relações com as demais verdades, que têm, também, de ser reconhecidas" (em itálico no original). [77] De outra parte, o pragmatismo não faz objeções à abstração, desde que esta se encaminhe na direção dos particulares, produzindo conclusões e extraindo verdades através disso. Como afirmou James, "o pragmatismo está disposto a tomar tudo […] e a contar com as experiências mais pessoais", levando em conta "as experiências místicas, se tiverem conseqüências práticas". Assim, admitirá um Deus que habite o âmago do fato privado, se entender que esse é um lugar provável para encontrar a divindade. Em suma, o pragmatismo "não tem quaisquer preconceitos, quaisquer dogmas obstrutivos […]. É completamente maleável. Acolherá qualquer hipótese, considerará qualquer evidência".[78] Os conceitos exarados por William James acerca do método pragmático levaram-no ao desenvolvimento de uma outra doutrina filosófica, a que deu nome de empirismo radical. No prefácio de O significado da verdade, James afirmou: o estabelecimento da teoria pragmática da verdade é um passo de primeira importância no sentido de fazer o empirismo radical prevalecer. O empirismo radical consiste primeiro em um postulado, a seguir em um enunciado de fato e, finalmente, numa conclusão generalizada. O postulado é que as únicas coisas que são questionáveis entre filósofos são coisas definíveis em termos da experiência […] O enunciado de fato é que relações conjuntivas, assim como disjuntivas, entre coisas, são simplesmente matérias da experiência direta particular, nem mais nem menos, do que as próprias coisas o são. A conclusão generalizada é que, portanto, as partes da experiência são relacionadas coerentemente pelas relações que são também partes da experiência. [79] O racionalismo entende que nossa experiência é disjuntiva, descontínua, e que uma ação unificadora superior atua sobre tudo para que dessa forma o mundo exista. Confiam, ademais, os racionalistas, em que a relação entre um objeto e a idéia que busca apreendê-lo se estabelece fora da experiência temporal possível. No idealismo essa ação é desempenhada por uma espécie de testemunha absoluta, que relaciona as coisas entre si, lançando mão de categorias. Para o pragmatista, o universo dispensa a existência de uma sustentação transempírica; ao contrário, possui em si uma estrutura contínua e concatenada. A verdade de uma idéia significa tão-somente suas operações, não o objeto da idéia, ou algo em seu interior impossível de ser descrito. James, também psicólogo, realizou um estudo da mente, no intuito de definir a consciência, o pensamento e seus atributos, bem como o papel e a importância das sensações. A consciência, desde o dia em que nascemos, é de uma abundante multiplicidade de objetos e relações, e o que chamamos sensações simples são os resultados da atenção discriminativa, elevada freqüentemente a um grau muito alto".[80] Comumente existe o entendimento, em psicologia, de que as sensações são os fatos mentais mais simples do ser humano. William James rebate essa tese, que gera por sua vez uma outra atitude equivocada, que é a de que por entender as sensações dessa forma, a psicologia acaba por considerá-las em primeiro lugar, ao invés de atentar para o pensamento. Pensamento, para James, é toda forma de consciência, qualquer que seja ela. O filósofo e psicólogo americano aponta as seguintes características do pensamento: todo pensamento tende a ser parte de uma consciência pessoal (onde estão fundados os estados de consciência com os quais lidamos), em cujo interior esse se encontra sempre mudando, já que é sensivelmente contínuo. [81] O pensamento, ainda, lida sempre com objetos que são independentes de si próprio, procedendo a escolhas e exclusões de partes desses objetos, também continuamente. [82] Os únicos estados de consciência lidados por nós estão fundados nas consciências pessoais, nas mentes, nos egos, nos sujeitos (eu e você) particulares concretos. Nesses termos, o ego pessoal, antes que o pensamento, poderia ser tratado como o dado imediato em psicologia. O fato consciente universal não é 'sentimentos e pensamentos existem', mas 'eu penso' e 'eu sinto'. [83] Em estados anestésicos profundos, ou sob o estado de hipnose, foram detectados sentimentos e pensamentos ocultos; estes, fazem parte de egos pessoais secundários. Via de regra, esse egos, também freqüentemente chamados de segunda personalidade, formam unidades conscientes, têm memórias contínuas e sua expressão tende para a personalidade dominante; e, via de regra, também, esses egos secundários são anormais e resultam, como entende Janet, de uma partição do ego completo. [84] Certas respostas a estímulos, em catalépticos e histéricos, por exemplo, que eram no passado apontadas como meros reflexos fisiológicos, são na verdade escoltadas por sentimentos. Janet admite, ainda, que até mesmo pensamentos estúpidos tendem a desenvolver memória, [85] de tal sorte que todo pensamento, qualquer que seja o estado em que ele é gerado, propende a assumir a forma de consciência pessoal. Assim também, as expressões rudimentares, oriundas de transe, por exemplo, são o trabalho de uma parcela inferior da mente natural do sujeito, posta fora de controle. [86] James denomina as sensações de estados de consciência duradouros de objetos simples, se intensos forem; imagens, se forem fracos; se os estados de consciência duradouros forem de objetos complexos, chama-os de 'perceptos', quando intensos; 'conceitos' ou 'pensamentos', quando fracos. "Para as consciências rápidas temos somente aqueles nomes de 'estados transitivos' ou 'sentimentos de relações'".[87] Os estados cerebrais não morrem instantaneamente, como de há muito se sabe. Uma sucessão de estados cerebrais é modificada pelo estado inercial anterior, alterando seu resultado. Se uma sucessão cerebral a foi excitada, e em seguida b e depois c, a consciência total presente não será apenas uma resultante de c, como também das vibrações de a sobre b e de b sobre c. Em outras palavras teremos uma resultante que se exprimirá matematicamente pelo processo a exponenciado pelo processo b, exponenciado, por seu turno, pelo processo c. Todas as imagens mentais que nos ocorrem estão embebidas em um fluxo contínuo, em uma espécie de "água livre da consciência", no dizer de James. [88] O valor de tais imagens está contido numa espécie de auréola que açambarca e acompanha a imagem, fundindo-se a ela como se a ela pertencesse. A despeito disso, a imagem escoltada nessa água livre da consciência (que por seu turno flui e reflui no curso mental), é ainda a imagem do mesmo objeto, agora acompanhada do sentido de suas relações, próximas ou remotas, do eco evanescente de sua origem e do sentido de uma espécie de plenitude para a qual ela está sendo conduzida em sua aparição. [89] A idéia de algo, ou o objeto total, em nossa mente, como entende James, está sempre presente onde as palavras que traduzem, qualificam ou lembram esse objeto total são assimiladas e entendidas, "não somente antes e depois que a frase foi falada, mas também enquanto cada palavra separada é pronunciada".[90] A consciência da idéia e das palavras (que as traduzem)" são consubstanciais. Elas são feitas [idéias e palavras] do mesmo 'estofo da mente' e formam um fluxo inquebrável".[91] Um epíteto jameseano resume seu entendimento da mente humana: "a mente é em cada estágio um teatro de possibilidades simultâneas" (itálicos nossos). [92] O exame do teor desse simultaneísmo, bem como a extensão das relações conjuntivas, sempre presentes, e sobre as quais já se tratou ligeiramente, leva-nos de imediato ao empirismo radical de James. Ao contrário do racionalismo, que enfatiza os universais, construindo-os antes das partes em sua ordem lógica, o empirismo "fundamenta a ênfase explanatória na parte, no elemento, no indivíduo, e trata o todo como uma coleção e o universal como uma abstração".[93] A filosofia de James principia, como ele assevera, pelas partes, tratando o todo como um ser de segunda ordem. Sua filosofia é em essência "uma filosofia de mosaicos, uma filosofia de fatos plurais", e que não admite em sua construção qualquer elemento que não possa ser diretamente experienciado. [94] Acresça-se a isso o fato de que enquanto o empirismo comum sempre demonstrou uma tendência a não levar em conta as conexões das coisas e a insistir sobretudo nas disjunções, o empirismo radical de James aceita a conjunção e a separação, "cada qual com seu valor evidente. […] [fazendo] justiça completa às relações conjuntivas", sem tratá-las como os racionalistas o fazem, ou seja, como se pertencessem a uma ordem distinta de verdade. [95] Um dos pontos centrais do empirismo radical é o seguinte: se admitimos que exista uma única matériaprima no mundo, um único 'estofo', do qual tudo é composto, e se o denominamos 'experiência pura', [96] "o conhecer pode ser explicado como uma espécie particular de relação mútua entre estofos, relação esta em que partes da experiência pura podem entrar." Faz parte da experiência pura a própria relação mencionada, em que um de seus termos é o sujeito, o portador de conhecimento. [97] Para os neokantianos, a experiência exerce o papel de testemunha dos acontecimentos temporais, mas não toma parte neles, visto que é desprovida de tempo. "Ela é […] o correlativo lógico de 'conteúdo' em uma Experiência, cuja peculiaridade é que o fato vem à luz nela, que a conscientização do conteúdo toma lugar" (em itálico no original). Para os neokantianos a consciência é totalmente impessoal. "O 'eu' e suas atividades pertencem ao conteúdo"; admitem eles "a consciência como uma necessidade 'epistemológica', mesmo que não tivéssemos evidência direta de ela estar lá". [98] No entender de Paul Natorp, a consciência é um elemento ou momento, ou ainda um fator de uma experiência de constituição interna dualista em sua essência, da qual ao se abstrair o conteúdo, ela ficará revelada. [99] Em outras palavras, admite Natorp que por intermédio de uma subtração mental se possa separar os dois fatores envolvidos, conteúdo e consciência, distinguindo-os suficientemente para saber que são dois. James refuta essa posição. A experiência, acredito, não tem tal duplicidade interna; e a separação dela em conteúdo e consciência não se efetua por meio de subtração mas por meio de adição - a adição a uma parte concreta dada da experiência de outros conjuntos de experiências, em conexão com os quais rigorosamente seu uso ou função pode ser de dois tipos diferentes (em itálico no original). [100] Nartop, para defender seu ponto de vista dualista, utilizara um paralelismo, tomando como exemplo a constituição da tinta: também ela possui uma constituição dual, envolvendo uma massa de contéudo, na forma de um pigmento em suspensão, e um mênstruo, que pode ser óleo ou um espessante. O mênstruo pode ser obtido simplesmente permitindo-se que o pigmento se deposite; este, por seu turno, pode ser recuperado depurando a substância espessante, ou o óleo. James fez também uso da tinta, em outro paralelismo, para ilustrar sua rejeição à idéia de Nartop e demonstrar que a dualidade da experiência ocorre por adição, não por subtração, como queria Nartop. Num pote numa loja de tintas, juntamente com outras tintas, ela serve em sua totalidade como algo vendável. Espalhada numa tela, com outras tintas ao seu redor, ela representa, ao contrário, um traço numa pintura e desempenha uma função espiritual. Dessa mesma maneira, uma porção não separada da experiência, tomada num contexto de associados, representa o papel do que conhece, de um estado da mente, da 'consciência', enquanto num contexto diferente a mesma porção não separada da experiência representa a parte de uma coisa conhecida, de um 'conteúdo' objetivo. Numa palavra, num grupo figura como um pensamento, em outro grupo como uma coisa. E, desde que ela possa figurar em ambos os grupos simultaneamente, temos todo o direito de falar dela como algo subjetivo e objetivo ao mesmo tempo (itálicos nossos). [101] Em outras palavras no ponto em que a experiência se efetiva interseccionam-se segmentos de contéudo (objetivo) e de consciência (subjetiva). Nesse ponto hipotético o pensamento, que é subjetividade, recebe o influxo da objetividade. Ou vice-versa. O influxo da objetividade se manifesta quando 'a coisa' surge, e esta recebe o sopro particular, especial, que lhe confere subjetividade. Uma paisagem, por exemplo, pode ser apreendida com a frieza descritiva de um naturista que a captou pela primeira vez; mas pode ser capturada como uma forte evocação de uma vivência passada. A experiência é a intersecção desses vertedouros díspares. A experiência que tem lugar quando um observador depara um objeto de seu interesse pode pertencer a vários pares de associações oriundas cada uma do cruzamento de um segmento de conteúdo com outro, de consciência, o que se torna evidente quando nos damos conta de quantas formas diferentes experienciamos na presença de algo que nos é familiar, como uma surrada poltrona, ou uma sala de jantar em que estivemos inúmeras vezes ao longo de nossa vida. Em ambos os casos, poltrona e sala de jantar estão ligadas tanto à biografia pessoal do observador, como à realidade física exterior, de cunho funcional ou cultural, entre outros. E isso é válido tanto para os perceptos (do qual já falamos, e que, não nos custa repetir, são estados de consciência duradouros intensos de objetos complexos), como para os conceitos (estados de consciência duradouros fracos de objetos complexos). Vejamos o que diz James: se tomamos […] lembranças ou fantasias conceituais, elas também são, em sua primeira intenção, simples partes da experiência pura, e, enquanto tais, são simples aquilos que atuam num contexto como objetos e em outro contexto figuram como estados mentais. Tomando-as em sua primeira intenção, isto é, ignorando sua relação com possíveis experiências perceptuais com as quais elas podem estar ligadas, às quais podem conduzir e nas quais podem terminar, e que, então, elas possam supostamente 'representar', confinamos o problema a um mundo meramente 'pensado' e não diretamente sentido ou percebido. Este mundo, assim como o mundo dos perceptos, nos aparece, em primeiro lugar, como um caos de experiências, mas se alinha em ordem assim que é traçado. Verificamos que qualquer parte dele que possamos isolar como um exemplo está ligada com distintos grupos de associados, assim como nossas experiências perceptuais o estão, que estes associados se ligam a ele por diferentes relações e que um forma a história interior da pessoa, enquanto o outro atua como um mundo 'objetivo' impessoal, seja espacial e temporal, seja meramente lógico ou matemático ou, de outra forma, 'ideal'. [102] Uma advertência talvez desnecessária, mas útil: "o caráter de não-eu" das nossas recordações individuais não implica em que os objetos externos sobre os quais cada um de nós tem consciência objetivem-se da mesma maneira para todo indivíduo, haja vista que os objetos comuns, para os alucinados, são desprovidos de validade geral. "Não existisse o mundo perceptual para servir como seu 'redutivo' (…)nosso mundo de pensamento seria o único mundo, e gozaria realidade completa em nossa crença." [103] As conjeturas de James acabam por desembocar naquilo que ele denominou de 'minha tese', qual seja, a de que a peculiaridade de nossas experiências (em que as qualidades conscientes são invocadas comumente para explicá-la) é melhor discernida por intermédio das relações entre experiências, ou seja, pela relação de uma dada experiência com as demais experiências havidas. Não há, entretanto, nas palavras do filósofo, 'um estofo geral' do qual a experiência possa ser constituída. De fato, "existem tantos estofos quantas 'naturezas' nas coisas experienciadas." [104] Se se indaga do que a experiência pura se constitui, dir-se-á que "é constituída de aquilo, exatamente do que parece", ou seja, de uma infinidade de elementos, como peso, uniformidade, coloração, espaço, ou de qualquer outra coisa (em itálico no original). [105] Um dos principais contributos de William James é seu exame das relações conjuntivas e o seu posicionamento na dinâmica da experiência humana. O significado das relações conjuntivas, sobre as quais tanto se falou aqui, é corrente, de domínio público. Relações conjuntivas são, como sabemos, aquelas designadas por palavras tais como 'perto de', 'com', 'próximo a', e muitas outras. Nossa experiência nos adverte, também, que as relações (no mundo da experiência) são de graus diversos de intimidade. A mais exterior é a que a proximidade de seus termos não leva a ulteriores conseqüências; é a relação de 'estar com'. Seguem [como observa James,] as relações de simultaneidade e intervalo de tempo, depois adjacência de espaço e distância. Depois destas, acarretando a possibilidade de muitas interferências, as relações de similitude e diferença. A seguir, conectando termos em séries envolvendo mudança, tendência, resistência e a ordem causal em geral, as relações de atividade. Finalmente, as relações experienciadas entre termos que formam estados da mente e que estão imediatamente conscientes de uma continuar a outra. A organização do Eu como um sistema de memórias, propósitos, esforços, satisfações ou desapontamentos é incidental para aquela que é a mais íntima de todas as relações, cujos termos parecem, em muitos casos, […] cobrir mutuamente seu ser. […] [Mas a] relação conjuntiva que mais dificuldade deu à filosofia é a transição consciente […] pela qual uma experiência passa a outra quando ambas pertencem ao mesmo eu. Acerca dos fatos não existe problema algum. Minhas experiências e suas experiências estão umas 'com' as outras de várias maneiras exteriores, mas minhas experiências passam para outras experiências minhas e as suas experiências passam para outras experiências suas de uma maneira em que as suas e as minhas nunca passam uma para a outra. Em cada uma de nossas histórias, temas e objetos pessoais, interesses e propósitos são contínuos ou podem ser contínuos. Histórias pessoais são processos de mudança no tempo e a mudança em si mesma é uma das coisas imediatamente experienciadas. 'Mudança', neste caso, significa transição contínua oposta à transição descontínua. Mas a transição contínua é uma espécie de relação conjuntiva; e ser empirista radical significa ater-se decididamente a essa relação conjuntiva […], este é o ponto estratégico [106] (em itálico no original). Embora Eliot tenha dito, em seu ensaio sobre Bradley, que uma das grandes fraquezas do pragmatismo é a de que este acaba sendo de nenhuma utilidade, [107] declarou dois anos depois que a obra mais importante de James viera a lume, [108] em conferência promovida pela Harvard Philosophical Society, que a borrasca do pragmatismo estava tornando o homem a medida de todas as coisas. [109] Com o passar do tempo, e sobretudo em sua sistemática prospecção sobre o cíclico reaparecimento da poesia metafísica ao longo das épocas, bem como no desenvolvimento de sua tese sobre a desintegração do intelecto, que correu sempre em paralelo, e intimamente ligada aos ciclos da poesia metafísica, parece-nos que Eliot acolheu a filosofia de James de maneira menos defensiva. [110] E existe ao menos uma razão para que isso tenha acontecido. É que o conhecimento das teses centrais do empirismo radical refinou muito provavelmente a análise de Eliot acerca da poesia metafísica de todos os tempos.Tal hipótese justifica-se haja vista que a matéria expressiva que a lírica da segunda revela (e aqui incluem-se seu método de construção, o desenvolvimento estrutural-temático, a engenhosidade empregada, o tratamento formal e conteudístico, etc.) poderia, sem aparente dificuldade de adequação - o que não deixa empolgar a curiosidade -, ser uma conseqüência natural do desenvolvimento das primeiras, independentemente da cronologia dos eventos. Se tal hipótese carece de suficiente lastro, quando se examina a poesia metafísica do trecento, ganha contudo consistência quando, partindo de Donne, nos afastamos de seu tempo em direção ao presente. Com efeito, o pragmatismo e o empirismo radical de James parecem ter sido construídos a caráter para subsidiar a poesia metafísica a partir do século XVII. Em "A nova poesia portuguesa no seu aspecto psicológico", Pessoa teceu comentários acerca da poesia dos poetas correligionários de Pascoais, encontrando nela características muito especiais. Chegou mesmo a entender a religiosidade expressa nessa poesia como "uma religiosidade nova, que não se parece com a de nenhuma outra poesia".[111] Seu arcabouço espiritual deriva de uma ideação vaga, sutil e complexa. A ideação vaga é a que tem o que é vago ou indefinido por seu objeto; sutil é a ideação que traduz uma sensação simples por outra sensação que a intensifica sem a alargar; complexa é a ideação "que traduz uma impressão ou sensação simples por uma expressão que a complica acrescentando-lhe um elemento explicativo" que lhe dá novo sentido. A expressão sutil intensifica, torna mais nítido; a expressão completa dilata, torna maior. A ideação sutil envolve ou uma direta intelectualização de uma idéia ou uma direta emocionalização da emoção: daí o ficarem mais nítidas, a idéia por mais idéia, a emoção por mais emoção. A ideação complexa supõe sempre ou uma intelectualização de uma emoção, ou uma emocionalização de uma idéia: é desta heterogeneidade que a complexidade lhe vem (em itálico no original). [112] A nova poesia portuguesa, a par o fato de se ocupar com o espírito, com a alma, é também uma poesia ocupada com a natureza, nela encontrando inspiração. "Por isso […] que ela é também uma poesia objetiva".[113] Em outras palavras, é objetiva por força de apresentar três características: nitidez ("revelada na forma ideativa do epigrama"), plasticidade ("fixação expressiva do visto ou ouvido com exterior") - como por exemplo a poesia grega e romana, a de Hugo, e a de Cesário Verde; a terceira característica dessa poesia é a imaginação (no "sentido de pensar e sentir por imagens"), gerando "rapidez" e "deslumbramento". Adverte, no entanto, que esse deslumbramento, em alto grau, quando não surge consorciado com "elemento de pura espiritualidade" acaba deixando o que considera ser "uma inquietante impressão de grandeza oca". Como exemplo disso, cita Hugo - que a alguns, em vista disso, dá "uma impressão de máxima grandeza e a outros de uma oca grandiosidade". Na poesia portuguesa esse grau máximo de objetividade ainda não teve lugar; "prova-o ao ouvido o seu movimento geralmente lento, quando a imaginação imprime sempre ao verso uma rapidez inignorável [sic]". [114] É famosa a seqüência em que Pessoa vislumbra em futuro próximo o surgimento do grande poeta, o SuperCamões, que irá concretizar uma poesia com o "máximo equilíbrio da subjetividade e da objetividade".[115] Será uma poesia metafísica, imaginativa, diz ele, "uma poesia subjetiva e objetiva, poesia de alma e de natureza", voltada para a manutenção de uma aparente contradição, qual seja, a espiritualização da matéria, lado a lado com a materialização do espírito. [116] Não seria oportuno rever alguns conceitos, aqui assinalados, acerca da poesia denominada metafísica? O engenho metafísico é mais intelectual que verbal, e deriva de uma mistura peculiar de paixão, pensamento, sensibilidade e raciocínio (ressalta Grierson). Busca aprofundar e alargar o campo da experiência, tratando temas como o amor de maneira pouco convencional (sobretudo se examinamos a produção de Donne e da maioria dos poetas elizabetanos), em que a fúria e a fascinação andam juntas; a poesia metafísica serve-se de ritmos capazes de expressar a complexidade e completitude da mente, os fluxos e refluxos do humor (como em Donne) a instabilidade, quando não a desarmonia da vida; aproxima freqüentemente o coloquial e prosaico ao poético, injetando nestes elementos que escapam à convenção; faz uso de expedientes sonoros como o eco, agregando pensamentos e coisas aparentemente remotas, distantes. A emoção, mais do que as idéias ou pensamentos, encontra-se na gênese da poesia metafísica, que não obstante explore as paixões, lida com argumentos muitas vezes paradoxais, e busca uma imagética cultivada. Não nos enganemos, contudo; a sensibilidade do poeta metafísico é perpassada pela ação do intelecto analítico. A compreensão do amor, e o poema de Cavalcanti, visto acima, é um belo exemplo, se faz por meio dos sentidos, mas com o concurso decisivo do intelecto, da razão sensível, que não despreza os sentidos, antes os utiliza como bússola a guiar provocativamente o raciocínio pelos seus meandros, com elegância, equilíbrio e uma imaginação treinada (Eliot). A principal característica da poesia metafísica é a de buscar sempre, ou na maioria das vezes, elevar o sentimento a regiões comumente visitadas apenas por intermédio do pensamento abstrato. Em outros termos, logra transportar o pensamento para a esfera do sentir, fundindo-os (sentimento e pensamento) de modo peculiar, já que não permanecem indistintos. Contudo, a dinâmica da poesia metafísica não oferece dois fluxos diversos, um de emoções, outro de conceitos. Antes, um fluxo unitário em que pensar e sentir estão, como se disse, fundidos, e onde o poema é um objeto construído a partir das intersecções de pensar e sentir, ou de sentir e pensar. Desse vezo derivam semelhanças inesperadas, nascidas da reciprocidade de estímulos entre a esfera da emoção e a do intelecto. Deriva também uma imagética intensificada e se altera o fluxo natural da idéia, de modo a extrair, do pensamento assim lentamente desdobrado, o mínimo de emoção existente; como se pensamento e emoção fossem, simultaneamente, agentes indutores de um processo químico. Por essa via, logra a poesia metafísica conferir ao pensamento o máximo de valor poético e dramático, sobretudo ao explorar o desequilíbrio entre imagem e idéia, no encalço de recuperar a noção de um mundo carente de unidade, como tem sido sua sina desde o século XVII. O método metafísico toma como ponto de partida, como vimos, o maior em direção ao menor, o central na direção do que é periférico, construindo um percurso do passional ao reflexivo, argumentativo. O lastro conceptista da poesia metafísica é o que permite tal desenvolvimento (que é chamado de pensamento vagante). A proximidade dos elementos que traduzem o sentir e o pensar, na poesia metafísica, favorecerá a concentração, a vizinhança de temperamentos e posturas distintas (como o humor, a ironia e a seriedade) e a ampliação do efeito imagético do poema. No verso metafísico a mais rarefeita sensação pode ser exata e diligentemente expressa. A contigüidade de tais elementos indicados acima favorece a ruptura da hierarquia entre os componentes funcionais do poema, dando chance ao surgimento de dissociações intelectuais, e oportunidade para a manifestação de um ego onipresente (Eliot, Laforgue), e, ainda, permitindo associações livres, de coisas por conseguinte díspares (em vista da adoção da similaridade), além da fabricação de neologismos, de mots-valise (Laforgue) - que operam como um alerta que acusa o desmoronamento das fronteiras funcionais do corpo poético. Ao lado disso tudo, a despersonalização (como estratégia poética), e o indiciamento da situação de crise com respeito ao 'lugar' do poema. Resta alguma dúvida de que as características que Pessoa atribuiu à poesia metafísica praticada pelos colaboradores de A Águia pouco diferem dos traços imputados aos poetas metafísicos ao longo do tempo, embora o artigo pessoano não tivesse, a bem da verdade, como meta, destrinçar o verso metafísico, mas, ao contrário, rebatizá-lo com o nome de panteísmo transcendental para assim desviar as suspeitas que recairiam sobre ele próprio, acusando em momento talvez inoportuno as influências metafísicas em sua obra? Emocionalização da idéia, intelectualização da emoção, ideação vaga, complexidade, etc. são atributos fundamentais da poesia metafísica. Estão presentes em maior ou menor grau em Donne, Crashaw, Pascoais, Baudelaire, Laforque. Adotar a sensibilidade como pedra de toque da arte, tornando-a instrumento da inteligência, é um dos pontos fulcrais da poesia metafísica. Em "Apontamentos para uma estética não-aristotélica", o poeta português (que atribui o texto a seu heterônimo Álvaro de Campos) afirma que a sensibilidade é toda a vida da arte; que toda a arte parte da sensibilidade e nela se baseia; que a arte subordina tudo à sua sensibilidade, converte tudo em substância da sensibilidade, para assim, tornando a sua sensibilidade abstrata como a inteligência (sem deixar de ser sensibilidade), emissora como a vontade (sem que seja por isso vontade), se tornar um foco emissor abstrato sensível […][117] (em itálico no original). Em outra passagem, defende uma fundamental postura metafísica, a de que a arte deve partir do geral (maior) na direção do particular (menor); "é o geral que deve ser particularizado, o humano que se deve pessoalizar, o 'exterior' que se deve tornar 'interior'".[118] Isto sem falar nos inúmeros apontamentos sobre arte moderna, orfismo, sensacionismo, etc. Sabe-se que na altura em que Pessoa escreveu suas coloborações para a revista A Águia, não poderia ter manuseado a antologia de Herbert Grierson sobre a poesia metafísica inglesa do século XVII, simplesmente porque a referida coletânea, já mencionada, veio a lume nove anos depois; por motivo idêntico, não teria lido o último volume da obra Minor poets of the Caroline Period, de George Saintsbury, que só saiu em 1921, mas provavelmente tinha conhecimento de que Johnson referira-se no Lives of the poets [119] a alguns nomes da escola de Donne de maneira muito peculiar - e, mais ainda, tivera Pessoa contato direto, provavelmente já em seus anos de liceu em Durban, com essa matriz poética que coincidentemente foi também decisiva leitura para T. S. Eliot, como este, aliás, em diversos momentos - e diferentemente do poeta português -, reconheceu publicamente. [120] Será possível considerar a hipótese de que a menção, feita por Pessoa, da existência de uma lírica com as características por ele apontadas (e que são, inegavelmente, de ordem metafísica) nos versos de Pascoais, Beirão, Junqueiro e Cortesão, depois do que acabamos de analisar, nada tenha a ver com a estética de poetas como Donne, Crashaw, Marvell, Cowley, Aurelian Townshend e Edward Benlowes? Certo que não. Se por um lado é também forçoso concordar que os poetas portugueses mencionados por Pessoa de fato se constituem na primeira geração de poetas metafísicos de Portugal (e esta é mais uma contribuição pessoana, embora velada), o que não exclui, logo se verá, a possibilidade de encontrarmos um solitário poeta português metafísico de outra geração, anterior, é inegável que ao anunciar a chegada vindoura de um Super-Camões, que iria com grande imaginação pensar e sentir por imagens, conferindo à poesia daquele país um grau de objetividade jamais alcançado por ela, aprimorando e completando aquele trabalho encetado por Pascoais, Cortesão, Junqueiro e Beirão, Fernando Pessoa não apenas deixou claro para a posteridade que o lugar do Super-Camões seria seu (e foi), como também se autodenominou metafísico sem dizê-lo. Se o leitor quiser, antes de prosseguirmos, realizar algumas investigações adicionais por conta própria, nessa linha tenuemente tracejada por Fernando Pessoa, examine o ensaio "The metaphysical poets",[121] ou ainda este outro, "Andrew Marvell".[122] Em seguida, proceda ao exame de "Elegia do amor" de Pascoais, ou de "O sonho", de Beirão, seguindo a trela estirada pelo poeta português; evidentemente não deve deixar de reler seus artigos publicados nA Águia. Desemboque imediatamente a seguir no interseccionismo pessoano e tome por exemplo os versos do primeiro poema de "Chuva oblíqua". Volte ao século XVII e leia, digamos, "Twicknam Garden", de Donne, ou "On a drop of dew", de Marvell. Depois disso, o leitor poderá concordar com Pessoa que a raiz da estesia do transcendentalismo panteísta - e em grande parte a que assiduamente subsidiou certa vertente órfica da obra poética pessoana - alimenta-se da seiva dos metafísicos, e, tanto quanto nós, ficará intrigado pelo fato de Fernando Pessoa jamais ter exposto à luz do dia sua grande fonte de inspiração. Ao contrário, tem-se a impressão de que planeou ocultá-la. Argumentará o leitor que isso não é de todo verdade, que não há ocultamento algum, posto que a influência da poesia inglesa em Pessoa é evidente e indiscutível. Ele foi educado sob os auspícios do mundo colonial britânico; seu primeiro poema foi escrito em inglês e suas últimas palavras que já sem fala, no leito de morte, transpôs para o papel, foram estas: "I know not what tomorrow will bring". Ademais, Pessoa produziu vasta obra em língua inglesa. Os "35 sonnets" foram congeminados em 1913 ou 1912, e publicados em 1918. "Antinous", de 1915, "Inscriptions" (cuja fatura é de 1920) e "Epithalamium", de 1913, compõem respectivamente, English poems I, II e III - e prestam notável tributo àquele idioma; e em 1920, publicou o poema "Meantime" na prestigiosa revista inglesa The Athenaeum, no número que veio a lume a 30 de janeiro daquele ano. Outro argumento sobre a franqueza pessoana quando se trata de expor seu profundo débito para com a cultura inglesa é o fato de Fernando Pessoa, em sua carreira literária, jamais haver desistido de se apresentar como poeta inglês, vindo a publicar, em Portugal, Na Contemporânea de março de 1923, em seu número 9, o poema "Spell". "Antinous", acrescentará o leitor, não apenas é escrito em inglês como amolda-se ao esteticismo britânico, a despeito de conservar certa dicção da poesia romântica inglesa, como assevera Jorge de Sena. [123] Se não se deve descartar o fato de que em Portugal poemas longos como esse não eram novidade, haja vista Junqueiro, Gomes Leal, Eugênio de Castro e Pascoaes, é inegável que a tradição inglesa oferecia "uma massa triunfal de poemas longos da mais vária espécie"[124] que o atraiu para submeter seu estro à prova. Sabe-se que o epitalâmio, de origem grega, é uma canção nupcial, como Dionísio de Halicarnasso registra em sua Retórica. Os latinos fizeram uso dele, adaptandoo à tradição das festas fesceninas (em que à época das colheitas, homens adolescentes cantavam versos obscenos). Tal costume teve lugar também em festas matrimoniais e entre os romanos (quando então os versos fesceninos vieram a corresponder ao que na Grécia se denominava himenaios, ou cântico processional, que nada mais era do que um cortejo de vozes que acompanhava os nubentes até a soleira da alcova, atirando-lhes gracejos indecentes). Tanto a origem grega, mais cultivada, quanto a romana desembarcaram na Renascença. Pessoa optou pela alternativa fescenina, mas não tirou de vista o fato de que John Donne e Ben Jonson também foram adeptos do epitalâmio. Os sonetos ingleses de Pessoa, se por um lado revelam que a matriz das rimas é a do correlato shakespeariano, a sintaxe, fato que não escapou a Jorge de Sena, é metafísica, [125] portanto o argumento de que o poeta português escamoteou a influência metafísica em sua poesia não pode se sustentar, objetará o leitor. Se de fato tinha Pessoa o intento de fazer desaparecer as pegadas de seu trajeto de aprendizagem metafísica, bastaria deixar de publicar seus poemas ingleses. Não é bem assim: a poesia metafísica inglesa a que Sena se refere na introdução aos Poemas ingleses é, não há dúvida, aquela justamente praticada pela geração de Donne, uma vez que Fernando Pessoa em seus versos ingleses apenas se limitara, de modo algo esquemático e artificial, a experimentar, anacronicamente, aquilo que Donne e seguidores já haviam realizado no século XVII. [126] No entanto, a herança metafísica, com todo seu lastro de degenerescência intelectual, que Pessoa fez aportar, com suas colaborações, paralelamente, ao movimento do Orpheu, não é de modo algum aquela que transpira (por mero exercício, digamos, diletante) de seus poemas ingleses, nem mesmo a que, já sendo efetivamente metafísica, Pascoaes, Cortesão e Beirão praticaram, mas uma outra poesia metafísica, uma poesia metafísica em estágio ulterior de desintegração do intelecto, como foi a de Laforgue com relação a de Crashaw. Como foi a de Donne com relação a de Dante. E sobre esse ressurgimento da poesia metafísica em Pessoa o poeta não disse uma só palavra. Por conseguinte, é de se inferir, dentre muitas outras coisas, que a referida 'absoluta originalidade' e concepção de mundo inteiramente portuguesa, que Pessoa alegara certa feita possuirem os transcendentalistas panteístas, é uma cortina de fumaça a escamotear o legado metafísico transcultural atuante naqueles, bem como nele próprio. Assistido e inspirado, em seu percurso órfico - e não apenas nele -, pelas cíclicas aparições da poesia metafísica ao longo da história, Pessoa incorporou também o pragmatismo e o empirismo radical de James, não somente para entender melhor a estesia metafísica, como fizemos nós, e certamente Eliot, como para planear seus passos no movimento do Orpheu. À época em que Pessoa escrevia seus primeiros esboços sobre o sensacionismo (quer na acepção de sinônimo de orfismo, quer como interferência tópica no poema, quer como um dos termos de um programa de arte derivado), o sucedentismo, o interseccionismo, etc., já o sensacionalismo de James, ao lado (no interior, na verdade) de sua cosmovisão empírico-radical, aqui sinteticamente apresentada, se haviam difundido na Europa, inicialmente através dos países de língua inglesa. Daí não poderem ser tratadas como frutos do acaso as incidências do pragmatismo e do empirismo radical na obra pessoana. O pragmatismo valoriza a experiência, a esfera dos sentidos, a capacidade de coleta de dados, com o posterior equacionamento destes no âmbito da consciência, como vimos. O mesmo se dá com a programática órfica ("a verdadeira arte moderna tem de […] acumular dentro de si todas as partes do mundo").[127] Assim, defende o empirismo a prática de ir além das primeiras revelações, procurando sempre pelas últimas conseqüências, buscando tal desiderato pelo encaminhamento de processos intelectuais na direção dos particulares, como quer também a poesia metafísica, o paulismo, o simultaneísmo órfico e o interseccionismo. Para James as idéias tornam-se verdadeiras quando ajudam a manter relações satisfatórias com outras partes de nossa experiência. A verdade de uma idéia significa tão-somente, como vimos, suas operações, não o objeto da idéia. Nesse contingenciamento, por assim dizer da verdade, pela negação da verdade absoluta, se empenha a 'estética do fingimento pessoano' (o hipercriticismo fingido órfico), aqueles programas de arte voltados para a exploração da fragmentação do sujeito lírico, bem como de sua polivalência, além de todas as práticas poéticas em que se afiguram atitudes mentais que espelham uma adesão à despersonalização. Um programa de arte como o interseccionismo seria inteiramente desbaratado caso viesse a admitir um sentido para a verdade distinto do que o pensamento de James promove. O pragmatismo, segundo James, não tem preconceitos, nem defende dogmas, adotando uma postura de completa maleabilidade face a outras formas de pensar. Não por acaso, a proposta inaugural da revista Orpheu, que examinamos detidamente, condena preconceitos e defende uma abertura para propostas estéticas de todos os quadrantes. Pensamento, para James, é toda forma de consciência; e todo pensamento tende a ser parte de uma consciência pessoal, em cujo interior esse se encontra sempre mudando, já que é sensivelmente contínuo. O simultaneísmo órfico e o interseccionismo manejam, em seus diferentes campos de ação, o plástico e o da palavra, respectivamente, esses conceitos. Na esteira de Peirce, o pragmatismo entende que crenças são regras de ação e que o significado de um pensamento deriva da conduta que ele está apto a provocar. Tem-se que extrair de palavras como "Deus", "razão", "matéria" seu valor de compra prático; fazê-las, diz James, trabalhar dentro da corrente da nossa experiência. Pessoa entende que "Deus" é apenas uma palavra, um valor estético, que pode vir a sugerir mistério, mas que não serve a objetivo moral ou qualquer outro. Sua defesa do panteísmo, também ela encontra eco no pragmatismo de James, que recomenda por seu turno, como religião, alguma espécie de deidade imanente ou panteísta operando nas coisas preferivelmente a operar por sobre elas. A defesa da interpenetração do espírito e da matéria, à qual Pessoa atribui aos sensacionistas de modo geral também não é postura que destoe do pensamento de James. Cada novo estado cerebral, segundo James, é modificado pelo estado inercial anterior ao estímulo - e todas as imagens mentais estão embebidas em um fluxo cerebral contínuo. Da mesma forma, o pensamento é contínuo e os únicos estados de consciência com os quais lidamos estão fundados nas consciências pessoais. Para o filósofo americano, como vimos, o fato consciente universal não é 'sentimentos e pensamentos existem, mas 'eu penso' e 'eu sinto'. A valorização sem precedentes da sensação no método de James; o entendimento de que existe uma linha inquebrável que vai da sensação ao pensamento; que parte da sensação ou da imagem, ganhando complexidade (se tornando percepto) numa escala de intensidade que oscila entre o pensar e o conceituar - que é a noção, enfim, de fluxo contínuo de nossas imagens -, tais entendimentos são também postulados do interseccionismo e do simultaneísmo órfico. Ainda: o empirismo radical ao valorizar os elementos conjuntivos da experiência, as conexões entre as coisas, como vimos, acaba por dar franco respaldo aos processos interseccionistas e simultaneístas órficos. Seria possível conceber-se estes últimos, por exemplo, extirpando deles sua vocação para as relações contínuas, para a mútua contaminação funcional entre as possíveis partes de um todo; para a percepção de um espaço sem ruptura, em que qualquer elemento interfere no todo e em que o todo é uma realidade puramente intelectual? Seria possível pensar o interseccionismo sem o processamento de estados de alma-paisagens, cuja existência depende integralmente de uma convergência de contínuos estados mentais; cuja manifestação, puramente intelectual, por sua vez, só admite a sucessividade entrecruzada de acontecimentos mentais simultâneos, sob estímulos múltiplos e variados? Certamente não. Nem mesmo no que diz respeito ao paulismo (que apenas contempla a sucessividade de estados de alma-paisagens). A mente é em cada estágio um teatro de possibilidades simultâneas, como afirmou textualmente o filósofo americano - e é justamente em busca de capturar pintando ou poetizando essa peculiridade de nossa vida mental, digamos assim, que o simultaneísmo órfico e o interseccionismo encontram sua razão de ser. A peculiaridade de nossas experiências será sempre melhor discernida por intermédio das relações entre elas. O empirismo sabe disso, os adeptos do interseccionismo também. E, por último, a nomenclatura da grande maioria dos programas congeminados no Orpheu está intimamente ligada às propostas do empirismo radical e do pragmatismo, como o sensacionismo (sensacionalismo, para James), o interseccionismo e o simultaneísmo, cada um destes últimos originados das noções defendidas por James com respeito ao processo cerebral, às relações conjuntivas, aos sentimentos de relações, etc. E com tudo isso que se disse nestas últimas páginas concorda o poeta metafísico, quer seja ele da geração de Donne, quer seja da geração de Laforgue, quer seja da geração do Orpheu. É contudo inadiável assinalar ainda que o sensacionismo foi também a pedra de toque do simbolista idealista Remy de Gourmont. Sua defesa da primazia das sensações parece ter sido também muito importante para que Pessoa desenvolvesse seus conceitos acerca da arte moderna em geral - bem como para que planeasse os rumos mais consistentes das poéticas órficas, que gestou e estimulou como mentor do Orpheu. Com efeito, em Le problème du style Gourmont dirá textualmente: "os sentidos são a única porta de entrada para tudo o que vive no interior da mente […]. A sensação é a base de tudo, da vida moral e intelectual como também da vida física".[128] "Nada existe, não existe a realidade, mas apenas sensações", responderá Fernando Pessoa, fazendo coro com o autor francês. [129] E com o próprio Mario de Sá-Carneiro, que talvez tenha sido o responsável pela importação das idéias de Gourmont em Portugal. A essa altura, o leitor muito justamente indagará: eram os pares de Pessoa todos eles leitores assíduos de James, Gourmont e dos poetas metafísicos ingleses? Certamente que não. Cada integrante do grupo órfico português absorveu tais influências de modo distinto. Souza-Cardoso, por exemplo, que oscilou entre o cubismo e o simultaneísmo órfico, foi contaminado por Delaunay, Cendrars e Apollinaire (ambos metafísicos, também). Esse triunvirato foi em grande parte, como vimos, responsável pela formulação do simultaneísmo orfico. Pessoa consorciou o pragmatismo e o empirismo radical com a poesia metafísica. Como poeta forte que era - para utilizar um estilema de Harold Bloom - o mentor do orfismo apropriou-se de um vasto legado que a tradição colocou à disposição. No que diz respeito ao Orpheu - e sempre estaremos procurando permanecer nos limites de sua participação nesse movimento, Pessoa recebeu infusões de Whitman (que foram de intimorato apego à vida, com seus ritmos e sua exuberância, seus versos de métrica irregular, adequados à respiração prosaica; com suas aliterações e anáforas, além de outros recursos reiterativos que amplificam a vibração da voz poética) [130] e de Laforgue, através de Sá-Carneiro, ou por causa dele (ambos em sua "Ode triunfal", sobretudo), [131] infusões essas fingidamente exploradas pelo heterônimo Álvaro de Campos. Definidor do interseccionismo (o inventor fora SáCarneiro, como já sabemos), Pessoa concebeu e batizou o paulismo (1914), cujos neologismos e construção por vezes especiosa advêm diretamente de seu contato com a poesia inédita de seu amigo Sá-Carneiro (que preparava, a essa altura, Dispersão), bem como, outra vez, de Laforgue (mentor dos dois últimos). Em outras palavras: Laforgue influenciou diretamente Sá-Carneiro e Pessoa, que se deixou influenciar tanto pelo poeta francês quanto pela releitura que Mário realizara a partir dele, em seus tempos de Sorbonne (1912) - mas não pour cause. Alem das notórias e declaradas influências de Cesário Verde na obra de Fernando Pessoa - merecem referência as de Beirão, Pascoaes, e de outros colaboradores de A Águia. Cesário, contudo, por ser o primeiro poeta metafísico, e por ter sua obra mantido um diálogo duradouro e intenso com Pessoa, Almada-Negreiros, Sá-Carneiro dentre outros, é um nome que merece ser examinado mais detidamente. Em sua curtíssima carreira de poeta, Cesário Verde chamou sempre nossa atenção acerca da assiduidade com que comparece, desde seu início até o final, no papel de eu lírico, um homo viator, que faz da deambulação pelas ruas seu projeto testemunhal e seu estado de ser poético. [132] Situemos rapidamente o poeta no tempo. Em 1874, Cesário Verde publicaria o poema "Esplêndida", seu primeiro exemplar de lira deambulatória. Em 1875, no ano seguinte, "Deslumbramentos", "Frígida", "Desastre"; em 1876, "A débil"; em 1877, "Num bairro moderno"; em 1878, "Noites gélidas"; no ano seguinte, "Manhãs brumosas", "Cristalizações", "Noite fechada" e "Em petiz". "O sentimento dum ocidental" viria em 1880. Seis anos depois o poeta faleceria. Além desses poemas, todos os outros, publicados postumamente, oferecem situações de passagem a um observador transeunte que delas se alimenta. Ao dirigir seu olhar para as ruas, promovendo a presença, como se disse, de um sujeito lírico que vivencia e traduz suas impressões no momento em que estas o mobilizam, tansformando o poema, em termos lógico-estruturais, em uma vivência-aqui-e-agora, Cesário vai muito além de uma mera colagem impressionista de roteiros mundanos. Tributário evidente de Baudelaire, cujos versos leu e releu, injetou em sua obra, em diversos momentos, situações e elementos extraídos de poemas como "À une passante" ,"La chevelure"[133], "À une mendiante rousse"[134], "Le soleil" (que inspirou a humanização do sol em "Num bairro moderno") 'Le vin des chiffonniers" [135] dentre outros. [136] Contudo, Cesário Verde não se limitou a reproduzir temas e ritmos baudelaireanos, como diversas vezes apressadamente a crítica concluiu. A apropriação cesarina como aqui relatada, fazendo o novo a partir de combinações, transgressões e derivações arbitrárias, é um atributo - mais um - que faz de Cesário um precursor da modernidade. Sua personalidade cinemática, ao incorporar à dinâmica de seus versos o acervo baudelaireano, logrou oferecer, ao surpreendido leitor lusitano de sua época, versos de precisa lapidação, em que intercedem, de maneira original em seu meio poético, o raciocínio, a sensibilidade e a imaginação. A fusão entre pensamento e emoção alcançada por Cesário e seu estro imaginativo extremamente refinado, fazem dele um metafísico - o primeiro em Portugal, como já afirmamos. Poemas como "Cristalizações", "Num bairro moderno" e "O sentimento dum ocidental" são marcantes exemplos de como o intelecto, a capacidade extrema de observação e o olhar sensível caminham juntos, combinando, como quer a poesia metafísica, o reflexivo com a sensibilidade e a emoção extremadas. Detenhamo-nos rapidamente em alguns trechos de "Num bairro moderno". Já no primeiro quinteto desse poema encontramos uma espécie de ritual cinematográfico, em que o observador, de um ponto qualquer da rua, explora, em lentos movimentos de aproximação, os "planos" que aquele bairro moderno oferece. Paulatinamente, o processo evolui em busca de localizar os arranjos particulares, os detalhes, os efeitos óticos da luz (segundo quinteto), obedecendo, já aqui, ao postulado metafísico que busca os particulares em lanços estudados, nos quais transparece o papel exercido pelo intelecto que seletivamente coleta elementos da realidade circundante. Dez horas da manhã; os transparentes Matizam uma casa apalaçada; Pelos jardins estancam-se as nascentes, E fere a vista, com brancuras quentes, A larga rua macadamizada. Rez-de-chaussée repousam sossegados, Abriram-se, nalguns, as persianas, E dum ou doutro, em quartos estucados, Ou entre a rama dos papéis pintados, Reluzem, num almoço, as porcelanas. Como é saudável ter o seu conchego, E a sua vida fácil! Eu descia, Sem muita pressa, para o meu emprego, Aonde agora quase sempre chego Com as tonturas duma apoplexia. O método de composição, a associação muitas vezes inesperada ou incomum de adjetivos e o desenvolvimento da 'cena', em que, a exemplo do que acontece nos versos acima, constatamos - prática corriqueira cesarina - a contigüidade entre o comentário, a observação e a confidência, tais procedimentos caracterizam alguns dos inúmeros atributos metafísicos da estesia do poeta. Leia-se também os versos que seguem. E rota, pequenina, azafamada, Notei de costas uma rapariga, Que no xadrez marmóreo duma escada, Como um retalho de horta aglomerada, Pousara, ajoelhada, a sua giga. E eu, apesar do sol, examinei-a: Pôs-se de pé; ressoam-lhe os tamancos; E abre-se-lhe o algodão azul da meia, Se ela se curva, esguedelhada, feia, E pendurando os seus bracinhos brancos. É de se notar aí a presença freqüente da aditiva, acusando a ação persistente de uma mente catalogadora, que se desdobra em todas as direções, com vistas a ulteriormente decifrar o objeto de interesse do sujeito de enunciação poético e de modo a reter, pelo arrolamento cumulativo de impressões, a emoção gerada. Aqui, novamente, constatamos que Cesário se comporta como um poeta metafísico. Em benefício de harmonizar a sonoridade do verso mas, sobretudo, em virtude da necessidade de explorar ao máximo tanto a dissimilaridade, quanto a proximidade de elementos que traduzem o pensar e o sentir (favorecendo a concentração da emoção), Cesário utilizase constantemente de inversões, hipérbatos e hipálages de maneira análoga àquela que o conceptista se serve - e que foi determinante para a poesia da geração de Donne, Crashaw e outros. O nominalismo é outro traço marcante em Cesário, cujo intelecto, empírico por natureza, acusa forte preocupação com registros do dia-a-dia, que atestam seu entendimento de que a poesia pode se ocupar de coisas menos inefáveis. Eis aqui novamente outro parentesco da poética cesarina com a metafísica: a apropriação do prosaico pelo poema. O quinteto abaixo bem ilustra nossa assertiva, exemplificando, ademais, de modo saliente e com grande economia de recursos, sua vocação a crítico do status quo. Do patamar responde-lhe um criado: "Se te convém, despacha; não converses. Eu não dou mais." E muito descansado, Atira um cobre lívido, oxidado, Que vem bater nas faces duns alperces […][137]. O olhar poético de Cesário em movimento constante pelas ruas de Lisboa registra, em inúmeras oportunidades, a realidade crua do cotidiano. Varinas e calceteiros ("Cristalizações")[138] invadem o reduto da poesia, tornados matéria de um lirismo, a exemplo do que ocorre em Baudelaire, que não faz concessões ao que parece apropriado dizer, dizendo contudo o que não sendo virtualmente poético assim se torna, pelo manejo apropriado e refinado de imagens e sons, bem como por um arranjo poético que escapa ao convite da banalidade. Seus versos não sugerem jamais uma poesia de gabinete, em que o silêncio de paredes forradas permite ao poeta engajar-se em rimas perfeitas, elaboradas placidamente com o objetivo de alcançar um receituário prévio de harmonia e equilíbrio. Ao contrário, seu objetivo é o de capturar um mundo dinâmico, em crise e em transformação. Sendo sua lírica, por conseguinte, também ela, produto dos sentidos de um homem moderno vivenciando quer a diversidade de sons da cidade cosmopolita em que trabalha; quer o caos presente em seu contingente humano; quer a dúvida face ao rumo e ao destino da sociedade em que vive, bem como face ao seu próprio. A crueza da voz poética cesarina, muitas vezes incompreendida, associada a elementos prosaicos, procedimentos normalmente descartados pelos poetas de seu tempo - ao lado de sua releitura da tradição simbolista, são alguns dos principais legados do poeta ao movimento do Orpheu (bem como à poesia metafísica). Seu lirismo deambulatório, explorando as ruas de Lisboa, colado à dinâmica da vida, foi determinante para que o Orpheu avançasse adiante, superando as propostas e a temática da geração que o antecedeu. Sá-Carneiro absorveu a herança metafísica consumindo-a em grandes e sôfregos goles a partir de Laforgue - e, em menor escala, de Baudelaire. Cesário, ainda Cesário, ofereceu a Mário um caminho temático; forneceu-lhe, ainda, subsídios para que lograsse explorar a sintaxe sensacionista - e o ensinou a olhar intensamente o mundo ao redor. Com sua desesperada energia renovadora e com a paroxística alternância dos binômios aceitação-rejeição, êxtase-abulia; aqui-alhures, eu-outro, inteirofragmentado, já presente em seus primeiros trabalhos, Mário foi provavelmente o poeta português que mais intensamente dialogou com a obra laforgueana. Também, ao lado de Almada-Negreiros, Souza-Cardoso e SantaRita Pintor, foi dentre seus pares órficos um dos que mais se deixou contaminar pelas propostas da vanguarda européia. Certamente, nessa linha, "Manucure" é o melhor exemplo que nos deixa Mário da fusão da herança laforgueana [139] com o futurismo e o sensacionismo. Antes de concluir, parece adequado determo-nos um pouco nessa questão, ainda mais agora que vimos de examinar "Lamento da cidade de Paris". Colocar lado a lado certos aspectos de ambos os poemas oferece-se como o caminho mais seguro. Tanto o lamento de Laforgue quanto o poema de Sá-Carneiro estribam-se na exploração intensiva do coloquialismo. E se Paris é o destinatário do lamento francês, há fortes indícios que também seja a metrópole de "Manucure". O francês toma posse do reclame que a grande capital despeja. A estesia de seu poema, bem como de parte de sua obra prenunciam, com décadas de antecedência, o advento do futurismo, com todos os seus desdobramentos; Sá-Carneiro faz também uso de elementos pertinentes à publicidade - e, mais que isso, abre espaço em seus versos para que estes se tornem passivos suportes de propaganda, interrompendo diversas vezes o fluxo da voz poética, para assim realçar a impessoalidade e o poder de dominação da sociedade de consumo de massa. O brado futurista se ouve nitidamente por todo o poema de Sá-Carneiro. As máquinas de imprensa Marinoni ("Machines cylindriques Marinoni", no poema de Laforgue) [140], presentes em Sá-Carneiro, são um dos diversos índices do mundo moderno, presentes no poema, já que lhes cabe a tarefa de tornar possível a célere reprodução da informação. Em Laforgue, as máquinas Marinoni transformam-se elas próprias em objetos de consumo, ofertados no pregão da rua. É preciso ter a máquina, para disseminar mensagens de consumo pelo mundo. Mário explora o papel da imprensa de modo mais radical. O linotipo Marinoni está lá, cuspindo letras e formatos; marcas comerciais e jornais do mundo inteiro, com sua "beleza alfabética pura" - sinônimo da vertigem da velocidade; mas "Manucure" leva às últimas consequências - inclusive sob o ponto de vista gráfico - as implicações das máquinas modernas de imprensa sobre o cotidiano. Essa realidade acaba por contaminar inteiramente o poema que se torna um espaço público em que se afixam cartazes. Em Mário, toda a energia e diversidade do viver moderno estão, como o sujeito lírico de seu poema afirma, "no ar", como se tudo fizesse parte de um movimento incessante, planetário, que seus versos acusam sem cessar; não bastasse isso, tudo é refletido e multiplicado através de espelhos. Beleza estranha para o sujeito lírico, uma vez que toda essa beleza parece-lhe ao mesmo tempo inatingível - provavelmente porque inadequada à real dimensão humana. "Então rolo de mim por uma escada abaixo..", dirá o eu do poema, desconsolado - mas logo adiante, repentinamente possesso, "aos pinotes" (o sujeito poético já agora desprovido do que lhe é mais pessoal e intransferível, ou seja, a consciência de sua linguagem), emitirá sons de máquina, numa negação paroxística de sua humanidade, dando um fecho ao poema - pela total impossibilidade de o eu poético recuperar sua capacidade de enunciação. Há um custo alto para toda essa vertigem e todo esse dinamismo e voracidade de hélices, máquinas e consumo, como se vê; e a supressão da individualidade parece ser um dos componentes mais onerantes desse custo. Mário de Sá-Carneiro sabe-o. No poema de Laforgue também tem lugar uma constatação semelhante: a de que sob a carapaça voraz de uma sociedade egoísta e de mente estreita "existimos na existência em que se paga à vista", não havendo possibilidade para o sonho individual. Está por conseguinte instalado um conflito insolúvel, que tem lugar tanto no poema de um quanto no de outro. Todo o lamento parisiense, ademais, insiste em nos recordar também que a unidade entre espírito e razão, entre pensar e sentir, entre querer e obter não é mais possível. E que o desequilíbrio entre esses pares é inevitável. Será também nessa direção que os versos de "Manucure" se inclinarão, desmantelando-se em incompreensível ruído. Com Mário de Sá-Carneiro, a desintegração intelectual ganha mais intensidade do que em seu predecessor Laforgue, comprovando uma tendência da poesia metafísica que achamos desnecessário repisar. Especular pode ser um exercício intérmino e quase tirânico da vontade empenhada. Ficaremos por aqui, com a certeza de que nossas hipóteses poderiam nos levar mais longe - e por caminhos que não foram aqui explorados. Mas também com a certeza de que este trabalho forneceu mais alguns subsídios esclarecedores sobre a precursividade órfica. Tal como a geração de Donne, os integrantes da geração de Orpheu responderam à tradição, em geral, e à convocação metafísica, em especial, cada um a seu modo; cada um com diferente intensidade; e cada resposta foi condicionada pelo peso e dimensões da bagagem com a qual apearam às portas do movimento. Obviedade à parte, nada, não obstante, nos impede de chamar a geração de Orpheu de última geração metafísica de Portugal. Se somos autorizados a afirmar que no curso da convivência, do intercâmbio literário e de opinião o movimento órfico produziu, enquanto conjunto de manifestações individuais, digamos, uma espécie de força motriz, geradora, que acabou por condicionar o sentido geral e o perfil da revista, essa força de renovação disseminou-se - e não há como ser de outro modo - a partir de um núcleo difusor e aglutinador - e nesse centro de muda força convocatória acomodaram-se aqueles mentores que exerceram, quer na dinâmica da revista, quer com suas incessantes buscas pela superação vanguardista de seu tempo, papel de fato incansável, decisivo e determinante. Todos sabemos quais foram seus nomes. NOTAS 1) Inúmeras reflexões, bem como diversos trechos utilizados deste ensaio foram extraídos de nosso trabalho T. S. Eliot e Fernando Pessoa: diálogos de New Haven. Landy, São Paulo, 2004. 2) Les complaintes são editados em 1885 e L'imitation de Notre-Dame la Lune em 1886. 3) Cf. RICHARD, Noël - Profils symbolistes. Paris, Nizet, 1978, p. 168. 4) Cf. MICHAUD, Guy - Messages poétiques du Symbolisme, Paris, Nizet, 1947, p. 304-5. 5) Ibid., p. 301. 6) Cf. RICHARD, Noël - Profils symbolistes. Paris, Nizet, 1978, p. 167. 7) Cf. Bertrand, Jean-Pierre . "Présentation". In: LAFORGUE, Jules. Les complaintes. Paris, Flammarion, 1997, p. 13-4. 8) Inspirado em Bourget, que aparentemente colaborou também para injetar em Laforgue o cosmopolitismo e a anglo- mania. 9) A personagem dessa obra, vestida de negro, caminhando de um modo arrastado, mas correto, como Laforgue a descreveu, assemelha-se muito a ele próprio, quando, sem dinheiro, mal vestido, cheio já de amargor, vivia nos seus 20 anos na Rue Berthollet. Cf. MICHAUD, Guy - op. cit., p. 300. 10) Richard, Noël - op. cit., p. 280. 11) Cotado da obra Nos maîtres, de Wyzewa, por RICHARD, Noël - op. cit., p. 188. 12) Cf. HURET, Jules apud Bertrand, Jean-Pierre - op. cit., p. 8. 13) Falaremos sobre a poesia metafísica mais adiante. 14) Cf. Bertrand, Jean-Pierre - Op. cit., p. 34. 15) Cf. Michaud, Guy - Op. cit., p. 301 16) BERTRAND, Jean-Pierre - Op. cit., p. 22. 17) No original: "Dernière crise. Deux semaines errabundes, / En tout, sans que mon Ange Gardien me réponde. / Dilemme à deux sentiers vers l'Eden des Élus: / Me laisser éponger mon Moi par l'Absolu? / Ou bien élixirer l'Absolu em moi-même? / C'est passé. J'aime tout, aimant mieux que Tout m'aime. / Donc Je m'en vais flottant aux orgues sous-marins, / Par les coraux, les oeufs, les bras verts, les écrins, / Dans la tourbillonnante éternelle agonie / […]" Jules Laforgue, op. cit., p. 48. 18) Cf. BERTRAND, Jean-Pierre - Op. cit., p. 22. 19) "Qui m'aima jamais? Je m'entête / Sur ce refrain bien impuissant, / Sans songer que je suis bien bête / De me faire du mauvais sang". Tradução: "Quem alguma vez me amara? Eu teimo / sobre este refrão bem impotente, / Sem sonhar que sou bem idiota / Por agir assim impropriamente". "Complaintes des Débats mélancoliques et littéraires". Ibid., p. 142. 20) Ibid., p. 100. 21) Cf. BERTRAND, Jean Pierre - Op. cit., p. 22-3. 22) Loc. cit. 23) LAFORGUE, Jules - "Complaintes des voix sous le figuier boudhique". Em sua: op. cit., p. 57. 24) Em maiúscula no original. 25) Esse dilentatismo emprestado à lua é postura filosófica vanguardista típica dos anos de 1880, cuja paternidade Bourget se auto-atribui. 26) Segundo consta, alusão do autor a certa amiga, uma dama de honra da imperatriz Augusta, que de fato viajou para a Escócia em núpcias. 27) No original: "Ah! la belle pleine Lune, / Grosse comme une fortune! // La retraite sonne au loin, / Un passant, monsieur l'adjoint: // Un clavecin joue en face, / Un chat traverse la place: // La province qui s'endort! / Plaquant un dernier accord, //Le piano clôt sa fenêtre, / Quelle heure peut-il bien être? // Calme Lune, quel exil! / Faut-il dire: ainsi soit-il? // Lune, ô dilettante Lune, à tous les climats commune, // […] // Lune heureuse! ainsi tu vois, / À cette heure, le convoi // De son voyage de noce! / Ils sont partis pur l'Écosse. // Quel panneau, si, cet hiver, / elle eût pris au mot mes vers! //Lune, vagabonde Lune, / Faisons cause et moeurs communes? // Ô riches nuits! je me meurs, / La province dans le coeur! // Et la lune a, bonne vieille, / Du coton dans les oreilles". Cf. LAFORGUE, Jules - "Complainte de la Lune en province". Em sua: op. cit., p. 77-8. 28) Sugerimos ao leitor que compulse também o ensaio intitulado "Eliot, Pessoa e a tradição da poesia metafísica", incluído em nossa op. cit., p. 87-183. 29) SAINTSBURY, George - Minor poets of the Caroline Period. General introduction. Oxford, Clarendon Press, 1905, 1906 e 1921, respectivamente v 1, 2 e 3. 30) GRIERSON, Herbert - Metaphysical lyrics and poems of the seventeenth century. Donne to Butler. Selected and edited, with an essay, by Herbet J. C. Grierson. Oxford, Clarendon Press, 1921. O texto compulsado é uma reimpressão dessa primeira edição, datada de 1928. 31) GRIERSON, Herbert - "Introduction". Em sua: op. cit., p. XIII. 32) Ibid., p. XIII. 33) Cf. ELIOT, T. S. - The varieties of metaphysical poetry. Edited and introduced by Ronald Schuchard. San Diego, A Harvest Book, 1996. (first Harvest edition). Passim. 34) Cf. ibid., p. 252. 35) Essa concepção, encontradiça na geração dos pares de Dante, desapareceria no século XIV, com Eckhardt e seus seguidores, que entronariam nos altares da mente humana o Deus abissal. 36) Cf. ibid., p. 258 et passim. 37) Cf. ibid., p. 149. 38) Cf. ibid., p. 216. 39) Cf. ibid., p. 211. 40) Cf. Gourmont apud ELIOT, T. S. - Op. cit., p. 253. 41) cf. ibid., p. 254. 42) cf. ibid., p. 107-8. 43) CAVALCANTI, Guido, apud ELIOT, T. S. - Op. cit., p. 107. No original, Eliot transcreveu erradamente o verso, segundo o editor Schuchard.. Aqui o trecho se imprime tal como coletado pelo editor. Cf. nota de rodapé da mesma página. 44) CAVALCANTI, Guido - "Donna mi priegha". In: POUND, Ezra. Abc da literatura. trad. bras., 3. ed., São Paulo, Cultrix, 1977, p. 188-92. 45) Como qualidades a serem destacadas na poesia italiana do século XIII estão a organização intelectual e emocional. Cf. ELIOT, T. S., op. cit., p. 228. 46) Cf. Ibid., p. 174-6. 47) Cf. Ibid. p. 119-20. 48) ALIGHIERI, Dante - "Vida Nova". In: Os pensadores. Trad. bras., São Paulo, Abril, 1973 (v. 8), p. 167-8. 49) Cf. ELIOT, T.S. - Op. cit., p. 85-6. 50) DONNE, John - "The Good-morrow". Em sua: Poems and prose. New York, Knopf, [1955], p. 13. No original: "I wonder by my troth, what thou, and I / Did, till we lov'd? were we not wean'd till then? / But suck'd on countrey pleasures, childishly? / Or snorted we in the seaven sleepers den? / T'was so: But this, all pleasures fancies bee / If ever any beauty I did see, / Which I desir'd, and got, t'was but a dreame of thee". Eliot transcreveu o mesmo trecho do poema, modernizando-o, mas deixa passar uma gralha (no quinto verso, "fancies be." por "fancies bee". Cf. ELIOT, T. S., op. cit., p. 85. 51) Cf. ibid., p. 87. 52) Cf. ibid., p. 121. 53) Cf. ibid., p. 120. 54) Cf. ibid., p. 126. 55) Cf. ibid., p. 128. 56) Cf. ELIOT, T. S. - "Ulysses, order and myth". Em sua: Selected prose of T. S. Eliot. Edited with an introduction by Frank Kermode. New York, Harcourt, Brace, [1988]. (The centenary edition: 1888-1988), passim. 57) Cf. ELIOT, T. S. - Op. cit., p. 138. 58) Ibid., p. 147. 59) Ibid., p. 148. 60) Que comparece por exemplo neste solitário verso de Herbert: "Finalmente ouvi um roto ruído e risadas". Sendo que o qualificativo 'roto' designa sua procedência: o ruído fora produzido, adverte adiante o poema, por pessoas maltrapilhas, rotas, ladrões e assassinos. Tal qualificativo também dá a entender que o ruído é abusivo, escabroso, quase descontrolado. No original: "At length I heard a ragged noise and mirth". HERBERT, George, apud ELIOT, T. S. - Op. cit., p. 199. Esta frase, "'ragged noise and mirth', fornece-nos, em quatro palavras, a descrição da cena que Herbert nos quer oferecer". Ibid., p. 199. 61) Ibid., p. 200. 62) Cf. DONNE, John - "The extasie". Em sua: op. cit., p. 53-5. No original: "Where, like a pillow on a bed, / A Pregnant banke swel'd up, to rest /The violets reclining head, / Sat we two, one anothers best; Our hands were firmely cimented / With a fast balme, which thence did spring, / Our eye-beames twisted, and did thred / Our eyes, upon one double string, / So to'entergraft our hands, as yet / Was all the meanes to make us one, And pictures in our eyes to get / Was all our propagation. […]/ Wee like sepulchrall statues lay, / All day, the same our postures were, / And wee said nothing, all the day. […] / This Extasie doth unperplex / Wee see by this, it was not sexe / wee see, we saw not what did move: / But as all severall soules containe / Mixture of things, they know not what, / Love, these mixt soules, doth mixe againe, /And makes both one, each this and that. / […]". Exemplo de como o poeta buscava superar a dicotomia entre carne e espírito, esse poema - de amor contemplativo, mas não apenas, é, também, ipso facto, paradigma de como sua postura poética e moral buscava justificar e convalidar o amor carnal (uma vez que este é, em seu entendimento, rota obrigatória para a realização, no plano espiritual, de uma integração de almas). 63) "Até onde sei, essa desintegração significa simplesmente uma deterioração progressiva da poesia, em um aspecto ou outro, desde o décimo-terceiro século. Se eu estiver certo acerca da poesia, essa deterioração é provavelmente um dos aspectos de uma deterioração geral". ELIOT, T. S. -- Op. cit., p. 227. 64) Com efeito, a teoria da poesia metafísica de Eliot "implica [também ] em uma teoria da história das crenças, na qual o século XIII, o século XVII e o século XIX, todos ocupam seu lugar no (..) processo de desintegração". Ibid., p. 220. 65) Como em outras passagens desse lamento - e de sua obra -, Laforgue cria uma nova palavra, no caso fruto da contração entre 'volúpia' e 'nupcial'. Suas mots-valise são uma espécie de dessacralização do signo poético - e, sob o ponto de vista da prática social, um meio de protestar contra o status da língua e sua subserviência aos ditames do costume e da ordem. São, pois, também, um repelão nos referentes culturais em cujo âmbito a prática poética tem lugar. 66) No original, comparece como título: "GRANDE COMPLAINTE de la Ville de Paris - Prose Blanche". O trecho acima traduzido corresponde ao que segue: "Bonne gens qui m'écoutes, c'est Paris, Charenton compris. Maison fondée en … à louer. Médailles à toutes les expositions et des mentions. Bail immortel. Chantiers en gros et en détail de bonheurs sur mesure. Fournisseurs brevetés d'un tas de majestés. Maison recommandée. Prévient la chute des cheveux. En loteries! Envoie en province. Pas de morte-saison. Abonnements. Dépôt, sans garantie de l'humanité, des ennuis les plus comme il faut et d'occasion. Facilités de paiement, mais de l'argent. De l'argent, bonne gens! Et ça se ravitaille, import et export, par vingt gares et douanes. Que tristes, sous la pluie, les trains de marchandise! À vous, dieux, chasublerie, ameublements d'église, dragées pour baptêmes, le culte est au troisième, clientèle inneffable! Amour, à toi, des maisons d'or aux hospices dont les langes et les loques feront le papier des billets doux à monogrammes, trousseaux et layettes, seules eaux alcalines reconstituantes, ô chlorose! bijoux de sérail, falbalas, tramways, miroirs de poches, romances! Et à l'antipode, qu"y fait-on? Ça travaille, pour que Paris se ravitaille… […] Mais l'inextirpable élite, d'où? pour où? Maisons de blanc: pompes voluptiales; maisons de deuil, spleenuosités, rancoeurs à la carte […] Et la pluie! trois torchons à une claire-voie de mansarde. Un chien aboie à um ballon là-haut. […] Que les vingt-quatre heures vont vite à la discrète élite!… Mais ces cris publics reprennent. Avis important! l'Amortissable a flléchi, ferme le Panama. Enchères, experts.[…] Encore des cris! Seul dépôt soupers de centième! Machines cuylindriques Marinoni! Tout garanti, tout pour rien! […] Des mois, les ans, calendriers d'occasion. Et l'automne s'engrandeuille au bois de Boulogne, l'hiver gèle les fricots de pauvres aux assiettes sans fleurs peintes. Mai purge, la canicule aux brise frivoles de plages fane les toilettes coûteuses. Puis, comme nous existons dans l"existence où l'on paie comptant, s'ammènent ces messieurs courtois des Pompes Funèbres, autopsies et convois salués sous la vieille Monotopaze du soleil. Et l'histoire va toujours dressant, raturant ses Tables criblées de piteux idem, - ô Bilan, va quelconque!, ô Bilan, va quelconque…" Cf. LAFORGUE, Jules - "Grande complainte de la ville de Paris". Em sua: op. cit., p. 135-7. 67) JAMES, William -"Pragmatismo". In: Os pensadores. Trad. bras., São Paulo, Abril, 1974. (v. XL), p. 10. 68) Ibid., p. 11. 69) Ibid., p. 12. 70) Ibid., p. 13. 71) Ibid., p. 14. 72) Ibid., p. 16. 73) Cf. loc. cit. 74) Ibid., p. 30. 75) Cf. JAMES, William - "Prefácio do autor para O significado da verdade". In: Os pensadores. op. cit., p. 42. A questão do significado da verdade está no centro do embate entre os pragmatistas e seus opositores. A diferença, segundo James, é que quando os primeiros falam da verdade, discutem idéias e sua operacionalidade, ao passo que os antipragmatistas, quando falam da verdade, estão discorrendo a respeito dos objetos. Cf. ibid., p. 43. 76) Id. -"Pragmatismo". In: Os pensadores Op. cit., p. 18. James foi influenciado por Bardley, daí que o panteísmo que defende seja idealista. Para o filósofo inglês as relações entre as coisas não são meros acréscimos à essência destas, mas constituem sua própria essência. O idealismo de James é também objetivo, assim acatando que não há diferença essencial entre objeto e sujeito, já que ambos são uma forma na qual o todo se manifesta. 77) Ibid., p. 19. 78) Ibid., p. 22. 79) Id. - "Prefácio do autor para O significado da verdade". In: Os pensadores. op. cit., p. 43-4. 80) JAMES, William - "O fluxo do pensamento [capítulo de Princípios de Psicologia]". In: Os pensadores. Op. cit., p. 49. 81) Mas o quê significa isso? Primeiro, que mesmo quando ocorre um intervalo temporal a consciência, ao término dele, sente como se o intervalo estivesse ligado à noção anterior a ele, como outra parte do mesmo ego; segundo, que as mudanças que têm lugar de um momento para outro na qualidade da consciência jamais são abruptas. Cf. ibid., p. 58. 82) Cf. ibid., p. 49-50 et passim. 83) Ibid., p. 50. 84) Janet examinando uma paciente sonâmbula anestésica, de nome Lucie, constatou que quando sua atenção era absorvida por uma conversação com outrem, sua mão anestésica ouvia e respondia a questões, como a seguir: 'Você ouve?' perguntou-lhe Janet. 'Não', respondeu ela. 'Mas para responder você deve ouvir.' 'Sim, é quase isso.' 'Então como você consegue?' indaga Janet. 'Eu não sei.' 'Deve existir alguém que me ouve', insiste ele. 'Sim.' 'Quem?' 'Outra pessoa que não Lucie', ela respondeu.' "Ah! outra pessoa. Podemos saber seu nome?' 'Não', ela disse. 'Sim, será mais conveniente'. 'Bem, Adrienne, então'. Uma vez batizada com um nome forjado, a personagem subsconsciente se expandiu e exibiu melhor seus traços psicológicos, como testemunhou Janet. Cf. ibid., p. 51. Não ocorre por hipótese, ao leitor, o diálogo das veladoras no poema dramático "O marinheiro", de Pessoa? 85) Cf. ibid., p. 53. 86) Cf. ibid., p. 52-3 et passim. 87) Cf. ibid., p. 65. James cita o filósofo Laromiguière na passagem adiante, que vem bem a propósito: "Não existe ninguém cuja inteligência não abraça simultaneamente muitas idéias, mais ou menos distintas, mais ou menos confusas. Ora, quando temos muitas idéias ao mesmo tempo, uma sensação peculiar cresce em nós, a sensação de relação, ou sensação-relação (sentimentrapport). Vê-se imediatamene que essas sensações-relações, resultando da proximidade de idéias, devem ser infinitamente mais numerosas do que as sensações-sensações (sentiments-sensations) ou [do que] as sensações, que temos da ação de nossas faculdades. O mais insignificante conhecimento da teoria matemática das combinações provará isto … Idéias de relação se originam em sensações de relação. Elas são o efeito de nossa compraração de sensações e de nosso raciocínio sobre elas" (em itálico, no original). Laromiguière apud JAMES, William, loc. cit. 88) Cf. ibid., p. 71. 89) Terá passado pela mente do leitor o paulismo? 90) Cf. JAMES, William - Op. cit., p. 91 91) Cf. loc. cit. 92) Ibid., p. 96. 93) JAMES, William -"Ensaios em empirismo radical". In: Os pensadores. Op. cit., p. 116. 94) Cf. ibid., p. 117. 95) Cf. ibid., p. 117-8. 96) Mas o que vem a ser experiência pura? James define-a como "o campo instantâneo do presente, em todos os tempos". Ibid., p. 109. 97) Cf. ibid., p. 102. 98) Cf. loc. cit. 99) Cf. NATORP, Paul, apud JAMES, William - Op. cit., p. 103. 100) Ibid., p. 104. 101) Ibid., p. 104. 102) Ibid., p. 106. 103) Cf. ibid., p. 108. 104) Cf. ibid., p. 110. 105) Loc. cit. 106) Cf. ibid., p. 117-8. 107) Cf. ELIOT, T. S. - "Francis Herbert Bradley". Em sua: Selected prose of T. S. Eliot. Op. cit., p. 204. 108) Essays in radical empiricism foi impresso em 1912. 109) Cf. Schuchard, Ronald. - "Editor's introduction". In: ELIOT, T. S. The varieties of metaphysical poetry. Op. cit., p. 49. 110) Nas conferências de Eliot sobre a poesia metafísica James ressurge inúmeras vezes, inclusive assinalando seu contributo para a compreensão das relações conjuntivas. "Construída sobre filosofias empiristas anteriores, nas quais todo conhecimento é em última instância derivado de impressões disparatadas de reflexões e sensações, James declarou em seu Essays in Radical Empiricism (1912) que todo conhecimento deriva das relações conjuntivas da 'pura experiência', nome que ele confere ao 'campo instantâneo do presente', fluxo imediato de vida o qual fornece o material para nossas reflexões posteriores […]". Ao examinar, nessas mesmas conferências, a paráfrase poética de Crashaw ao Vexila Regis de Fortunatus, que por sua vez foi composto para a consagração de uma igreja em Poitiers (França), no séc. VI, eliot afirma acerca do poema ulterior: "observe 'o ninho de amores', a 'torrente amorosa', o noivado entre a água e o sangue, a relação pessoal do Senhor e do devoto. E observe (sic) a tendência para uma seqüência de emoções, cada uma em uma imagem separada, ao invés de [encontrá-las] em uma estrutura [encapsulada] de emoção. Posto que é a tendência do sensacionalismo fazer seguir uma impressão após outra, ao invés de construir uma dentro da outra; o que nos leva ao Empirismo Radical de William James" (em itálico no original). Cf. ELIOT. T. S. - The varieties of metaphysical poetry. Op. cit., p. 169-70. 111) PESSOA, Fernando - "A nova poesia portuguesa no seu aspecto psicológico". Em sua: Obras em prosa. Org., introd. e notas de Cleonice Berardinelli. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1993 (Biblioteca Luso-Brasileira; série portuguesa), passim. 112) Cf. Ibid., p. 382-3. 113) Cf. loc. cit. 114) Cf. ibid., p. 384-5. 115) Cf. ibid., p. 386, et passim. 116) Cf. loc. cit. 117) Cf. PESSOA, Fernando - "Apontamentos para uma estética nãoaristotélica". Em sua: Páginas de doutrina estética e de teoria e crítica literárias. Textos estabelecidos e prefaciados por Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho. Ática, Lisboa, s.d., p. 159, et passim. Também: CAMPOS, Álvaro de Apontamentos para uma estética não-aristotélica I. Athena. Lisboa, v. 1 (3):113-5, dez/1924; e, do mesmo: Apontamentos para uma estética nãoaristotélica II. Athena. Lisboa, V. 1 (4): 157-160, jan/1925. 118) Ibid., p. 152. 119) JOHNSON, Samuel - Lives of the poets. The lives of the most eminent English poets: with critical observations on their works. London, T. Longman, 1794. (4 v). 120) Aqui, por exemplo: "penso que se escrevi bem sobre os poetas metafísicos, foi porque foram poetas que me inspiraram. E se sou apontado por haver tido qualquer influência em promover um interesse mais amplo a respeito deles, foi simplesmente porque nenhum outro poeta anteriormente foi tão profundamente influenciado por eles quanto eu fui". ELIOT, T. S. - "To criticize the critic", Em sua: To criticize the critic and other writings. New York, Farrar, Straus and Giroux, [1965], p. 22. 121) ELIOT, T. S. -"The metaphysical poets". Em sua: Selected prose of T. s. eliot. Op. cit., p. 59-67. 122) Id., "Andrew Marvell". Em sua: op. cit., p. 161-71. 123) SENA, Jorge de - "Introdução geral". In: PESSOA, Fernando - Poemas ingleses (obras completas de Fernando Pessoa). Lisboa, Ática, [c. 1972], (col. 'Poesia', v. 2), p. 69. 124) Ibid., p. 50. 125) Cf. ibid., p. 78. 126) Maria da Encarnação Monteiro parece ter encontrado nos sonetos ingleses de Pessoa, tal como seu conterrâneo, algo cujo nome, contudo, ela parece desconhecer, mas que, como já sabemos, trata-se justamente da sintaxe metafísica que Sena apontou. Diz ela: "a verdade é que aquilo que em Shakespeare e em certo setor da poesia isabelina […] é instrumento de expressar, por meio de argúcias do pensamento, as complexidades do sentir, reveste-se no poeta português de diverso significado, dado que abandona a esfera do sentimento ou parte da sensação para penetrar e se expandir largamente no mundo das idéias" (itálicos nossos). MONTEIRO, Maria da Encarnação apud SENA, Jorge de, loc. cit. Talvez Encarnação Monteiro tenha se deixado influenciar pela carta de Pessoa a Cortes-rodrigues, de 1914, na qual alude a uma adaptação moderna que fizera de uns sonetos de Shakespeare nos quais localizara uma complexidade que o atraíra. Tal adaptação tratava-se muito certamente dos "35 sonnets" - e a complexidade a que Pessoa se sentiu atraído a modernizar havia sido vertida na poesia de Donne e de seus pares metafísicos, antes de Pessoa empolgá-la. 127) PESSOA, Fernando - "O que quer Orpheu?" Em sua: Obras em prosa. Op. cit, p. 408. 128) Gourmont, Remy de, apud ALLAN, Mowbray - T. S. Eliot's impersonal theory of poetry. Lewisburg, Buckewell University Press, [ 1975], p. 38-9. 129) PESSOA, Fernando -"Sensacionismo". Em sua: Obras em prosa. Op. cit., p. 441. Seus apontamentos, inúmeros, acerca do sensacionismo, bem como sobre o movimento do Orpheu, localizáveis na mesma obra, reafirmam de maneira indiscutível a importância do pensamento de Gourmont em Pessoa. 130) Ademais, Pessoa pronunciou-se acerca das influências de Walt Whitman de modo incontestável: "De aqui de Portugal, todas as épocas no meu cérebro, / Saúdo-te, Walt, saúdo-te meu irmão em Universo, […] / Sou dos teus, tu bem sabes, e compreendo-te e amo-te, / […] / E conforme tu sentiste tudo, sinto tudo, e cá estamos de mãos dadas, / De mãos dadas, Walt, de mãos dadas, dançando o universo na alma […]". Cf. PESSOA, Fernando - "Saudação a Walt Whitman". Em sua: Obra poética. Org. introd. e notas de Maria Aliete Galhoz. 2. ed., Rio de Janeiro, Aguilar, 1965, p. 336. Em nosso ensaio intitulado "Eliot, Pessoa e a tradição metafísica", p. 87-183, op. cit., a influência de Whitman em Pessoa é mais detidamente analisada. Nesse exame apontamos, em Pessoa, "o progressivo domínio do pólo negativo da vivência individual", o que o afasta da rota percorrida pelo mestre americano. Cf. Ibidem., p. 144. 131) Um interessante paralelismo: Laforgue utiliza do lamento (Les complaintes) subvertendo suas características, nele injetando uma lírica antifrásica, a ironia e o distanciamento. Pessoa serve-se da ode, subvertendo-a a seu modo, também: extirpa dela o cantar pacífico e monódico que sempre a caracterizou, orquestrando-a para a execução de uma sinfonia disparatada ("Ode triunfal") e apagando dela seus traços solenes e graves - e realizando, ademais, uma ode canhestra que é um contraponto evidente ao lamento (também canhestro) de Laforgue. "Ode marítima", igualmente sinfônica, mas sem euforia e arroubos, traduz, em sua abertura uma inversão inicial de sinal dos versos iniciais de "O sentimento dum ocidental", de Cesário Verde - e evidencia - não somente por isso - o peso que Pessoa atribui à influência de Cesário Verde em sua obra, e não somente na dele. 132) A propósito da lírica de deambulação de Cesário Verde, pode o leitor examinar nossa tese Cesário Verde: um trapeiro nos caminhos do mundo (tese de doutoramento, policopiada). São Paulo, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1992. Esse trabalho foi revisto posteriormente, recebendo novo título: Cesário Verde: um poeta no meio-fio do paraíso (estudo literário), que será publicado em 2005. 133) Cesário inspirou-se nesse poema francês para cunhar "Meridional". Vide VERDE, Cesário - Obra completa de Cesário Verde. Op. cit., p. 40 et sqs. 134) Referimo-nos aqui, mais precisamente, ao poema "A débil", de CesárioVerde, em que é introduzida uma presença feminina que, inicialmente entrevista pelo sujeito do poema através de uma porta envidraçada de um café, ganha sua atenção, pela simplicidade, pureza e naturalidade. Tal personagem é inspirada em parte em "À une mendiante rousse", enquanto o motivo do poema cesarino foi cunhado a partir de "À une passante", cuja personagem feminina inspirou por seu turno "Deslumbramentos". Nesse poema, a personagem, Milady, atrai os olhares e o interesse de um sujeito lírico transeunte por meio de outros atributos: o de mulher fatal. Cf. ibid., passim. 135) Que auxiliou o poeta português a compor a cidade noturna de "O sentimento dum ocidental", bem como serviu como referência, com seu velho burgo de labirintos lodosos, sob a opaca reverberação dos lampiões de uma rua de Paris, para que Cesário antepusesse a tudo isso seu reverso português: o bairro moderno e pacífico, coado de sol, presente em "Num bairro moderno". 136) Vide BAUDELAIRE, Charles - Oeuvres, Paris, Gallimard, 1931-2 (Pléiade), 2 v. 137) VERDE, Cesário - "Num bairro moderno". Em sua: Obra completa de Cesário Verde. Op. cit., p. 67 et segs. 138) Fazemos estampar em seguida o primeiro e terceiro quintetos do poema: "Faz frio. Mas, depois duns dias de aguaceiros, / Vibra uma imensa claridade nua. / De cócoras, em linha os calceteiros, / Com lentidão, terrosos e grosseiros, Calcam de lado a lado a longa rua. // […] Em pé e perna, dando aos rins que marcha agita, / Disseminadas, gritam as peixeiras; / Luzem, aquecem na manhã bonita, / Uns barracões de gente pobrezita / E uns quintalórios velhos com parreiras." VERDE, Cesário - "Cristalizações". Em sua: op. cit., p. 845. 139) "Toda a minha sensibilidade / Se ofende com este dia que há de ter cantores / Entre os amigos com quem ando às vezes - / Trigueiros, naturais, e bigodes fartos - / Que escrevem, mas têm partido político / E assistem a congressos republicanos, / Vão às mulheres, gostam de vinho tinto, / De peros ou de sardinhas fritas…" Nestes versos inaugurais de "Manucure", já examinado, pode agora o leitor reconhecer a ironia crítica Laforgueana, o olhar cesarino sobre o cotidiano - e fronteiriço, cozido a tudo isto, o evidente desencanto oriundo do paradoxo da ternura vazia. 140) "Manucure" deixa patente para quem quer ver que Sá-Carneiro pretendera, também, homenagear Laforgue, transladando para seu universo referências extraídas cuidadosamente da família lexical laforgueana, reimplantando-as em seu sistema poético com desenvoltura e naturalidade - e tracejando evidentes paralelismos entre sua crise cosmopolita e a do autor francês. Para isso nada melhor do que um paradigma da modernidade: a máquina de imprensa. Ricardo Daunt (Brasil, 1950). Romancista e ensaísta. Autor de livros como Manuário de Vidal (1981), Anacrusa (2004), e T. S. Eliot e Fernando Pessoa: diálogos de New Haven (2004). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro. revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Acerca de la creación literaria y artística y su importancia como vía de conocimiento Adriano Corrales Arias . La creación literaria y artística es fruto de dos complejos y tensos momentos, características o espacios, en la condición sociohistórica del creador: su desajuste con el mundo, su disconformidad, su insatisfacción, su disgusto, es decir su “no estar” estando, lo que explica su rebeldía o su autoexilio; y las ansias de inmortalidad (entendiendo esta palabra no en su acepción religiosa sino en la comprensión amplia y terrenal; como diría Cervantes: dejar huellas), su decir no pensando solamente en los contemporáneos sino en la posteridad, ése inútil intento por trascender nuestra propia y prosaica muerte. Por supuesto, no dejo de lado las capacidades creadoras del artista o escritor. Sus características emocionales, psicológicas e intelectuales, eso que conocemos como inteligencia, sensibilidad y talento; además de esa especie de “llamado” a la creación. Ciertamente hay una especie de predisposición a crear en el artista y escritor (que prefiero llamar Poeta, porque así se llamó en un principio y su tarea es crear poesía independientemente de la forma que adopte) en tanto “necesidad de decir”, que se le impone, como vocación u oficio, cuando realmente la asume. Y la asume con lucidez cuando posee los instrumentos precisos para hacerlo, además de la labor y la disciplina que implican el hacerse de un lenguaje y un estilo. Precisamente me interesa insistir en esa “necesidad de decir”. Hecha la digresión aclaratoria, regreso a ello: El primer momento, característica o espacio, el Poeta (que entiendo en extensión como intelectual, el perfecto intelectual que trasciende las “rejillas” de la ratio occidental) lo expresa básicamente de dos formas: la crítica visceral, ácida, profunda y lúcida de su realidad, concentrando sus dardos en lo que lo hace sentirse desajustado, insatisfecho e incómodo (la avaricia, la usura, la injusticia, la violencia, el terror, el absurdo, el racismo, la estulticia, y un largo etcétera.); y/o rescatando lo más tangiblemente humano, lo representativo de ese margen de humanidad que nos permite aún diseñar sueños y utopías, lo perfectiblemente propio de la condición humana (la solidaridad, la ternura, la tolerancia, el equilibrio, la armonía, la opción por los excluidos y el afán de lucha con y por los demás, la misma creación estética, etc.). Debo decir que entre esas dos formas de expresión coexisten diversas maneras de enfrentarse a la creación, las cuales podrían considerarse como intermedias, o derivativas, de las mismas: el arte por el arte, la evasión, la nostalgia de la naturaleza, lo fantástico, ¿la abstracción?, ¿la ciencia ficción?, etc. Pero de la elección de aquéllas dos grandes formas, o de sus maneras intermedias o derivadas, se seguirá, fundamentalmente, la aparición de los diferentes géneros artísticos y literarios, así como las múltiples posturas existenciales, ideológicas y conceptuales de sus creadores. Ahora bien, superando, o tratando de superar, el amplio y a veces inútil debate posmoderno al interior de la filosofía y de amplios sectores de la cultura – especialmente en lo referido a la metafísica- , o lo que se ha denominado como crisis del humanismo; además de los tópicos de la docencia académica y de la complacencia mercadotécnica en la crítica literaria y artística; estoy convencido que el arte y la literatura (entendida esta última como arte en su máxima aspiración: poesía: lenguaje que no copia al mundo al que se refiere sino que abre “otro mundo” que igual nos permite mirar y entender, de alguna manera, “el nuestro”) son, prácticamente, la única vía para comprender e interpretar “el mundo” y sus pulsaciones más humanas que son las espirituales; es decir, la emocionalidad de una cultura, una etnia, un conglomerado humano, una época. Me apoyo en el francés Paul Ricoeur:, “La función principal de la obra poética, al modificar nuestra visión habitual de las cosas y enseñarnos a ver el mundo de otro modo, consiste también en modificar nuestro modo usual de conocernos a nosotros mismos, en transformarnos a imagen y semejanza del mundo abierto por la palabra poética (Ricoeur, Teoría de la Interpretación, S.XXI, 1999a: 57). Probablemente por eso el arte está más cercano a la religión, al mito, a la magia, que es de donde finalmente procede. Las interpretaciones históricas, políticas, socioeconómicas, antropológicas, psicoanalíticas, estéticas, incluso semióticas o sociocríticas, filosóficas en general, por su instrumental o metodología racionales o racionalistas, con ese afán de cientificidad y pertinencia epistemológica que arrastran, además de la casi infalibilidad apoyada en las certezas de su propia mirada, no han profundizado, hasta ahora, en esas pulsaciones, tan depuradamente, como lo han hecho el arte y la literatura, desechando peyorativamente el mito y los arquetipos. De hecho, los planteamientos de la estética y las teorías literarias y del arte no serían posibles, o carecerían de sentido, sin la misma práctica literaria y artística. Son precisamente esas pulsaciones, individuales y colectivas, las que definen en última instancia, la identidad del individuo y de su comunidad, contrario a lo que han venido sustentando el racionalismo y la metafísica. Es desde aquéllas que nos replanteamos el ser y el estar en la cultura y con los demás. Dicho de otro modo, es esa corriente, que es la energía vital de un pueblo, la que nos posibilita comunicamos y modelar nuestro ser en correspondencia con la otredad. Por eso no es casual que el Pragmatismo del filosofo norteamericano Richard Rorty busque en la literatura las fuentes de la ética colectiva y de la moral individual. Para las culturas periféricas de nuestros países, esta claridad meridiana acerca de nuestro movimiento vital, es de suma importancia para sabernos otros en la globalizante y excluyente cultura occidental. Otros significa ser nosotros, es decir, individuos y pueblos excluidos por el capital simbólico de occidente, actualmente administrado por la guerrerista enseña imperial del norte, que nos mira como su traspatio y su mercado inmediatos, jamás como posibles interlocutores. Por ello, para buscarnos debemos abandonar sus espejos, es decir, sus maneras de “hacer arte y filosofía”. Es hora de volvernos hacia nosotros mismos, sin perder la mirada periférica, para bucear en nuestra rica y plural creación artístico / literaria, desde donde debemos revelarnos como posibilidad de cambio a través del aumento de la imaginación y de la intensidad compartida en el viaje por la proyección estética. Revelación significa tomar conciencia, por vez primera, del respeto que nos debemos a nosotros mismos ante los demás, los otros, que, para nuestro caso, son los pueblos y etnias explotados y separados por el capital, quienes habremos de fraguar las alternativas para reinterpretar (¿desconstruir?) la Historia, interviniendo en la transformación de nuestro entorno vital, amenazado por el consumismo ciego de un sistema planetario que se devora a sí mismo. En otras palabras, se trata de comprender el hecho estético como un espacio sagrado y soberano (en el sentido que le da Georges Bataille a estos dos términos) de intersubjetividades que dialogan, sustentadas por el plano de la comprensión y la solidaridad antropocósmica. Y así como nuestra tradición intelectual no cuenta con la rigidez y amplitud de los grandes sistemas filosóficos de occidente, es decir europeos, habremos de constatar que la historia de nuestro pensamiento está en las obras de los creadores artísticos y de los escritores, nuestros Poetas, además de los intelectuales forjadores de proyectos utópicos. Por eso la reflexión periférica debe centrarse en las pulsaciones espirituales y emocionales (lo que Bataille llama el ser de la intimidad dedicado a la creación de valores no utilitarios, lo sagrado y soberano referido al quiebre de la producción que esclaviza al ser humano) de nuestros pueblos que, ya es tiempo de reconocerlo, no solamente tienen Historia sino Prehistoria (precolombina) como bien lo subraya el erudito costarricense Luis Ferrero. Es urgente, entonces, acudir a las literaturas y artes indígenas, a esas maravillas de la poesía náhuatl, por ejemplo, con joyas tales como las del poeta príncipe Netzahualcoyotl, pero, obviamente, sin descuidar las tradiciones de otras culturas como la china, la mesopotámica, la egipcia, etc., así como el ancho espectro greco-latino y judeo-cristiano conocido presuntuosamente como civilización occidental. Ese acudir debe hacerse holísticamente, despojándonos de antro y logocentrismos, y armados de una “arqueología” que exhume las discontinuidades y las exclusiones a partir de una hermenéutica que reconsidere los diversos legados artísticos y culturales de la humanidad, así como la órbita y sus influencias en el cronotopo de su posibilidad. Pero entonces habremos de regresar al principio: la reconsideración del artista como Poeta: intelectual apertrechado de una inteligencia, talento, voluntad y sensibilidad especiales para investigar en su entorno desde otra perspectiva, hurgando en los depósitos socioculturales y psicológicos menos frecuentados por la ciencia, esas pulsaciones espirituales y emocionales invisibilizadas que no han podido describirse ni clasificarse en las taxonomías de la Episteme (postardo)moderna. Para ello habrá de efectuarse una revolución epistemológica, o una ruptura en el archivo del conocimiento occidental (que es el que nos domina con su mirada panóptica y su disciplina económica de la vigilancia y el castigo), de tal manera que la creación artística y literaria ocupen el sitio que les corresponde, así como quienes se ocupan de ello: los hacedores de obras artísticas y literarias. Estoy hablando, se entiende, de otro mundo posible, de la necesaria utopía que los llamados posmodernistas han tratado de descontruir. Porque, siguiendo a Bataille, si el ser humano es el ser que crea sentido, el Poeta sería el creador de sentido por excelencia y por ello el “fabulador” (en el sentido de imaginar tramas y argumentos; recuérdese que la razón condena a la fábula, y por ello al fabulátor, definiéndola como “acción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad”) más importante de la utopía. El mundo de la creación artístico-literaria es el mundo propicio de la utopía pues, precisamente, genera otras verdades más allá de la Verdad que se encierra en la razón práctica o instrumental, sea, de la virtualidad real y de la producción/explotación/consumo que enajenan. En otras palabras, el arte y la literatura son el otro mundo posible. Pero, en ese otro mundo posible ¿habría también artistas? Esos complejos y tensos momentos, características o espacios, de insatisfacción y de ansias de inmortalidad, ¿serán necesariamente una condición humana permanente - más allá de los contextos socioculturales, políticos y económicos - que debe expresarse con acuciosidad? ¿En el terreno de la Utopía también se precisará de la Poesía? Claro que sí: el Poeta será el ciudadano común en una sociedad liberada ya de la cadena humillante de la producción y el consumo, pero no por insatisfacción, tedio o ansias de inmortalidad, sino porque la necesidad de comunicación solidaria antropocósmica será tal que su estado “natural” será el estético. Podrá, como planteó Foucault, concebirse a sí mismo como una obra de arte. Sin embargo, mientras no convengamos en que el arte, incluida de una vez por todas la literatura, sea la Poesía, es la vía de conocimiento más “íntima”, es decir, integral, que tiene el hombre a su disposición, y el Poeta el intelectual más orgánico que podamos concebir, no podremos responder a esas dramáticas, aparentemente tautológicas, cuestiones. Porque el conocimiento, es decir, la Utopía, solamente encuentra sustento en el ancho y polisémico terreno de la Poesía. Adriano Corrales Arias (Costa Rica, 1958). Poeta, novelista y editor. Dirige la revista Fronteras. Ha publicado: La suerte del Andariego (Poesía, 1999), Poesía de fin de siglo: Nicaragua-Costa Rica (Antología, 2000, coantologador), y Balalaika en clave de son (Novela, 2005). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Armando Silva Carvalho: o texto não faz nem refaz o mundo (entrevista) Ana Marques Gastão . Este é um livro “olhando com Fiama”, mas não só. Parte da literatura para a vida. Dir-se-ia um poliedro onde cabem as respirações do viver e da natureza, do desejo e do desencontro, os afectos, da família também, do envelhecimento e da morte, de um certo apaziguamento metafísico. Obra vigilante no uso da linguagem que escuta e para isso deita fora o lamento, vivendo das coisas poucas na certeza de que tudo declina nas águas da memória. Armando Silva Carvalho (n. 1938), é poeta, ficcionista, tradutor. Revelado em 1965 com Lírica Consumível (Revelação APE), publicou livros como Armas Brancas (1977), Técnicas de Engate (1979), Sentimento de um Acidental (1981), Alexandre Bissexto (1983), Canis Dei (1995), Prémio Pen Clube ex-aequo, Obra Poética (1998) e Lisboas (2000), Prémio Luís Miguel Nava. Em prosa, romance ou conto, escreveu, entre outros, Em Nome da Mãe (1994), O Homem que sabia a mar (2001), Prémio Fernando Namora, e Elena e as Mãos dos Homens (2004). [AMG] AMG – O poema inaugural de “Sol a Sol” define a ternura e a admiração entre dois grandes poetas: Fiama Hasse Pais Brandão e Armando Silva Carvalho. O “ser-se criança um do outro” na amizade transformou-se em matéria de um livro, matéria simples, porque límpida, cristalina no uso da linguagem, mas densa no conteúdo. Esta obra não é, no entanto, uma escrita a quatro mãos? ASC – Não somos pianistas, nem eu nem a Fiama. Isto no sentido da exibição em público, do concerto programado. Eu tinha à minha frente uma pauta, a escrita da Fiama, com os seus dizeres, que partiam duma poética filosófica e desembocavam no mais primitivo franciscanismo. O caso de crianças um do outro, com toda a carga de ternura que encerra, não vai muito além do literário. Convivi com a Fiama em tempos já antigos, faculdades, política. Depois fomos envelhecendo: ela no seu quadro clínico que os deuses não resolvem, eu com todas as paredes da razão a darem-me música de câmara. A última vez que a vi ela já não me viu. AMG – Duas crianças a caminho da escrita, jogando às escondidas, duas “bocas escassas”, duas falas, a de Fiama pensante, a de Armando Silva Carvalho puxada pela nora, pelo “animal do sexo. Um encontro em livro para falar do mundo? ASC – Os encontros nos livros são os melhores encontros. Não azedam o diálogo, as falas não se atropelam. Trouxe para dentro dos textos duas infâncias opostas. A minha vinha do campo: do sol a sol dos jornaleiros, da rude relação com a subsistência, do sexo à pressa entre matas e moitas. A da Fiama, julgo eu, foi mais de êxtase, num jardim perto do mar, com a descoberta da vida após a leitura dos mitos. AMG – Um encontro que poderia não ter acontecido, ambos “discípulos de um deus embriagado”? ASC – Se nos tivéssemos visto em crianças, tenho a certeza que não daríamos um pelo outro. Estas crianças de agora e no texto, são liberdades dum terreno poético onde todos nós gostaríamos de jogar, a fazer de conta. E o deus embriagado é o deus dos versos, um pouco irresponsável e muito presumido a interpretar o mundo. AMG – E onde fica a humanidade do relacionamento entre amigos/poetas, que está com certeza na sua memória? O atropelo é vida, não literatura… ASC – As relações na vida não são as relações na escrita. Quando você escreve uma carta de amor, como poeta que é, está já a trair a relação humana, pois a escrita é totalitária e só reflecte o que mais de si quer expor e esconder em termos literários. Assim o outro, o amigo, não é atropelado no texto nem o próprio autor, e aquilo a que chama humanidade no relacionamento pode ter até, mesmo na traição, uma dignidade que supera os acasos de humor do amor e da amizade ao vivo. AMG – Jogo de encaixe, de vozes, aberto a diversos registos poéticos, à intertextualidade, à citação (não só Fiama passa por este livro), “Sol a Sol” é uma obra da exaltação do mínimo. O vasto mundo capta-se nas coisas poucas. Assim se lima a vida? ASC – Ninguém lima vida, a vida é que nos lima, nos lixa, desculpe lá a grossura do verbo. Mundo vasto mundo, já disse o outro que não se chamava Raimundo. Sabe, as rimas são o meu fraco, e também a facilidade nas aliterações. Se não me tivessem mandado estudar, provavelmente devia ter ficado poeta popular, de rima certa, e redondilha a saltar da ponta do lápis. A exaltação do mínimo em termos de polifonia foi um arrojo meu que os poemas podem suportar. Cantar com a voz dos outros misturada, faz com que no sintamos menos sós, e faz com que a nossa mesquinhez se disfarce sobre a capa das irmandades electivas. E Fiama é uma criatura poética que merece ser exaltada, no mínimo como no máximo. AMG – AMG – O livro, na sua heterogeneidade, incorpora as respirações do viver, da natureza. Faz corpo com o mundo, não o “mundo quedo” de Fiama, mas o que se paga com o corpo no abismo de uma imagem de amor. Nunca alcançamos? ASC – Há gente que gosta de alcançar, seja a hipotética perfeição, seja o consenso do mundo, que no fundo é uma forma de fama. Eu apenas pretendo pagar o que julgo ter-me sido concedido como um direito. Direito ao amor, ou melhor, à imagem do amor. Direito ao pensar e ao sentir o mundo em que vivemos. Se acaso isso for interpretado como um caminhar ao lado ou dentro do mundo, eu ficarei bem com a minha consciência. Tudo isso tem um preço enorme, é claro. E as palavras deste livro estão aí para quem queira lê-las naturalmente. A exposição pública só se salva se for a tentativa dum equilíbrio instável junto daquilo a que chama o abismo. AMG – Em vários momentos do livro, fala-se do amor como construção, imaginação. Vêem-se os seres vivos desaparecer da superfície do texto, porque se transformam em escrita. Escrita e vida fundem-se como? ASC – Quero que fique bem definido que não embarco nada nessas teorias da transubstanciação do texto com que alguma gente anda por aí a incensar certas escritas de forma obstinada e religiosa. O texto não faz nem refaz o mundo. Quando muito pode fazer surgir um mundo de fulgor que, obviamente, nunca vai além do texto que o segrega. A vida é a vida, a palavra é palavra. A fusão da vida pela palavra é uma forma indirecta de viver, e até pode ser que seja mais rica de sensações. Não é por meio do mais fascinante tecido poético que o texto se faz mundo em totalidade majestática e intemporal. E não saindo do texto, do meu, se os seres desaparecem nele é porque já começaram a desaparecer duma forma de vida que não corresponde à minha noção de vida humana, em termos amorosos ou éticos. Tudo é menos e tudo é mais daquilo que é, escreveu Paul Celan. AMG – Esta selecção de poemas também é “pensativa”, na medida em que reflecte sobre grandes temas da literatura, como o amor, o envelhecimento ou a morte. Concorda? ASC – Quando se bate no poeta porque ele pensa, e muita gente neste país gosta da lírica do derrame ou da paisagem interior ensopada em lágrimas refinadíssimas, é preciso ter os flancos protegidos e para isso nada melhor que ter um pouco de “cabeça” nos lugares mais sensíveis do texto. Ora os grandes temas da literatura sempre foram, em primeiro e último lugar, a vida travestida dos sujeitos que a produzem. Vladimir Nabokov, um senhor que de modesto tinha pouco, dizia que tinha à sua volta, sobre ele, dentro dele, as ferramentas da sua escrita, com um brilho tão acerado como os instrumentos enfiados nos bolsos e nas dobras dum fato-macaco magnificamente rebuscado dum mecânico. AMG – Nada que não condiga com a sua escrita/vida… ASC – Sim, claro, com a idade que tenho, com a vida que levo e vejo os outros levarem à minha volta, a frase a cheirar a operário na boca do aristocrata homem das borboletas, é uma boa resposta para os temas do envelhecimento, meu e do mundo, do meu mundo. Como dizem os nossos políticos, deixemme trabalhar com as minhas ferramentas nos grandes e pequenos temas da literatura através da vida que melhor conheço, a minha. AMG – Em “Sol a Sol” acolhem-se os dias vividos no desencontro, no declínio, sente-se o desfolhar da memória. Caminha-se como no escuro? ASC – Mal de nós se o sol não surgisse em plena noite. Mesmo quando se tem o amor todo para devastar, e o tempo é ainda um conceito que não se liga aos dias e muito menos ao corpo. AMG – Impõe-se, em “Sol a Sol” uma liquidez espiritual, a da “oração à planta mais humilde”? ASC – Eu quando digo natureza não penso nas litografias românticas dos poentes, nem sequer nos programas lúdicos da Discovery. Penso na consciência humana e no seu habitat. Penso nos botânicos, nos zoólogos e noutras criaturas que estudam o planeta e a vida nele, já que Deus parece apostado em levar por diante um qualquer apocalipse tecnológico. Ao falar religiosamente das plantas estou a admirar aquele viver num silêncio infatigável, sem a agressividade pela sobrevivência dos outros seres. AMG – Que relação estabelece entre “Canis dei” e “Sol a Sol”, na perspectiva de uma metafísica? No primeiro respirava-se a música de deus no ar da peste, no segundo a matéria de deus deita-se a seu lado no lençol? Necessidade da tal “noite calma”? ASC – Considero a ideia de Deus uma aquisição pessoal assumida em Canis Dei. Neste meu último livro tento ir mais longe e seguir as margens duma sensibilidade mais apaziguada por certas visões ou percepções, no meio das catedrais tecnológicas do massacre. Mas a calma da noite será sempre uma aparência mística. AMG – No fundo, há sempre, em toda a sua obra poética, a busca de um lar… ASC – O lar seria evidentemente uma natureza melhor assumida e que nos levasse à lei da família dos afectos, dos clãs, dos ciclos do ser. AMG – Espreita, embora muito discretamente, a sua dimensão ético-política neste livro. A escrita, a sua, não poderá deixar de passar por aí? ASC – Quando escrevo não deixo de ser um cidadão da vida. E não gosto muito de ouvir os que afirmam o contrário ou assumem uma posição de indiferença absoluta ou até desprezo pelos movimentos do corpo cívico, o que não tem nada a ver com arregimentações partidárias. A literatura, se quiser continuar, não pode ficar parada e pasmada na palavra pela palavra, nem cair nas mãos do negócio. AMG – Este é o livro de um poeta experiente que consegue encontrar na escrita aquilo que Kant chama prazer desinteressado? ASC – Os prazeres desinteressados só devem existir na cabeça do filósofo. Ao escrever este livro, a minha experiência repetiu-me o mesmo estado de dúvida perante o texto e também certos tiques hedonistas sempre que limpo as palavras depois dum banho mais ou menos revelador. Como na câmara escura, é preciso ter os olhos habituados aos trabalhos de parto. AMG – O epíteto de sarcástico tem ocultado a sua mais relevante característica, o lirismo, lirismo crítico como já lhe chamei. Que é, afinal, o canto lírico para si? ASC – Fiquemo-nos pela sua definição que aceito com agrado. Mas ocorrem-me ainda palavras como vigilância, pudor, uma certa visão do comum da terra, algumas noções de justiça, dignidade, e por que não de fraternidade. Para mim, o canto lírico é aquele cuja fragilidade subjectiva se sustenta também da respiração dos outros, numa terra pouco a pouco irrespirável. Ana Marques Gastão (Portugal, 1962). Poeta, crítica literária e redatora cultural do Diário de Notícias, de Lisboa. Autora de livros como Terra sem mãe (2000), A definição da noite (2003) e Nós/Nudos (2004). A fotografia do poeta está assinada por José Carlos Carvalho. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Demônios, paraísos perdidos & telejornais José Carlos A. Brito . Ao surgir o poema de Floriano Martins, “Jornal nacional”, coincidentemente eu estava tecendo idéias sobre o papel de representação da notícia – como forma massificada a atingir a sociedade nos dias de hoje – comparando-a, sócioanaliticamente, diríamos, com outras formas do mundo antigo, como é o caso da tragédia grega ou poemas épicos que misturavam arte com a notícia, representada e refletida. Mas é de indagarse: o que haveria de comum entre as duas? Diria: o prazer do espetáculo que, inclusive, com relação à “verdade dos fatos” pode ser re-imaginado. A mensagem comunicativa, ao ser lida (ouvida ou assistida) pode provocar, no receptor, atitudes opostas em relação ao objetivo desejado por quem dirige a comunicação. No momento em que recebi o poema de Floriano, decidi “utilizá-lo” para completar o texto sobre o tema, fazendo essa analogia que não deixa de ter uma certa sincronia. Vejamos o poema: Jornal Nacional Quando um penitente investe contra ele próprio / é para livrar-se não exatamente de uma tentação externa, / mas sim do inferno que há em si mesmo. / O homem é fruto do que cria em sua mente. / Na realidade, o mundo é bem mais simples. / A exploração do desejo é que dá ensejo a esses monstros tão hábeis. / E nossa idéia de catástrofe adora ver o eixo deslocado, / de um dia para outro, em um telejornal qualquer. / Vítimas aqui ou acolá, mas sempre vítimas. / As vítimas não são reais. Apenas o telejornal é real. [Floriano Martins] A tragédia grega, ao ser representada na atualidade é apenas uma peça teatral, mas, de certa forma significava para a civilização da época o que para nós, hoje, é a mídia eletrônica de massas, acrescida da imprensa feita de jornais e revistas (e em outra escala dos livros e filmes); o mesmo acontecia com os poemas épicos, a exemplo da Ilíada e da Odisséia, entre outros. Obviamente naquele tempo havia outras formas práticas de comunicação da mensagem que foram assimiladas também pelo teatro, em personagens na forma de mensageiros e narradores. Com a diferença que a tragédia e os poemas cantados ao som da lira, como arte, incorporavam-se a certo âmbito psicológico de profundidade, pois eram cercados por um complexo de idéias e pensamentos que traduziam a alma do ser humano da época e suas necessidades ligadas ao espírito. Se pudéssemos chamar a isso expressão de uma verdade, onde a vida imaginária (dos arquétipos) fundese com a obra, essa “verdade” aparecia plena de vitalidade na forma trágica da representação. Por tal motivo, a tragédia cumpria várias funções, além de avançar a religiosidade; contribuía para a estruturação das relações de poder e até sua contestação, pois ali estavam fixados esses movimentos. Não seria exagero afirmar que qualquer sociedade necessita da arte, da poesia, da literatura, porque só através delas consegue entender os conflitos, os dilemas e tragédias individuais, que dão consistência e significado à personalidade social. Mas como somente alguns produzem as formas artísticas, a tal nível, todos podem vivenciá-las ao assistir as expressões mais acabadas da arte, e confrontá-las, no dia a dia, com sua própria realidade pessoal. E até, a partir disso, encontrar possibilidades próprias de criar. Diríamos que, numa comparação à primeira vista, a mídia atual apresenta uma máscara de outro tipo, na comparação com os dramas anteriores: hoje assistimos a uma trágica voracidade, no mundo, muito mais acentuada e revestida pelos símbolos mórbidos da propaganda. E a morbidez é dada pelo predomínio do mercantil destrutivo, que se impõe às formas espirituais de preservação e exerce o aniquilamento irracional de cunho patológico. Mas, claro, se o mercado dirige a ação, os símbolos representativos desse desequilíbrio nem sempre terão conseqüências mórbidas, porque ao tratarse de símbolos, por estes serem autônomos, poderão tomar uma forma diametralmente oposta, transformada pelo poder criativo dos espectadores. E nisso está a essência do prazer, inerente à forma representativa e que fala à alma do espectador, mal ou bem… a exploração do desejo é que dá ensejo a esses monstros tão hábeis… como diria o poeta. A tragédia grega (e supostamente a comédia) foi a grande ficção de massas para re-viver, através da representação, uma certa mentira da realidade, que não seria mentira no sentido de contrário da verdade, mas na forma de imaginação criativa, por ser a negação da suposta verdade do real. E essa imaginação, recriada, torna-se necessária para rever a vida através da repetição representada. Tal fenômeno está bem próximo à cultura televisiva, que é a leitura protegida (releitura) da sociedade sobre seus próprios medos. E proteção contra o sentimento de medo (ou de culpa?) ancestral, que o ser humano carrega, como arquétipo de uma imagem primordial, já incorporada “geneticamente” à sua psicologia individual, por intermédio da coletiva. Ou a representação – que na sociedade moderna se dá pelos meios de comunicação de massa – como experiência para exorcizar esse medo, através de figuras vivenciadas da re-apresentação; e nos versos… quando um penitente investe contra ele próprio / é para livrar-se não exatamente de uma tentação externa, / mas sim do inferno que há em si mesmo… diríamos que o poder investe com formas que “tranqüilizariam” o individuo para aceitar a obediência e reprimir o instinto de contestação, engolindo-o para dentro do inferno do si mesmo. Portanto, o reverso da moeda é que ele acumula ali – nas repressões embutidas no inconsciente? – o material criativo, e explosivo, das futuras manifestações. Trata-se de um sentido de fazer criativo o arquétipo demoníaco que habita esse inferno de riquezas acumuladas (Vejam-se obras poéticas de Willian Blake, ou “Paraíso Perdido” de John Milton, por exemplo). E o poder sempre atribuirá a um ente “maléfico” a criatividade rebelde que o questione com profundidade. Assim, poderíamos dizer que nas cenas de tragédia (em qualquer tempo histórico) há sempre a reprodução do primitivo assassinato do Grande Pai da horda primitiva (ver Freud, Ferenczi etc.) – que oprimia e tiranizava os filhos e as mulheres de seu domínio – e num determinado momento era assassinado pelos filhos rebelados. Mas por ser ele, além de chefe e tirano, o Grande Pai, existirá nesse simbolismo, constante reprodução do inevitável arrependimento posterior (que em Floriano pode encontrar-se também no… inferno que há em si mesmo?) que será reproduzido e, portanto representado, isto é, devolvido ao consciente, no processo totêmico das tribos, que sacrificam e imolam símbolos, ou signos (como animais, etc.), depois de tê- los adorado; e além de emitir a representação desse assassinato, exorcizam-se dele, também por processos que viram arte, através de explorações do desejo, que utilizam, habilmente, os mais variados monstros: as figuras dos bisontes em desenhos pré-históricos, encontradas nas cavernas, por acaso não seriam uma imagem adorada aos animais (arrependimento) que eles matavam? E também uma forma de exorcizar-se desse “crime”? Não esqueçamos que a atual mídia globalizada exerce sobre os espectadores uma influência de adesão equivalente a uma fé religiosa, revestida de modernidade e até verdade científica. E suas imagens, não terão uma função equivalente? Mas, ao mesmo tempo, isso na alma funciona dinamicamente: provocará sempre seu contraponto, através das oposições da psique, nada científicas. Os cultos de orgia ao deus Dionísio e Baco, associando festas desregradas, de prazer e rebeldia – sobretudo a histeria (libertação) feminina – a símbolos de suplício, sado-masoquismo, morte e sacrifícios, eram algo expressivamente demonstrativo da representação do júbilo, pela morte do tirano (exploração do desejo?) e arrependimento através dessas representações, como forma de castigo (por ter cometido o crime contra o pai?). E a mídia atual, bem surtida nas imagens de violência, iria, de uma certa maneira ao encontro da satisfação dionisíaca, que os adoradores (expectadores) já recebem como pacote fechado? Se é assim, poderíamos pensar que a autêntica função do prazer libertino é apoderada por um golpe psicológico dessa mesma mídia, que transforma o “penitente” em prisioneiro a um sistema de venda de produtos. É curioso que alguns evangélicos, de radicalismo caricatural, proíbam seus adeptos de assistir televisão, atribuindo-lhe manifestação demoníaca; e para eles esse meio eletrônico, nada mais é do que uma forte concorrência no oficio. A mídia dos meios de comunicação, de hoje em dia, com suas novelas ou noticiários (nesse ponto ambos possuem a mesma função) é o engano necessário para rever a vida. A mentira (reinvenção imaginativa) dos poemas épicos de Ulisses; a Odisséia e a Ilíada (noticiário da guerra de Tróia) são a fantasia do poema e soam como um equivalente aos nossos noticiários sobre guerras programadas pelo poderio da cultura hegemônica (ou das potências dominantes do mundo) na atualidade moderna. Em princípio, os noticiários se apresentam como a única verdade, contrapondo-se a um sentido ficcional que o espectador possa imaginar; mas essa aparente verdade é apenas a ficção quando ideologizada por uma idéia de domínio, se entendermos essa ficção no sentido da modificação do fato em função da idéia pré-dominante de quem o emite. Mas, também, ao compreender como verdade tal reapresentação cultural da realidade, na forma da criação de uma nova ação potencial, teremos uma realidade reformulada na subjetividade do espectador; algo como diriam os versos… as vítimas não são reais… apenas o telejornal é real… o que abre a possibilidade ao espectador de também inventar outro real, o seu, pelo processo de entender (no inconsciente=imaginação?) essa dicotomia implícita no noticiário da televisão (ou meios de comunicação de massa), se entendermos por isso a divisão do conceito na tensão entre pólos opostos: a emissão passiva do noticiário ao encontro da recepção ativa do expectador. Tratar-se-ia de uma reflexão através da representação, quando o espectador define o novo conceito cultural, ou consciência cultural, assimilada sobre o fato acontecido e ou também sobre sua versão oficial. E nesse sentido, o espetáculo do absurdo é a única realidade, porque, ao expor-se o acontecimento, através da representação, a nova realidade passa a ser apropriada no espetáculo. O absurdo representado passa a ser realidade própria, reconstruída. E qualquer tentativa de explicação “lógica” que exclua os efeitos da magia, poderá resultar incompreensível ao cientista que analisa o fenômeno. Por exemplo, seria como se durante a guerra fria um noticiário anti-comunista, emitido pelas potências ocidentais, transformasse seus expectadores, da mesma “família” ideológica, em comunistas convictos (pela única influência desse noticiário), justamente promovendo o efeito contrário ao objetivo pretendido; e o mesmo se dando com a emissão de notícias comunistas que resultase na formação de anti-comunistas por simples recusa e oposição à “verdade” do estado coletivo. Por acaso, isso não seria também como está no poema… um penitente… (quando)… investe contra ele próprio… para livrar-se não exatamente de uma tentação externa… mas sim do inferno que há em si mesmo? Isto é, colocar para fora o sentimento reprimido de rebeldia? Obvio, neste caso, é de compreender-se o inferno do si próprio como acúmulo dos fatores rebeldes, que se manifestam na primeira oportunidade contra símbolos do poder, ou sua representação direta. Portanto, os resultados dos mesmos acontecimentos serão diferentes ao passarem pela “interpretação” do inconsciente, que por isso o classificamos como vida imaginária real. O inferno interno é o caldo de magia – aquecido pelo fogo da imaginação – que cada um possui, mas ninguém conhece muito bem, e que pode levar a conseqüências imprevisíveis, ditadas pela psique individual, esta associada a muitos arquétipos do coletivo. Cada “expectador” pode gerar um novo fato, e uma nova realidade, preenchida de um conceito vivo (o conceito vivo que se reproduz por si mesmo é o símbolo); uma ação refeita por atores e espectadores, ou um significado da produção do… si mesmo, pois… o homem é fruto do que cria em sua mente… na realidade, o mundo é bem mais simples… claro, o mundo é mais simples se fosse só a notícia, mas não é, porque possui o complicador do inferno potencialmente criativo do expectador; e ele é feito de muita tragédia. Tratando de resultados, é muito importante saber que só seria possível aproximar-se do prazer através do “real em representação”, porque os primeiros “gozos” nunca são próprios, isto é, os acontecimentos sempre são mais rápidos do que a possibilidade dos sentidos em apreendêlos (mesmo no caso de uma relação sexual, ela só terá os maiores efeitos a longo prazo). A sensibilidade é mais lenta, e trabalha com a possibilidade de re-estabelecer os acontecimentos, para, de forma mais planejada, sentir o prazer ao revivê-los. E essa “releitura” é criação. E é, sobretudo, a essência que a motiva. Nesse caso, a saudade, fenômeno de vivência pessoal e emocional muito acentuado, pode ser considerada uma reinvenção do acontecido com representação de desejos, alegrias ou tristezas, por longo período de vida. É tentador pensar que as insuficiências do processo representativo estabelecem certas formas de vivenciar a saudade. Ela estaria diretamente ligada às “impossibilidades” (imaginarias?) da representação, da mesma forma que as satisfações estariam próximas à capacidade de representar, revivendo situações, que compensariam certo vazio deixado pela saudade. Portanto, a saudade está no âmbito do inferno, que provoca a formação de novas imagens, quer dizer, a criação, e enquanto sua natureza não for inteiramente compreendida, será símbolo, mas se for elucidada, passará a ser signo, distintivo, por referir-se a algo conhecido. A mídia eletrônica estabelece possibilidades de representação global, ou uma certa compensação falsa ao que não poderíamos legitimamente criar como equivalente imaginativo do si próprio. E nesse sentido, a mídia fornece instrumentos para o imaginário da cultura vivenciada, e estabelece elementos de unidade coletiva (o que a fortaleceria como totem, por transferência coletiva?). Isso não quer dizer que a cultura de massas seja o determinante no comportamento das pessoas, individualmente ou por grupos de afinidades familiares, amorosas, de ligações econômicas, políticas ou de qualquer tipo de proximidade afetiva específica. A cultura global, da representação de vivências (ou acontecimentos) determina também uma cultura de comportamentos coletivos, de onde derivam e se estabelecem, por sua vez, formas de pensar e agir individuais. E, por tratar-se de coerções coletivas sobre o indivíduo, sempre estaremos a ponto de transgredi-las. A insatisfação pessoal (em arte como em emoção) é germe da futura revolta dos irmãos (social) contra o pai opressor no sentido da repetição desse arquétipo. As atitudes cotidianas – de indivíduos ou pequenos grupos – são determinadas por maior aceitação às formas do espetáculo comum ou de maior oposição a ele, que, neste caso, podem estabelecer outras formas mais alternativas de vivência representativa. E dessa maneira, a rejeição, a rebeldia são também uma representação da atitude oposta à tirania do pai da horda primitiva, não exatamente como uma verdade histórica determinada, mas como essência de toda a vida familiar e de relações, desde o início dos seres humanos no mundo, tendo em vista o processo biológico de nascer, crescer, ser autônomo, dominar, fecundar e gerar, acompanhados por luta de sobrevivência. Nesse sentido, os arquétipos da repetição histórica milenar são sedimentos “genéticos” de um mecanismo vivo de criação, também transferido ao social. E existe um elemento central que estimula, tanto os fenômenos de criação, como os de repressão: a libido, ou sentimento de prazer. De passagem, diríamos, que da revolta contra o “pai” nasce o regime dos filhos (homens e mulheres), solidários por um período, até voltarem a reproduzir o domínio. Neste caso particular, existe o elemento especial do matriarcado, cujos aspectos de retorno, nos dias de hoje, marcaria um grande movimento de caráter “conspirativo”, a partir da “função secundária” (como diria J. Hillman). Mas esse assunto, por sua natural complexidade exigiria uma reflexão mais completa, a ser feita separadamente. Ainda sobre este aspecto, do prazer na representação, não poderíamos deixar de citar uma passagem histórica: o poeta John Milton, nascido na Inglaterra em 1608, religioso e puritano, mas de espírito rebelde e libertário, aliou-se à revolução liderada por Oliver Cromwel, do parlamento democrático contra a monarquia – que enforcou o rei Carlos I e derrubou o poder dos bispos católicos. O poeta Milton pese sua religiosidade militante, não aceitava a hierarquia eclesiástica, divergia, também, dos próprios puritanos, por ter ele idéias renascentistas relativas à liberdade do homem em decidir sobre seu destino, sem depender de graça divina para salvar-se ou condenar-se. Ao escrever o “Paraíso Perdido”, sua grande obra poética, Milton re-elabora a história bíblica, mostrando um demônio (o filho rebelado de Deus-Pai) que se revolta contra o destino de ter perdido a guerra frente aos anjos celestiais (os outros irmãos que ficaram do lado do pai). Corajosamente, esse demônio, filho renegado de Deus, derrotado e já habitando as trevas, viaja pelo cosmo desconhecido, enfrenta seus perigos (influência também das idéias cósmicas de Galileu Galilei, que enfrentou a Igreja) e invade o paraíso divino, que Deus havia criado na Terra, como verdade absolutista. Note-se que esse desafio de Satã opta pelo não enfrentamento armado, mas por um golpe psicológico (e vingativo?) contra o pai opressor, revestido de êxito, ao final. O heróico líder é carismaticamente apoiado por seus exércitos de demônios, que permanecem à espera da libertação, no inferno. O plano desse demônio consiste em revelar a Adão e Eva o segredo de uma outra vida, que lhes era negada pela cúpula do céu. Mas aí, Satã (como Milton o chama) não só representa a vingança, mas a libertação. O poeta Milton, nesta obra, mostra também que Adão e Eva não foram enganados e levados ao pecado libertário por ingenuidade, mas tiveram em suas mãos o poder de opção, e livremente escolheram esse caminho por vontade própria, quando poderiam decidir pelo outro, se quisessem. E é este um dos aspectos da representação a que nos referimos: a diferença entre o estado de realidade (bíblica) da sociedade da época e a representação rebelde, feita por John Milton, do mesmo fato. Somente, devido a tal caráter inovador “Paraíso Perdido” adquire verdadeiro potencial de grande poesia; de outra forma seria um poema sem maior significado, provavelmente esquecido nos dias hoje. Outro fato, em decorrência disso, está relacionado às idéias sobre teatro, forma que os puritanos ingleses, após terem derrotado a monarquia, condenaram e proibiram em todo o país, porque consideravam erro introduzir no palco violência, sangue, mortes, sofrimentos físicos, característicos dos dramas de Shakespeare. Portanto, o próprio puritanismo da época é a prova que atesta onde reside a essencialidade do gozo representativo, ao dedicarem rigorosa repressão a essa forma de dramaticidade “libertina” – como assim era chamada – e ao atingir diretamente o teatro, vetavam uma forma de prazer. John Milton não concordava com a puritana proibição do teatro, por tratá-lo, ele mesmo, como um bom instrumento educativo, e apresentou, como justificativa, o modelo da tragédia grega, que substituía a ação do acontecimento pela narração da violência, esta feita por coro ou mensageiros. Milton com essa atitude dúbia revelava a mesma repressão ao prazer, por condenar a ação viva, mesmo aceitando o resto da teatralidade ao estilo grego. E, diga-se de passagem, que os próprios puritanos, ao tomar o poder, não escaparam à tentação de guilhotinar, desnecessariamente, o rei Carlos I, em espetáculo público diante da multidão londrina, e exibir às massas a cabeça decepada e sanguinolenta do infeliz monarca. E é bom citar, que se a narração da violência se dá no caso do teatro grego, não é o mesmo no poema homérico, como a Ilíada, onde as cenas de sangue são descritas, e os massacres são relatados em vivos detalhes. Os chamados acontecimentos da realidade (guerras, atentados, catástrofes, novelas, romances, comédias, entretenimentos, etc.) apresentam-se como material inicial para a função da reprogramação por intermédio das representações do corpo, pois, não há representação sem a presença do corpo. E não podemos esquecer: tudo o que é representado em noticiários, mesmo muito recentes, ou exibidos ao vivo pela televisão, passa a não ser mais realidade em frações de segundo, após sua apresentação. Seria algo parecido, como se a “tragédia teatral grega” estivesse em andamento no momento do “acontecer” do fato que dá origem à ficção; isso, naturalmente, não seria tecnicamente possível à época dos gregos. Porém, o fenômeno de representar para o imaginário aquilo que já foi, equivaleria ao sentido da mídia televisiva de nosso tempo, que o faz em prazos infinitamente mais curtos. Se as cenas de horror, de violência, de traições, provocam prazer no ato da representação teatral, determinando o nível da qualidade artística não pela morte em si, mas pela representação bem elaborada das cenas de morte – ou sua capacidade de provocar emoções – assim também, os diversos prazeres recriam-se, fabricam-se e se consomem, nesses atos representados pelos espetáculos com tecnologia moderna. Mas, o que seria exatamente o prazer, nesse caso? Pensamos que hoje só seria possível encontrar uma explicação desse fenômeno no elemento psicológico que permanece vivo em nosso inconsciente; aquele das figuras ancestrais, fixadas através de vivências de milhares de anos pré-históricos em nossa gênese de hábitos comportamentais, e que se referem às ações repetitivas do comportamento humano nas hordas primitivas, como já nos referimos, onde o poder estava no grande chefe e pai (trata-se de conceitos no âmbito da psicologia dos arquétipos). Obviamente que a “repetição” sempre incorpora criações novas. No mito encarnado no imaginário, o pai oprimia e reprimia e até matava e castrava os filhos, porém num determinado momento seria vencido, destituído e morto, para instalarse o regime solidário dos irmãos. Por sua vez, segue-se a fase do arrependimento, que significa a retomada do regime antigo, a reação, ou a regressão, após o período revolucionário. Não se trata de estabelecer o exemplo, como verdade histórica que a ciência comprovaria nos mínimos detalhes. Está aí apenas a essência de atitudes que determinam a psicologia individual e coletiva, com mil variadas formas de expressão, e adaptadas às condições sociais de cada época; e que traduzem, em arte, os ciclos dessa relação humana, permanentemente recriada no mundo. E o prazer é o eco dessa energia psicológica que vivifica tal movimento, tanto para avançar, como na hora do recuar. Ocorre-nos de associar essas idéias aos versos do poema citado… nossa idéia de catástrofe adora ver o eixo deslocado… de um dia para outro, em um telejornal qualquer… vítimas aqui ou acolá, mas sempre vítimas. A tragédia do atentado terrorista do famoso 11 de setembro, provocada pela explosão das duas torres gêmeas em Nova York, produziu dor às vítimas no ato do acontecer, mas a sua representação – repetida milhares de vezes pelas televisões do mundo inteiro – provocou o mesmo apreço, em qualidade de espetáculo, que suscitaria uma boa cena de massacre, representada em uma grande ópera, por exemplo, ou em peça de teatro, cinema, etc. A descoberta, em seu esconderijo, de Sadam Hussein, ex-presidente destituído do Iraque – que os americanos simbolizaram como resposta drástica ao atentado de Nova York – e preso portando no rosto barba de humilde profeta, num buraco debaixo da terra, tanto poderia causar júbilo a seus inimigos como sentimento de compadecimento e solidariedade de uma boa parte da opinião pública local e mundial (uma pelo pai já destituído, outra pela ressurreição do mesmo?) por ter sido fruto de um país invadido, com a desculpa de procurarem armas de destruição em massa que nunca se acharam. Para reverter o espetáculo a favor dos vencedores, a representação tentará favorecer a quem dirige os meios e, provavelmente, procurará compensar a humilhação da representação anterior, das torres explodidas. Mas é inevitável que os espectadores sempre encontrarão formas diferentes, ou mesmo opostas, de recriar o espetáculo no seu inferno interno. Tanto se falou mal de Che Guevara, que apenas esse fato o transformou em mito ou símbolo, sem necessidade de uma contra-informação da esquerda, por exemplo. Os sentimentos de prazer encontram-se próximos às reproduções da realidade recriada, e a mídia não consegue dominar a parte do mundo que escapa ás suas imagens culturais, correspondentes a uma consciência oficial de “realidade”. Se a mídia quer provocar horror ao mostrar uma tragédia pela TV, poderá provocar satisfação por mecanismos acionados do inconsciente coletivo, na maior parte dos expectadores. Por exemplo, no desejo simbólico da destruição de um poder, cujo arquétipo cultural pode representar um consenso de opressão generalizada. E será sempre preciso criar a imagem representativa de um culpado e impingir-lhe um arquétipo demoníaco, e humilhá-lo devidamente diante das câmeras de televisão do mundo, para que o pai traído possa obter dos assistentes uma compensação teatralizada da culpa dos filhos. Mas os arquétipos do inconsciente coletivo também podem apelar ao Daimon, para daí extrair outras conclusões. Nesse sentido a imaginação vira energia de realidade e a representação pode ser matéria prima dessa nova re-elaboração, qualquer que seja. E neste caso, uma obra de arte ou uma revolução se equivalem. Vale citar um exemplo do que seria o “arrependimento”, frente a um pai absolutista deposto, em que os “filhos” pedem a volta do monarca. O teólogo e biblista chileno Paulo Richard, ao analisar de forma crítica a eleição do papa Bento XVI, e para ilustrar como um tradicionalista da ala conservadora da Igreja Católica é feito papa, confirmando o aspecto da “volta” ou permanência do pai opressor, diz o seguinte: “…É paradigmático o fato bíblico no primeiro livro de Samuel, Cap. 8, onde o povo pede a Samuel um rei. Depois de 200 anos que o povo estava vivendo feliz sem um rei, sem templo e sem exército permanente. Pese a explicação de Samuel de todo o negativo que representa ter um rei, ele não consegue demover o povo em sua insistência. Nasce, assim, a monarquia em Israel, que durará mais de 400 anos e que será, salvo poucas exceções, uma experiência negativa e fortemente criticada pelos profetas.” Se o desfrute (poder da sensibilidade em apreender o acontecimento) é o principal objetivo para onde se move a atividade artística, e essa atividade é a reprodução programada e representada da ação – onde houve a essência do acontecer primordial, no momento em que ainda não era possível apreendê-lo totalmente – então as representações são as verdadeiras ações do prazer com a possibilidade de completar a apreensão. Isso, por serem, as representações, a perseguição consciente produzida para conquistar prioritariamente o prazer, mesmo que retratem uma tragédia. Não podemos esquecer, no entanto, que também existem formas abstratas de representar o existente, que não se assemelham à representação “realista” do ato, provavelmente porque teriam sido re-elaboradas em planos do inconsciente coletivo ou individual, muito profundo, e retomadas por processos mais subjetivos. Isso vem a confirmar que todos os acontecimentos se reelaboram, uma ou infinitas vezes, com a representação ou, antes dela, em sonhos, ou em outros aspectos do imaginário. Daí o surrealismo? E poucos são os acontecimentos novos que não possuam encadeamento com os anteriores, fazendo supor que tudo seja uma questão total e permanente de representação. Sendo que as representações mórbidas são estáticas, em si, e as vivas criam sempre algo novo, a cada vez. Mas a mórbida pode deixar de ser estática, quando captada por elemento estranho (alheio) que possui um Daimon vivo para recriá-la. E assim, da mesma forma que as sensações de amor e ódio se renovam por uma constante retomada subjetiva dos acontecimentos, o prazer resulta num elemento complexo que não se satisfaz apenas com um tipo de teatralização do bem, porque o mundo do inconsciente, ao habitar cada pessoa, não se sujeita a versões unilaterais do conceito dominante, seja através de que espetáculo for, pois, se no dizer da poesia… o homem é fruto do que produz em sua mente… e isto significa algo bem mais complexo do que a aparência (ou tentação) exterior, ele não pode ser reduzido à simplicidade do mundo aparente, que dogmatiza, de forma unilateral, os conceitos de amor e ódio, de bem e mal, conforme as conveniências da tirania de turno. No entanto, existe uma importante diferença entre expectador da mídia e agente de criação. A maioria dos indivíduos é formada por expectadores dos meios de comunicação, e participam mais intensamente ou menos, conforme o posicionamento dos meios; por exemplo, mais quando se trata de competições esportivas em que se estabelece uma cultura de disputa e ligação emocional em relação às equipes que representam os antagonismos e transportam isso para a vida individual e cotidiana do espectador. Esse mecanismo, por diversos motivos, é estendido às disputas políticas ou eleitorais, às religiões ou enredos de novelas, entre tantas outras formas. No entanto, o noticiário, de maneira geral, é hoje o instrumento unificado que determina um certo padrão universal sobre a representação, e direciona o senso comum em relação à massa de expectadores da mídia. Seria algo parecido ao que foram, como dissemos, as tragédias gregas para a cultura helênica; algo assim como os poemas épicos, o simbolismo das guerras, a defesa dos grupos e nações, etc. O poeta Floriano Martins, nos assinala, em comentário posterior referente ao citado poema “Jornal Nacional”, o seguinte: “…acho que esta idéia da representação é sempre fascinante, pois sua ação é de uma ambigüidade atroz. Não digo propriamente o prazer da representação, mas antes o fluxo e refluxo da representação. A mídia mais tratou de perverter a representação do que lhe dar uma nova interpretação. E como resultado dessa perversão a arte, que era representação em um sentido passou a ser em outro.” No mundo contemporâneo, ao refletir sobre arte, teatro, literatura, música, pintura, escultura, ou na poesia contida dentro dessas obras, devemos considerar que essas atividades estão restritas a grupos reduzidos de criadores; justamente, aqueles que não se conformam em ser, simplesmente, expectadores da cultura de representação pré-dominante. No entanto, as formas “secundárias”, acessíveis aos artistas são uma recriação ficcional na mesma linha da busca de prazer (no sentido de fluxo e refluxo), através da reinvenção imaginativa da realidade. O acesso coletivo a essas formas (criador, além de expectador) é ainda bastante reduzido, devido principalmente ao impacto mágico da tecnologia da mídia eletrônica, que fica ao alcance dos lares mais simples e das pessoas mais pobres e que ofusca qualquer forma de representação autêntica. É por isso que, através do cinema os artistas “alternativos”, quando conseguem determinadas “brechas”, liberam esses conteúdos a um círculo maior de pessoas. Isso se dá pelo mesmo processo de utilização da imagem em movimento, que tanto fascina o espectador, por ter a capacidade mágica de aproximar tal mensagem à forma de seus sonhos, imagens “cinematográficas” milenarmente reproduzidas ao dormir, durante toda a metade de vida de qualquer ser humano. E essas imagens, dos sonhos, conseqüentemente, habitam o mundo do inconsciente, individual e coletivo, onde se manifestam os desejos reprimidos por um mecanismo muito similar ao das imagens de cinema. Daí, também, a mídia oficial, tentará sempre, apoderar-se dessa tecnologia (quando em mãos dos alternativos) por sua mania prioritária de reproduzir a mercadoria, induzindo-nos à loucura mercadológica do consumo inútil. Isso nos lembra alguns exemplos significativos a título de ilustração, vejamos: os americanos não se conformaram em divulgar o belo filme do diretor espanhol Pedro Almodovar “Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos”; e decidiram comprar os direitos e o refilmaram para o mercado americano; o mesmo aconteceu com o impressionante, belo e muito premiado filme mexicano “El Matador” (ou “El Mariache” não me recordo bem), de diretor alternativo latino-americano, realizado com recursos familiares (dois mil e quinhentos dólares se não me engano), e que foi refeito numa produção Hollwoodiana, para esse mesmo mercado, tendo no papel principal o ator, já bem “americanizado”, Antonio Banderas que por ironia era um antigo colaborador “alternativo” de Almodóvar. Portanto, a massa de expectadores do consumo teve acesso às facilidades da informação “fantástica”, praticando um pulo relativamente mágico: do difícil e deficiente aprendizado da escrita e da leitura, saltaram para o deslumbramento do desconhecido e do “maravilhoso” oferecido quase de “graça” por aqueles que monopolizam os meios de comunicação eletrônica. Se isto nos parece pouco, trata-se de um instrumento equivalente ao cavalo, à roda e à arma de fogo que, por desconhecimento, surpreenderam as civilizações Astecas, Maias e Incas, roubando-lhe os deuses, ao substituí-los pelo poder “mágico” dos colonizadores europeus. Os pouquíssimos soldados agressores somente tinham, de superior, cavalos e armas de fogo. E assim, civilizações inteiras, socialmente mais avançadas do que os países da Europa, através desses fatores “mágicos”, foram rendidas ao domínio e massacre dos invasores, que, para tal façanha criminosa usaram poucos homens e, em muitos casos, nem deram um só disparo. Por acaso, esse exemplo, não estaria muito próximo à atual destruição da natureza feita com a complacência das massas imobilizadas pelas “maravilhas” da tecnologia? Que lhes é apresentada nos sonhos re-produzidos, em imagens reapropriadas pelo “pai” opressor? Na Grécia antiga, as tragédias serviam para consolidação da estrutura de poder, mas também para pensar e criar nova cultura, enfim, rebelar-se, e reproduzir a existência cultural e espiritual daqueles seres. A cultura da criação representativa, quando em contraposição à mídia, existe hoje em muito maior grau do que aparece exposto. Bastaria que tivéssemos meios de saber sobre os milhares grupos de folclore, de música popular; outro tanto de artesãos e, na literatura, a popularização habitual de escrever poesias, além dos contadores de histórias, como é hábito entre inumeráveis indivíduos em todos os países do mundo, ou o surpreendente movimento Hip Hop de origem marginal, por exemplo. Isso significa, antes de tudo, uma forma de superar o estágio passivo de simples espectadores e, de alguma forma, reproduzir a realidade, reinventando-a, através da reflexão ficcional e da fantasia libertadora. O exercício do amor é quase uma mentira, como pode ser um conto, um romance, um poema, mas é uma das poucas representações da realidade de alcance comum e com possibilidade de prazer especial individualizado, incluindo a paixão, a tragédia, a emoção intensa, o ciúme, o júbilo, a saudade, o re-encontro, o estado de melancolia, o de alegria, etc. Ele existe em vários tipos de situações, inclusive na criação simbólica. Viver o amor em estado de arquétipo significa prolongá-lo na arte ou na criação poética em geral, no misticismo, nas amizades, ou mesmo nas ações gratuitas de solidariedade; isso como produção de libido, ou do fazer alma, que interfere na produção de energia para recriar um mundo repleto de imagens (conscientes e imaginárias). Significaria erguer a própria alma vital, em direção a um resultado artístico ou simplesmente na produção de uma emoção. Se o amor pode ser a criação sofisticada a nível pessoal, ao alcance de qualquer individuo, é um bem que não implica custos, além da própria energia mobilizada (refeita e aumentada pela troca) e nem requer muito investimento em aprendizado. Por outro lado, não é tão fácil vivenciar sua representação, pois, o espetáculo dominante que o consumo forçado nos oferece, desintegra a capacidade pessoal de exercitar a representação do amar. E é por isso que esse inédito e muito antigo sentimento oferece um conteúdo artístico incomparável. Porém exige uma energia criativa de alta sensibilidade, como fogo inicial para acendê-lo (e libertálo da mesmice do senso comum) porque, uma vez aceso, com a ajuda do outro, propagar-se é de sua própria autonomia (autonomia do símbolo). Para amar e usar essa matéria prima na poesia, no conteúdo das artes ou das simples emoções, existem barreiras que incutem o antes é necessário comprar, fabricar e produzir inutilidades, confundindo os conceitos de desejo pessoal – os arquétipo da realização – e embaralhando os caminhos que perturbam o natural fluxo da libido, e causam confusão a Psique, essa princesa que nos habita. Re-apropriar-se dos sentimentos do si mesmo (imagens do inconsciente apropriadas pela consciência na realização do eu), por ser uma função incomparavelmente mais ampla do que o grande ego – por abrangê-lo, indo mais além – requer tempo, reflexão, pensamento e uma estratégia de auto-estima, a partir de processos extremamente simples, inadmissíveis pela sociedade de consumo, mas descobertos na própria criação, através da escrita ou da palavra inventada, por via de uma imagem interna. E amar, às vezes pode provocar tudo isso: a re-apropriação do desejo que conseguimos não deixar alienar-se no produto externo. Neste caso, produto, é a transformação em objeto, que se faz através da destruição da natureza (a do entorno e a íntima) quando seria possível transformar o objeto natural, por intermédio da imaginação viva, sem destruir a energia indispensável para fazê-lo. Isso é a poesia. Que nem precisa ser escrita, mas sempre sentida. Também essa forma possui uma imagem no arquétipo do matriarcado, símbolo que significa algo mais do que o simples feminino, mesmo que este seja a base, porém abrangido pelo anterior, numa misteriosa amplitude. José Carlos A. Brito (Brasil, 1947). Poeta e articulista. Autor de livros como O Nascimento do Mundo, Poemas do Amor Quebrado, e Romance de Meiga e Sátiro. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Diez marcas en la sombra Benjamin Valdivia . Si alguien me preguntara cuáles son los diez poemas del siglo veinte que más han tenido influencia en mí o en mi obra, no sabría qué responder. Primero, porque serán, sin duda, más de diez. Luego, porque en veces la influencia se ejerce más por el estilo o por la obra total de un determinado autor. Y también porque, de hecho, toda obra es una red que se conduce por las influencias más inesperadas. No obstante, sin mentir demasiado, agruparía una decena como se buscan diez marcas en la sombra: presencias, ecos, rescoldos, vestigios. Me gustaría señalar mejor mis poemas favoritos del siglo XIX, en no pocas ocasiones más intensos, versátiles, audaces y melodiosos que muchos del siglo posterior. En ese caso deberían aparecer “El desdichado” (Nerval), “El albatros” (Baudelaire), el primero de “Los cantos de Maldoror” (Lautréamont), el “Idilio salvaje” (Othón), “Silencio” (Poe) y otros de esa corte. Pero puestos a anotar los del siglo XX, sin que ello nos pueda llevar a un orden de ningún sentido, lo pondría así: 1. “Los grandes capitanes”. Este poema del argentino Jorge Leónidas Escudero sólo lo conozco de oído, dicho que me fue por Hugo de Sanctis una vez que caminábamos por la calle de Alonso, en Guanajuato. Aunque luego entablé correspondencia con Escudero, e incluso le presenté mi versión de memoria sobre su poema, sólo me dijo lo siguiente: algunas palabras no encuentran su acomodo. Y nunca lo vi ni escrito ni impreso, ni Escudero lo mencionó cuando preparé la antología de sus versos que se publicó en México en el año 1992 o 93. Entre las frases impresionantes que contiene ese poema hay ésta: “Las grandes construcciones y las grandes destrucciones vienen por un nudo con seso de golondrina, o por un corazón capaz de ser vela y de girar los huesos en redondo para clavarlos de punta en el mar”. Un poema grande. 2. “Viento Zonda”. De Hugo de Sanctis, es un poema que también aprendí de oídas por el propio autor y luego lo tuve impreso en su libro Prontuario en el sol (de 1965). La audacia de sus imágenes y la sencillez de su discurso producen el centelleo de dos pedernales contradictorios enfrentados sobre la chispa de una sola luz. El poema comienza diciendo: “Anoche me pasó un perro oblicuo por la mente. / Ladraba los desórdenes de agosto / y tan imposiblemente me miraba / que no supe contenerme / y eché a llorar la enormidad desde los huesos.” Muy pocas veces se logra esa síntesis a la par tan cotidiana y triste cuanto jubilosa y trascendental. Personalmente me llama la atención este poema, aunque lo mejor de la poesía de De Sanctis se encuentra en su libro Canción al prójimo, todavía inédito a pesar de haber obtenido el premio Aguascalientes en 1983 (el único libro del Premio Nacional de Poesía, en México, que no se atrevieron a publicar los editores ni los organizadores y que motivó cambios drásticos en la convocatoria de dicho premio desde 1984). 3. El canto XI de la sección “Alturas de Macchu Picchu” en el Canto general de Neruda. Es una composición aérea y sólida en la cual el poeta muestra todo su magisterio de versificador en potentes endecasílabos de rima semiasonante alternada, dentro del mismo tono oratorio que define esa porción del libro, pero simultáneamente urdido en el encadenamiento de imágenes deslumbrantes y dinámicas en las cuales se equilibra todo el arte de la poesía: ritmo y sentido, imagen y concepto, implicación y presencia, instante y continuidad. En especial se llega, luego de hablar de los oficios de la tierra (“albañil del andamio desafiado: / aguador de las lágrimas andinas: / joyero de los dedos machacados: / agricultor temblando en la semilla: / alfarero en tu greda derramado: “) a señalar el furor de la historia: “como un río de rayos amarillos, / como un río de tigres enterrados”. Las aliteraciones de la erre resultan resplandecientes. 4. Dylan Thomas, el ebrio malogrado, tiene un poemacredo titulado “En mi oficio, mi arte taciturno”; y en él sostiene la terrible verdad de que el poema es para los amantes (quienes, por cierto, no hacen caso del arte sino del texto), y “no para el hombre altivo aparte de la furiosa luna”. La densidad de su expresión es seductora. Ya publiqué mi versión en español de este poema. 5. “La unión libre” es quizás el poema más famoso de André Bretón y uno de los suyos que más me gusta, pues al seguir la guía del cuerpo como tópico del lirismo hace descubrimientos que en su concatenación pasan por todos los registros surrealistas: la fusión de los distantes, el humor negro, la ensoñación, la imaginación, la crueldad, el automatismo, lo insólito. Desde la cabeza hasta los pies, el cuerpo femenino se convierte en una panoplia de estupefacciones. El pelo: “Mi mujer de cabellera de fuego de madera”; la cintura: “Mi mujer de talle de nutria entre los dientes del tigre”; la lengua: “con lengua de ámbar y de cristal frotados”; los ojos: “Mi mujer de ojos de bosque siempre bajo el hacha”. 6. El primer poema del libro Enemigo rumor, de Lezama Lima, que se llama “Ah, que tú escapes”. Ese poema, un muy alto momento del idioma español, trata de definir la cubanidad, según comentó el autor en una lectura pública. Para mí define más bien el espíritu de lo fugitivo, de aquello que está frente a nosotros en su plenitud y luego huye: la vida, el amor, el tiempo, el mundo. Es la revelación de ese instante “cuando en una misma agua discursiva / se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos”. Pero es una nostalgia no de lo que pasó sino de que nada de eso que pasó haya dejado su huella visible, “pues el viento, el viento gracioso, / se extiende como un gato para dejarse definir”. 7. En los Poemas humanos, de César Vallejo, se encuentra el discurso tan compasivo cuanto lastimero del poema “Me viene, hay días, una gana ubérrima”. Y todo cuanto hay humano y todo lo íntimo y el júbilo de ser y de pertenecer, la gracia de compartir y esperar, la ráfaga de todos los sentimientos nobles (aunque melancólicos) se da cita en ese mensaje llevado hasta “el borde célebre de la violencia o lleno de pecho el corazón”. Vallejo dispone las cosas para auxiliar “al bueno a ser su poquillo de malo” y situarse “a la diestra del zurdo” y “lavarle al cojo el pie”. Pero la mejor celebración y venganza entre todo lo bueno de la vida lo cifra el poeta en esta frase: “ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca”. Por muchos años he buscado esos pajarillos para colocarlos donde ha de corresponder. 8. Borges escribió un par de sonetos con el título de “El ajedrez”. Los parangones de vida y juego los lleva a fronteras inusitadas. Sólo para hacernos comprender la vastedad de la trama en los infinitos reflejos en los que un universo no es sino el polvo de otro universo mayor. Tras darle carácter a las piezas y haber puesto a los jugadores “en su grave rincón”, conduce todo hacia el hombre; y luego hacia la divinidad. Las piezas no saben que son gobernadas por “un rigor adamantino”. Pero el hombre está en otro tablero “de negras noches y de blancos días”. El juego de las piezas, el del hombre y el de Dios son uno mismo: “Dios mueve al jugador, éste la pieza; / ¿qué Dios, detrás de Dios, la trama empieza...?” 9. Este poema de Archibald MacLeish, que traduzco así: PSIQUE CON LA LINTERNA El amor, que es el misterio más difícil, busca de cada joven una respuesta y más de los más ardientes y más hermosos — El amor es un pájaro en un puño: atraparlo lo esconde, mirarlo es dejarlo ir. Girará desatado si levantas demasiado un dedo. Se quedará si lo cubres —se quedará, mas ignoto e invisible. Guárdalo para siempre con el puño cerrado o déjalo volar cantando en fervor de sol y en la canción desvanecido. No hay respuesta otra para este misterio. 10. Imprescindible, y tal vez al inicio de todos, el Canto II del extenso poema Altazor, de Vicente Huidobro. Un incendio en una gota, un océano en una sola flama. Todas las delicias y las memorias y las temperaturas de la vida de todos los enamorados se llevan a la cumbre del universo donde se arrojan “esas lanzas de luz entre planetas”. Allí está la amada: “eres el ruido de una calle populosa llena de admiración”. “Al irte dejas una estrella en tu sitio”. Y el gran tema de la muerte de la joven amada se plantea como una terrible posibilidad: “Si tú murieras / Las estrellas a pesar de su lámpara encendida / Perderían el camino / ¿Qué sería del universo?”. Benjamin Valdivia (México, 1960). Ha publicado poesía, novela, cuento, teatro, ensayo y traducciones (del inglés, francés, portugués, italiano, alemán y latín) en diversos medios mexicanos y extranjeros. Es autor de treinta libros en diferentes géneros, por los que ha recibido distinciones nacionales e internacionales. Lo que se publica ahora es un capítulo de su libro Eros y Quimeras – Visiones sobre Sade, Paz, Nerval y otros. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Altino Caixeta de Castro: do espanto da palavra e outras perplexidades (entrevista) Maria Esther Maciel . A história de um poeta é também a de suas perplexidades. E se uso a palavra perplexidades é por pensar nos vários sentidos que ela deflagra, como espanto, assombro, emaranhamento das certezas, dúvida, enredamento, irresolução e sinuosidade de caminhos, todos eles configurando-se como elementos também intrínsecos ao processo de criação poética. Borges externou essa consciência da perplexidade em uma breve conferência que fez sobre “o enigma da poesia”, ao dizer que diante de cada página em branco que encontrava tinha de redescobrir a literatura para si mesmo. Drummond vislumbrou na clareza e na claridade o mesmo enigma. Já Pessoa converteu sua perplexidade em um processo intrincado de ficcionalização do eu e do próprio ato de criação, correspondendo, assim, aos sentidos da palavra latina “perplexio, onis” (perplexão), que apontam, curiosamente, para “fingimento, dissimulação, refolho, dobra. O poeta mineiro Altino Caixeta de Castro (Patos de Minas, 1916-1996), autor de Cidadela da rosa – confissão da flor (1980), Diário da Rosa Errância e Prosoemas (1989) e Sementes de sol (2004), ao também explorar as inquietudes do poeta perplexo diante de tudo, optou pela palavra espanto, construindo a partir dela toda uma poética. Não por acaso designou o poeta de “pastor do espanto” e forjou a partir dessa imagem sua própria persona poética. Mas não se ateve apenas à dimensão filosófica, existencial, da idéia de espanto – à qual associou todo um referencial ontológico de feição heideggeriana, mas redimensionou-a pela força da imaginação e nela imprimiu um traço lúdico, advindo do sentido de “maravilhamento” que a própria palavra espanto contém. Espantar-se é também maravilhar-se diante de algo. E esse algo para o “pastor” Altino Caixeta é a linguagem e todas as suas potencialidades de jogo. E o que é o maravilhar-se senão o deixar-se seduzir? Na poesia altiniana a sedução do poeta pelas palavras é explícita e se faz ver não apenas na forma como brinca com elas e delas se faz brinquedo, como também no processo de erotização do fazer poético. Uma espécie de libido scribendi perpassa o ato de criação do poeta, seduzido que sempre esteve pela força corporal, tátil, sonora, visual da escritura. Isso se dá a ver de maneira explícita no poema “A palavra ousada”, do livro Cidadela da rosa – com fissão da flor, onde se lê: que coisa mais misteriosa é a palavra, principalmente, o substantivo movido pelo verbo. eu posso dizer: eu moro nos subúrbios soberbos de uberaba. eu moro nos subúrbios soberbos de teu umbigo. eu moro nos subúrbios soberbos de teus ombros. eu moro nos subúrbios soberbos dos teus lábios. entretanto, eu não moro, mas eu ouso dizer: que coisa mais misteriosa é minha prosa movida pelo moinho de vento soberbo de teu verbo. Altino sabe que as palavras podem deflagrar realidades imprevistas, fingir um mundo que não existe senão apenas dentro delas ou partir delas. Como Pessoa, sua perplexidade se “irresolve” na consciência de que é possível tanto sentir com a imaginação quanto escrever pelos sentidos o que a razão não entende. Mas seu pastoreio é menos o ato de conduzir e/ou vigiar a linguagem – como fazem os pastores de cabras e ovelhas – do que o ato de pastorejá-la, uma vez que o verbo “pastorejar”, relacionado ao pastorear, aponta sobretudo para a ação de fazer a corte, cortejar. A entrevista que se segue, gravada no início de 1990, na casa do poeta em Patos de Minas, traz em viva voz esse espanto – transfigurado em “maravilhamento” – de Altino Caixeta de Castro diante da poesia. Nela, ele fala de sua descoberta do verso, do pastoreio das cabras e das palavras, da rosa como metáfora do poema, da beleza, da mulher, do artesanato da forma e do “transe” necessário ao fazer da escritura. Com humor e erudição, cita poetas, filósofos e críticos de vários tempos e tradições, declama versos seus e alheios, brinca e se deslumbra com suas próprias perplexidades de poeta. [M.E.M.] MEM – Como se deu para você a descoberta da poesia? ACC – Minha história de poeta é muito triste, pois descobri a poesia no pessimismo existencial de Augusto de Anjos. Quando eu era criança, de cabeça raspada e pés descalços, vivendo na fazenda Campo da Onça, decorei, pela primeira vez, um poema que vi em um almanaque. Era aquele soneto de Augusto dos Anjos, que diz assim: “…o homem que é triste/Para todos os séculos existe/ E nunca mais seu pesar se apaga!” Eu tinha entre 7 e 9 anos de idade. Ou melhor, não tinha idade. Creio que daí venham certos ressaibos – filosóficos, talvez – da poesia de Augusto dos Anjos em minha poesia. MEM – Mas você continua sendo um poeta sem idade, por trazer todos os tempos possíveis (e impossíveis) em sua poesia… ACC – Uma vez fiz para uma menina um verso de circunstância – isso, antes que o Manuel Bandeira colocasse em voga a idéia do poeta de circunstância – que dizia assim: “Eu não preciso do tempo / porque sou eterno / Necessito apenas / dos mínimos espaços / que demoram / entre mim e seus braços”. Meu destempos, meus dez tempos são minha eternidade provisória. MEM – Sem dúvida, o signo mais recorrente em sua poesia é a palavra rosa. Como você explicaria esse signo? ACC – Como dizia Gertrude Stein, uma rosa é uma rosa é uma rosa. É bastante interessante esse poema, porque nele a poetisa toca uma questão da semiologia moderna. Ela antecipa o livro O sistema dos objetos, de Jean Baudrillard. Ela, sem querer, fez uma semiologia do objeto rosa. Aliás, a rosa é o arquétipo da coisa, como diz o Borges. Borges, na verdade, buscou essa imagem em Crátilo, personagem de Platão. Tanto é que tenho um poema em que rimo “rosa” com “coisa”. Uma semi-rima sutilíssima, nunca usada nem pela Cecília Meireles ou pelo Guilherme de Almeida, que era um mestre das semirimas. MEM – A rosa seria, em sua obra, uma metáfora do poema e uma metonímia da prosa? ACC – Pode ser. Mas quando a rosa me chegou, eu não pensei nisso. Só muitos anos depois é que soube dessa parolagem. Minha mãe plantava rosas em torno de nossa casa. E minha poética é muito ligada à minha mãe. Acho que por causa dela fiquei muito impregnado pelo sentido da rosa. A vida inteira. Mais tarde descobri que a rosa era um símbolo difícil, mesmo para a poética. Descobri, mais teimei no símbolo. A rosa tem também uma dimensão filosófica, de feição heideggeriana, em seus poemas, apontando para a imagem da “morada do ser”. E mesmo mística, se pensarmos na idéia da mandala que se faz presente no livro Cidadela da Rosa: com fissão da flor. Isso me lembra um poema que está no livro O diário da rosa errância: “Mandá-la para Vênus./ Mandá-la para Eros./ Mandá-la para Deus./Mandala do mistério.” Mas é verdade, a minha rosa é metafísica. Mas a imagem da “morada” eu debito a Gaston Bachelard, que escreveu aquele livro lindo, A poética do espaço. Coloquei muitas moradas em minha poética, metaforizei várias vezes a morada dentro de meus poemas. E a rosa ficou sendo a morada essencial. Já Heidegger foi o filósofo-poeta que mais influenciou minha concepção da poesia moderna. Para ele, o “poeta é o pastor do ser” e a poesia é “a realização do ser pela palavra”. Isso me chamou muito a atenção. Tanto é que meu primeiro livro ia se chamar Pastor de sonhos – isso, trinta ou quarenta anos atrás. MEM – E por que você optou pela imagem do “pastor do espanto” para definir o trabalho do poeta? ACC – É o mesmo pastoreio. Na minha poesia, como eu disse, minha mãe é sempre a presença essencial. Coisa que os críticos em geral não percebem. Aliás, em se tratando de crítica, prefiro aquela que é feita pelos poetascríticos. Como Eliot e Pound. Eles são melhores do que os outros, pois conseguem surpreender muito mais a poesia dos poetas. Mas como eu estava dizendo, minha mãe tinha, na fazenda, um rebanho de carneiros que eram dela. E meu pastoralismo passou por minha mãe antes de chegar aos meus poemas e antes que eu descobrisse Heidegger e seu pastoreio do ser. Tenho uma “Coroa de sonetos para uma cabra”, ou seja, catorze sonetos sobre a cabra, que não era cabra na verdade, mas uma metáfora. Não sei se você sabe, mas nasci de 7 meses e minha mãe não tinha leite, ainda não estava ainda preparada “galacticamente” (risos). E assim tive que ser amamentado por uma bela cabrita – uma mulher morena-escura, quase negra. Sequei o leite da cabrita. (risos) Aí minha mãe arranjou uma cabra de verdade para mim. Mamei, literalmente, nessa cabra, aos 2 ou 3 anos de idade. Tudo isso ficou impregnado na minha lembrança, no meu sensorialismo: os carneiros de minha mãe, que ela mandava tosquiar para tecer a lã, a cabrita morena que me amamentou quando nasci e a cabra de verdade que veio depois. MEM – Realmente, as imagens relacionadas a essas reminiscências sensoriais estão muito presentes na sua poética. As cabras, os carneiros, os pastos, o leite, os seios, a boca, o beijo, o ato de mamar são recorrências explícitas. Algo da ordem da oralidade, no sentido psicanalítico do termo, não? Se bem que a oralidade, do ponto de vista lingüístico, também é uma das linhas de força de sua poética. ACC – Isso está no meu poema “Soneto em limbos”: Mamar na luz que vem das nebulosas,/Dar pojo no mistério das estrelas,/Depois lamber os úberes redondos/ Da ovelha fulva ou ser lambido em limbos. Aí eu já estava “adulterizado” e usei as leituras que eu tinha da psicanálise de Freud. Aliás, não sei se você já reparou, mas esse é um soneto branco, sem rimas. Só tem ressonâncias internas. Como fazem os ingleses. Os poetas ingleses quase não rimam nas pontas. E não rimar nas pontas torna, muitas vezes, o poema mais bonito, pela força das aliterações e sonoridades internas. E por falar em psicanálise, costumo citar com freqüência um fragmento de Lacan – “o inconsciente é o discurso do Outro” – que, de certa forma, influenciou o primeiro poema do Cidadela da Rosa, intitulado “Discurso”. Os críticos costumam elogiar esse poema. Affonso Romano de Sant’Anna, por exemplo, que é um bom poeta e escreveu um livro sobre Drummond, ficou surpreso porque eu dediquei o “Discurso” a Michel Foucault, Roland Barthes e Julia Kristeva. Um caipira do interior de Minas escrevendo uma dedicatória pedante aos grandes nomes da filosofia contemporânea! – ele deve ter pensado. Na verdade, escrevi esse poema em um espaço em branco de um livro de Foucault. Os críticos gostaram, ficaram impressionados. MEM – O que você pensa sobre esses críticos e filósofos franceses? ACC – Já li muito da literatura francesa. Sobretudo Sartre, Baudelaire e Camus. Acho inclusive que o pessimismo artificial que tenho, que não é o de Augusto dos Anjos, ao contrário do que pensam, foi muito influenciado pela filosofia de Sartre, mais do que pela obra de Camus. Tenho um poema no livro A cidadela da rosa, mais ou menos inspirado no pessimismo sartreano. Aliás, nessa minha sonetilha houve um erro tipográfico e o verso ficou melhor. Mas não foi o erro de Malherbe. Você sabe qual foi o erro de Malherbe? Minha filha chamase Roselle. Malherbe, poeta francês do século XVI, escreveu mais ou menos isto: “rosa, ela viveu o que vivem as rosas… o espaço de uma manhã”. Mas o tipógrafo errou na grafia. Ao invés de “Et Rose, elle”, colocou “Et Rosaelle. Ficou mais bonito. Esse foi o nome que dei à minha filha, Roselle. No dia de batizar minha filha, consultei o Grand Larousse e vi que “roselle” era um pássaro canoro existente na França. E minha filha gosta muito do nome. Mas voltando à sua pergunta, fiquei muito deslumbrado com a escritura de Barthes, quando li pela primeira vez o livro Fragmentos de um discurso amoroso. Muito do Diário da rosa errância está ali. Bebi no prazer do texto. Barthes era um poeta, um grande poeta da escritura. Você sabia que ele morreu atropelado porque atravessava a rua distraído, lendo o Cidadela da rosa? (risos). Já o Foucault não era poeta, mas escrevia muito bem. Li As palavras e as coisas umas três vezes quando morava em Brasília. MEM – Você tem uma habilidade impressionante para lidar com as palavras. Ou melhor, uma volúpia pelas palavras e suas múltiplas possibilidades sonoras, visuais e semânticas… ACC – Eu tenho e sempre tive uma volúpia pela palavra. Geralmente, ela me seduz primeiro pela sonoridade. O som de uma palavra sempre me leva a outras palavras que me levam a outras pela força dos ecos, das paronomásias, das assonâncias, das ressonâncias. E muitas vezes ou mais de uma vez, uma palavra me desviou da métrica. No meu livro deve ter no máximo uns cinco versos alexandrinos, porque eu sempre me dediquei mais aos decassílabos. E meus decassílabos são – perdoe a modéstia – muito bem feitos, com cesura e tudo mais. Só tenho um verso decassílabo feito para minha mãe que não pude corrigir. É um endecassílabo: Única mulher que quero ver no céu. Tudo por causa da palavra única. Eu poderia ter colocado “Prima mulher”, mas não encaixava. E eu queria mesmo era “única”, não apenas porque era o vocábulo que dizia mais precisamente o que eu queria dizer, mas pela beleza do proparoxítono. MEM – Você é um poeta que ama a beleza e que faz dela o tema privilegiado de vários poemas. O que é o belo para você? ACC – O que sempre me encanta na vida e na poesia é a mulher. Nela está a beleza que me sensibiliza. A beleza que me estremece. Veja o “Soneto do Belo”, que dediquei a um amigo meu que é cirurgião plástico em Belo Horizonte e a quem chamei de “o esteta da plástica impossível”, pois ele tenta construir artificialmente a beleza que já existe na mulher. O poema diz assim: Da essência da beleza me alimento, / De seu mistério sempre me estremeço, / como poeta, às vezes, reconheço / que a beleza é maior que o pensamento. Nesse soneto eu roubei um pouquinho de Schiller. Penso que a paródia é grosseira, mas paráfrase é aceitável, é boa. E todos os poetas parafraseiam. Os poetas não criam, nós imitamos no inventado. Quem cria é Deus, que tira do nada. MEM – É exatamente isso que atravessa aquele seu poema “Por que vim”, no qual você afirma: “Não vim para dizer. Se cheguei tarde / não vim para dizer./ Cheguei tarde porque tudo está falado.” A consciência de que cabe ao poeta inventar no inventado. ACC – É, e você replicou esse poema em um poema muito bonito que dedicou a mim em seu livro Dos haveres do corpo. Mas eu nunca estive de acordo com você, poetisa. Aliás, prefiro chamar as mulheres de poetisas. Acho machismo chamar uma mulher de poeta…. MEM – Hoje eu talvez não fizesse mais aquela réplica, por entender melhor agora o seu poema… Mas continuemos nossa conversa: você já incursionou alguma vez no romance? O exercício da narrativa o atrai? ACC – Nunca gostei de romance. Gosto de fazer o antiromance. Quando eu morava em Brasília escrevi umas 70 páginas de um anti-romance que intitulei Cibernéias, uma parafernália da prosa, tudo empolado. Eu empolo a linguagem, as personagens, as minhas referências culturais, tudo. Um texto completamente barroco. Outro dia eu li o romance O nome da rosa, de Umberto Eco. Também uma parafernália, só que uma parafernália semiótica. Fiquei interessado no livro por causa da minha temática da rosa e por já conhecer Umberto Eco como crítico. E foi uma surpresa ver que ele é também um grande romancista. Tanto o é que as primeiras páginas de O nome da rosa – e isso foi observado no mundo inteiro – não agradam aos leitores de romance. Isso acontece com Os sertões de Euclides da Cunha. Umas quinze páginas que são uma beleza e uma prova de fogo para o leitor. No caso do livro do Umberto Eco, as primeiras páginas são melhores que o romance inteiro, porque nelas o romance ainda não começou (risos). MEM – Voltando à poesia, qual é a sua concepção do fazer poético? Para você, a criação poética é um trabalho de transpiração, de inspiração, de respiração ou de transe? Ou é tudo isso ao mesmo tempo? ACC – Acho que poesia é fazer. A própria etimologia da palavra diz isso. Mas o fazer poético tem também essa coisa grande, misteriosa, que é o transe. Que está lá no Fedro de Platão: o daimon. O poeta é um “daimoniado”. Um diabo no meio do redemoinho, como diz o Guimarães Rosa. Aliás, o Guimarães Rosa é também um grande poeta. O Grande Sertão Veredas, para mim, não é só um romance. É também um poema épico magnífico. Nele o daimon não está separado do fazer, do artesanato. Penso que todo poeta deve superar o artesão. Mas o artesanato é sempre importante. João Cabral, por exemplo, o poeta da “Educação pela pedra”, lavra o poema. Eu o comparo a Francis Ponge. Ele lavra o poema-objeto. Ele vai além da semiótica de Peirce. E ele consegue ultrapassar o artesão, mesmo que não admita isso. O poeta que não supera o artesão não é poeta. Existe aquela história do sujeito que estava lavrando tanto a pedra para construir uma estátua, usando com tanto vigor o camartelo e o cinzel, que a pedra virou pó. O poeta que acredita no artesanato puro e continua enxugando o poema corre o risco de transformar em pó a poesia. Alguns poetas de hoje, que fazem o culto do poema enxuto, concreto, têm, a meu ver, um quê de parnasianos. Por outro lado, acho que eles têm o lado lúdico do trocadilho, do desmembramento do vocábulo, que me agrada muito. Mas a filosofia deles está um pouco para aquilo que o Bilac coloca naquele soneto, que diz: “Quero que a estrofe cristalina, /Dobrada ao jeito/ Do ourives, saia da oficina/ Sem um defeito.” São versos de uma grande modernidade, não acha? Um culto da forma, tal como se vê hoje. Mas antes dele, Álvares de Azevedo, poeta romântico que morreu muito moço, já escrevera: “Se a estátua não saiu como pretendo/Quebro-a mas nunca seu metal emendo.” Mentira dele, pois ele emendava sim. Mas foi um grande poeta. MEM – E a idéia de que o silêncio seria o espaço por excelência da poesia? ACC – É, essa idéia é boa. É o que chamei de “zero absurdo”. Mas você não pode eliminar o som da poesia, a letra, a forma. O silêncio faz parte das palavras. MEM – Qual é, para você, o papel da crítica de poesia? ACC – Sempre fui desconfiado dos críticos. Tanto, que eu não quis para meu livro uma apresentação. E poderia ter pedido um prefácio ao Oswaldino Marques, aquele poeta que mora em Brasília e que escreveu um estudo sobre a poesia de Cassiano Ricardo. Mas preferi escrever o meu próprio exórdio, o “Topos exordial do inédito”. Prefiro eu mesmo fazer minha autocrítica. Como eu já disse, em se tratando de crítica, prefiro a crítica feita pelos poetas. Foi o T.S. Eliot que deu o grande golpe na crítica acadêmica com o seu New Criticism. MEM – Você acredita, como Octavio Paz, que a poesia moderna está sob o signo da “paixão crítica”? ACC – Um poeta invejável, o Octavio Paz. Eu o conheci pessoalmente, fazendo uma conferência sobre poesia em Brasília. Mas sabe o que aconteceu comigo? Não tolerei a conferência dele, pois ele só falava coisas que eu já sabia. (risos) Saí no meio. Isso aconteceu também com uma conferência do Hernâni Cidade, sobre Fernando Pessoa. Ele começou a falar da vida particular do Pessoa. Eu, que estava esperando uma conferência sobre os aspectos filosóficos de Pessoa, sobretudo o seu existencialismo, preferi ir embora. Mas acho que o que realmente marca a poesia moderna é a estranheza, não a crítica. O poeta moderno é um estranho na e à sociedade. Octavio Paz tratou disso melhor do que ninguém. MEM – Vamos falar um pouco sobre o Diário da rosa errância e prosoemas? O que o levou a escrever um livro de prosa poética? ACC – Nada me levou ao livro. Foi tudo circunstancial. Eu nem sabia que tinha escrito esse livro, sinceramente. Acho que eu o escrevi em uma semana, em Belo Horizonte, em 1985. Do jeito que eu sempre gostei de escrever: nas páginas brancas de um livro. No caso, um livro de Roland Barthes. Depois passei a limpo. Minha mulher, Alfa, e Roselle, minha filha jornalista, que adoram adular os meus neurônios, me estimularam a publicar o livro. Resolvi entregar também para minha filha a série de 200 prosoemas intitulada “A minha deslumbrada”, para ela selecionar alguns. Ela selecionou 93. E engraçado você ter dito, um dia, que esses textos tinham algo do surrealismo. Eu já tinha, naturalmente, lido André Breton nessa época. Mas meu surrealismo no livro foi inconsciente. O que me inspirou mesmo – e aqui me refiro aos Prosoemas, que estão no final do livro – foi o trabalho dos pintores italianos, em especial de Fra Angelico, Leonardo da Vinci e Michelangelo. El Greco também me influenciou. Já no Diário da rosa errância, retomo a temática da rosa. Mas fiz aí uma coisa que nunca tinha feito antes: escrevi textos em prosa com frases curtas, concisas, nas quais a palavra vai puxando a palavra. Lembro que minha filha me falou: pai, esse livro está muito erótico! E respondi que não tinha importância, porque meu erotismo não tem “pornéia” (risos). MEM – Mas a sua poesia é essencialmente erótica, mesmo em Cidadela da Rosa. É uma poesia que, além de ter uma volúpia pela palavra e de explorar as múltiplas possibilidades sensoriais, corporais da linguagem, aborda, com freqüência, uma temática voltada para o amor, o corpo, a mulher. ACC – Pois é. Tenho um soneto em versos alexandrinos, chamado “Perpétua”. Todo simbolista. E o que me levou a escrever o poema foi exatamente a palavra “Perpétua”, que me seduziu. Sou um seduzido pelas palavras. São elas que me erotizam no poema. MEM – Como você vê a poesia contemporânea no Brasil? ACC – Não vejo nada. Além de João Cabral, não existe nenhum grande poeta no Brasil hoje. MEM – Você poderia falar um pouco sobre sua formação? É realmente impressionante a sua erudição, a sua história de leituras nos mais variados campos do saber. ACC – Sou um autodidata no campo das Letras. Cursei Farmácia e Bioquímica, mas não fiz nenhum curso na área de Humanidades. No meu tempo, tudo era mais limitado. Não havia as escolas de Filosofia que existem hoje. Talvez eu devesse ter escolhido o Direito, que é mais próximo da Literatura. Mas eu sempre li de tudo. Só não li muitos romances. Apenas alguns clássicos. Li muita Geografia, Filosofia, Química, História, Biologia. Os livros de ciências são tão importantes para a poesia quanto os de literatura. Goethe, por exemplo, era um cientista. Ele escreveu uma tese sobre as cores e pôs muito da sabedoria científica dentro dos seus versos. Eu não quero me comparar a Goethe, pois é impossível fazer uma comparação dessas, mas eu coloquei muito de minha sabedoria esparsa, vinda do campo das ciências, dentro de meus poemas. Sem querer, sem saber. Inconscientemente. Aquele poema mesmo, o “Discurso”, que está na Cidadela, foi escrito dentro do livro Arqueologia do Saber, do Michel Foucault. A arqueologia me atrai até hoje. MEM – Mas você é um arqueólogo das palavras, que sabe “escavar o palimpsesto do que te resta”… ACC – Pode ser. Mas para meter a pá no entulho do sexo para desenterrar ninhos… (risos) MEM – Você é também um poeta que ama as mulheres, que elege musas para seus poemas. O que tem a dizer sobre isso? ACC – Vinícius de Moraes dizia: As feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. Mas não é bem assim. Às vezes basta que uma mulher tenha um belo nome. Ou uma pinta no nariz. Ou olhos de cabrita assustada, no espanto de ser. Ou mágoas de Flor-Bela. A mulher é necessária ao poeta. Ela é – vou usar aqui um neologismo – uma “ademarragem” para o poema. Mas a química, a filosofia, a física, a arte também são. A mulher não é a única musa do poeta. Uma vez fiz uns versos inspirados na poesia surrealista de Murilo Mendes, que dizem mais ou menos assim: os carneiros esgrimam o enigma dos chifres / as mulheres esgrimam o enigma das lágrimas. Aliás, tenho em um caderno várias frases surrealistas que fui anotando aos poucos. Uma delas é: A tua simpatia (de pathos) passeia primaveras em meu rosto. A outra: Atingido de azul, trapaceio com as palavras a claridade de um anjo. E tem uma outra, que fiz para uma menina de 17 anos, que me mostrou uns poemas que havia escrito: Anjo isósceles, com inspiração para agarrar o azul. Foi daí que tirei para o meu futuro livro o título Inspiração para agarrar o azul. Um livro que talvez eu nunca escreva, mas que já existe. Maria Esther Maciel (Brasil, 1963). Poeta, ensaísta. Autora de livros como A lição do fogo (1998), A memória das coisas (2004) e O livro de Zenóbia (2004). Entrevista originalmente publicada na revista Alpha (Patos de Minas, UNIPAM, 2002). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Gerardo Chávez: a propósito de un autorretrato de memoria (entrevista) Carlos Henderson . A Gerardo Chávez hace veinte años la Galeria degli Ufizzi de Florencia, le pidió un autorretrato como antes le había pedido a un número restringido de grandes maestros, por ejemplo, a Francis Bacon. Recién lo ha entregado. El renombrado pintor dice: he buscado que mi autorretrato no sea una reproducción que tenga ver con el parecido, he buscado expresar mi mundo interior. Admiración, empatía trasuntan estas líneas. [C.H.] CH – Sé que hace buen tiempo la Galeria degli Ufizzi de Florencia estuvo reclamando tu autorretrato que últimamente has envíado. ¿Podrías decirnos por qué has tardado en entregarlo. Más aún si fuiste escogido entre los pintores contemporáneos importantes? GC – Yo creo que para mí es un honor que hayan solicitado mi participación. En el primer momento que recibí la noticia hace más o menos veinte años, cuando expuse en Lima en el Museo de Arte Italiano, me pidieron que colaborara entregando un autorretrato a la Galeria degli Ufizzi de Florencia, pero lo tomé como una broma muy curiosa y no le hice caso. Pasó el tiempo, se me volvió a contactar, entonces comprendí que la cosa era seria. CH – ¿Qué pintores han sido invitados? GC – Estoy enterado que se está haciendo una colección de artistas del mundo del siglo veinte con autorretratos. Donde figuran dos o tres artistas por país. Tengo la impresión que la galeria degli Ufizzi quiere dar testimonio de estos pintores contemporáneos. Yo no sabría decirte qué otro pintor peruano ha sido invitado o seleccionado. CH – Quisiera que nos des nombres de los que sepas que ya han entregado. GC – Matta, Guayasamín y Seguí, por Argentina. CH – Bacon, ¿crees que esté? Porque él hizo muchos autorretratos. GC – Seguramente, seguramente. Yo creo que el francés Balthus también está. En fin, yo creo que es una selección de prestigio. Muy importante, muy importante. Para mí, resulta como un premio. CH – Ahora te pido que nos describas el autorretrato. Pero antes te haré una pregunta, digamos, de fondo, ¿ese autorretrato tiene el cometido de romper con tu formación académica, con tus maestros primeros: Rembrandt, Goya, Delacroix, Ingres? GC – Antes del autorrretrato, con fondo negro, hubo otras tentativas. Hice otros en que me miraba al espejo. Trataba de hacerme parecido. Estaba muy ganado por lograr el parecido. El parecido tiene un impedimento que no deja ver la parte interna de uno. Lo que me llevó a hacer varios esbozos, varios estudios para apartarme de la academia. En realidad me es muy difícil apartarme de las proporciones. Mi formación totalmente clásica me impide romper con ellas. Sin embargo por ahí pensé que después de esos estudios, de esos bocetos yo podía hacerme un autorretrato de memoria. Pensando en mí, pero ya sin mirarme al espejo. Bueno, de ahí nace la idea de hacer un autorretrato que escapa por ejemplo –ya visto como forma— a la forma de la cabeza, que se escapa del cuadro. Entonces yo elimino la parte superior del cuadro. Se ve el pelo blanco y la luz se transforma en una especie de nácar, de color blanco elaborado pero que en realidad ya se está viendo como pintura. CH – El color nácar a la izquierda… GC – Así es. Así es. Y la sombra al lado derecho que me permite justamente jugar con la parte grotesca del personaje. O sea yo he tratado que en esa parte oscura aparezca entre luz y entre sombra una nariz super ancha, unos ojos medio chinos, enrabiados, unos pómulos salientes, fuertes. Pero todo esto en una penumbra que permite tratar de entregar el misterio del personaje retratado. Entonces estoy describiendo ese autorretrato paralelamente como forma, como color y como misterio porque estoy creando una atmósfera exagerada, grotesca que va a permitir sentirlo como cuadro. Ya no como representación del parecido. Del parecido de Gerardo Chávez sino a través de esa forma verlo más como la intención de hacer un cuadro. Así es como llego a pintarme con un fondo negro… CH – Pero el negro está matizado, entretejido de color… GC – Cuando yo hablo de un color, por lo menos como lo elaboro, sería un color oscuro con tendencia a ser negro, ¿no es cierto? Pero en el fondo es oscuro porque yo trabajo con carmines, con verdes y esto produce sencillamente un tono oscuro que se dice negro. CH – ¿Y ese rojo? GC – Ese rojo es un pañuelo que siempre he llevado. Yo me ponía una nota de color para alegrarme o para verme mejor. No sé, en algo me alumbraba esa nota de color. Si no era un negro, un azul. Bueno, hablando un poco de esas formas… hago las manos que están en movimiento. Están como tratando de integrarse al mundo de las formas que yo siempre realizo en mis cuadros. O sea que he deformado esos dedos y les he dado un movimiento que tiene que ver mucho con lo que yo trabajo. Con lo que trato de hacer. Vemos dedos… CH – Hay que decirle al lector que el expectador ve cuatro manos… GC – No. No necesariamente, pueden ser seis. Lo que pasa es que esa transparencia crea un movimiento. Hace parecer que yo he querido cruzar los brazos o que he querido dejar esas manos sobre una varilla roja. Esa varilla está allí para darle una nota fuerte de color. No, no. Creo yo que el espectador tiene que recibirlo, sentirlo como un cuadro. Ya no como Gerardo Chávez, ni los ojos azules que tengo… a veces cuando estoy mirando el mar. CH – Se puede resumir diciendo que has querido romper con una serie de cánones académicos, de entregar el universo interno del personaje. ¿Podrías ampliar lo que acabo de manifestar? GC – No. Yo creo que aparentemente parece complejo.Por eso a la parte interna la denominas universo interno. No; no. La parte interna es lo que uno dice y hace cotidianamente. Es la parte interna lo que nos moviliza permanentemente. Yo creo que la parte interna de un artista es lo que nos permite tratar de acercarnos a la verdad íntegramente, puramente. No; no está demás que yo te describa el cuadro porque eso es exactamente como querer describirte a ti el por qué de un cuadro. Y eso ¿no es cierto?, no tiene sentido. Más bien trata de sentirlo. Y trata de entrar en él . De verlo como una obra de un anónimo más. Pero percibiendo la calidad y el sentimiento puesto en esa obra. Y eso es magia. Es magia. Lo que moviliza al espectador. CH – De acuerdo. Pero me parece que aquí hay algo contradictorio. Tu intención, me parece, es romper con tu formación académica, ¿no es cierto? Pero el lado derecho del cuadro es color nácar, el lado izquierdo es oscuro. Te pregunto, ¿no hay allí un claro oscuro? Muy propio del siglo XVII. GC – Rembrandt como padre del clarooscuro lo ha expresado a través de sus obras perfectamente, pero no es mi caso. El clarooscuro del que tú hablas venía acompañado también del parecido. Y había el color de la piel. Sin embargo aquí no, aquí se ha transformado un color blanco. Un color blanco que tiene una luz como si hubiese llegado del interior. ¿Te das cuenta? Yo he utilizado la imaginación. Simplemente he querido ver claro y oscuro. Sin pretensión de ser un continuador de un movimiento de hace cinco siglos. CH – Por cierto, no continuador. Tal vez, ¿destructor? GC – Este cuadro tienes que verlo como un color ya no como luz. Ver un color que es luminoso, naturalmente. Nosotros no podemos romper con el academismo. Existe, está con uno. Lo que tratamos es de dar una versión mucho más libre. Uno tiene un esqueleto formado que es muy difícil romperlo. Por eso no es mi inquietud romper el academismo, o hacerlo que no exista. La verdad es que yo quisiera, más bien, que se mantenga esa especie de clasicismo del cual yo dependo. Pero que la obra internamente le entregue un impulso al espectador por la inquietud misma que ella nos proporciona. Quiero decir que cuando tú ves, por ejemplo, esa parte oscura de ese personaje, yo me disfrazo un poco de monstruo, ¿no es cierto?; yo estoy desproporcionando la anatomía. Y al mismo tiempo como que le estoy poniendo transparencias, un velo, una cortina, una manpara para que a través de todo ello podamos ver ese otro ser que tenemos dentro. En nosotros. Así como tenemos un poquito de Dios, tenemos un poquito del Diablo. ¿Has reparado en que los dos comienzan con una d? CH – Muy intersante. No es mi fiuerte la cuestión sicológica y menos la teológica, sin embargo te preguntaría, ¿ todos tenemos un poco de diablo –comencemos por lo más probable-– y un poco de dios, un poco de monstruo y un poco de ángel? GC – Me parece que sí. Cuando esto no mantiene su equilibrio, y ese poco de uno y ese poco del otro falta, hay la deformación y se establece una serie de injusticias y desequilibrios y guerras y cosas por el estilo. Se desequilibra el ser en su manera de pensar y de actuar. CH – ¿Tu crees que la felicidad del hombre está en su armonía interior? GC – En principio sí. Yo pienso que eso nos da una estabilidad. No el conformismo sino una estabilidad que nos permite jugar con ella, actuar libremente, tener una conciencia entre comillas tranquila. Pero, caramba, objetiva que te lleve a hacer cosas… a ser optimista… CH – Aquello de hacer cosas y ser optimista pertenece a la cultura occidental, no a la oriental, la que tú sin mencionarla la aludías.. GC – Efectivamente. CH – La paz consigo mismo, la quietud interior… ¿Tú tratas de hacer una conjunción de esas dos visiones del mundo? GC – No. Yo lo que trato, mira, es de estar frente a la vida. De tocar la vida con cualquiera de las herramientas: con mi pintura, con mi dibujo. Si puedo yo conjugar lo uno y lo otro, la paz interior y el actuar, el hacer cosas, en la medida de mis posibles, es a condición que mi comportamiento sea recto. CH – No hemos hablado de tu técnica pictórica… GC – La técnica es lo que tú vives, lo que tú realizas… Uno no deja de ser un instrumento, siempre. Uno siente que detrás de uno mismo hay algo que parece superior. CH – ¿Te parece que tú tratas de entregar una respuesta a este mundo que se pregunta y se pregunta y no deja de preguntarse adónde vamos? GC – Honestamente, la pintura para mí es una herramienta. Es una profesión que me permite cuestionarme… la vocación interna está permanentemente cuestionándose. Pero dándole cabida al bienestar del ser. Sin eliminar la duda. Lo importante, sin embargo, para mí es sanar el hombre, para que este pueda ser lo más íntegro posible. CH – ¿Sanar el hombre? GC – Yo. Para comenzar. Carlos Henderson (Peru, 1940). Poeta e tradutor. Autor de livros como En el pasado venías numerosa como un río (1980), El ojo de la piedra. Antología personal (1965-1990) (1991), e Vers la phrase infinie, Alès, L’attentive [Triptyque manuscrit bilingue. Version française de Bernard Noël] (2000). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Gerardo Chávez (Peru). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Guignard: o sonhador de Ouro Preto Carlos Perktold . O mês de junho de 1962 foi difícil para Geraldo Andrada, chefe do Cerimonial do Palácio da Liberdade, no governo de Magalhães Pinto, em Minas. Seu velho amigo, Alberto da Veiga Guignard, um dos maiores artistas brasileiros do século XX, teve novo surto diabético e estava internado no Hospital São Lucas, em Belo Horizonte. Cabia a ele dar duplo amparo ao pintor, que estava aqui desde 1944 a convite de JK: pessoal, por dever de mútua amizade, e oficial por recomendação do governador. Guignard ter alterações diabéticas não era novidade entre seus amigos e seus médicos, Drs. Manoel Borrotchin e Santiago Americano Freire. Ele mantinha cuidados com sua saúde mas, às vezes, perdia o controle e comia uma quantidade exagerada de arroz-doce, sua grande paixão culinária, que adicionado à arteriosclerose e ao alcoolismo, o devoravam aos poucos. Pensava-se, então, que seria apenas uma crise e esta, por definição, passageira. Mas não foi assim e uma semana depois de sua internação, falecia por deficiência cardiorrespiratória o artista que se imortalizou nas telas de uma Ouro Preto que se confundia com sua pessoa, tão grande era a intimidade entre eles. Passados os momentos difíceis da perda dolorosa, todo o Cerimonial se movimenta para receber na capela do Palácio o corpo do artista querido. Findas as exéquias, o mestre é levado para Ouro Preto, por sua própria escolha. Com sua morte, começa uma trajetória de valorização de sua obra que ele imaginava ocorrer apenas em 2062, cem anos após sua morte. Alberto da Veiga Guignard não é somente o nome de um artista insubstituível. É o primeiro verso de uma saga pessoal ainda não escrita. Ela começa em 25 de fevereiro de 1896, em Nova Friburgo (RJ), onde nasce o menino com defeito congênito e termina com a morte do artista no dia 26 de junho de 1962. O lábio leporino dificulta a ingestão de alimentos e a respiração do infante, causando profunda angústia na jovem mãe. Ela, impotente, via a dificuldade do filho em aprender a se alimentar para sobreviver. Essa deformidade marca sua forma de se colocar no mundo para sempre. Filhos com defeitos congênitos aprendem a se ver e o horror que causam através do olhar materno, que funciona como um espelho. É provável que Dona Leonor tenha demorado algum tempo para elaborar no seu psiquismo o defeito do filho, a aceitá-lo e a amá-lo. Seria desumano exigir dela uma atitude diferente porque, no imaginário de todos os pais, os filhos nascem saudáveis e perfeitos. Desumano, também, seria exigir do filho que não se sentisse no mundo como um convidado inadequado em função da sua diferença. O mundo pregou-lhe uma peça, fazendo-o sofredor de algo que o fez desigual para sempre. Ele sente a falta, o vazio na alma, que é sublimado para a pintura, tão logo ele pode executá-la e entendem-no como jovem talentoso. Se a natureza não lhe deu a capacidade de respirar e deglutir como os outros, compensou-o com a habilidade para olhar e ver, como artista, a natureza, a paisagem, as cidades, as pessoas. Essa habilidade é o tempero necessário para desenvolver a dádiva recebida dos deuses para desenhar e pintar. Com dificuldades financeiras, o pai morre num “acidente” com arma de fogo, quando Alberto era ainda muito jovem. Angustiante é a vida de filhos de pai suicida. Este episódio abre um vácuo emocional na vida deles, impossível de ser coberto. E é com o peso da dupla carga emocional do problema congênito e da morte do pai em circunstâncias tão trágicas, que nosso mestre segue para a Europa com a mãe e o detestado padrasto. Lá, este liquida com o que restava do dinheiro da viúva, a mostrar como o mundo podia ser irônico: Guignard passa da experiência de pai morto por dificuldades financeiras e, em seguida, a de ter padrasto perdulário. O dinheiro é, desde sempre, uma dificuldade a mais desse viajante da vida com bagagem cheia de falta, ausência e vácuo. O restante de sua permanência na Europa ainda precisa ser melhor descoberto e relatado, mas sabe-se por biografias dele, escritas por Frederico Morais, Lélia Coelho Frota, Ivone Luzia Vieira e por depoimentos de amigos, que o mestre viveu em Munique, onde, com disciplina germânica, aprendeu as técnicas do desenho e da pintura. Ali expôs pela primeira vez. Roma e Florença foram suas amantes de sempre. Paris foi outra presença amiga onde dividiu quarto com Fernand Léger de quem recebeu, com dedicatória, dois óleos lindíssimos pertencentes ao acervo de conhecida coleção belohorizontina. Tudo isso, antes de se mudar de vez para o Brasil. Guignard vai sentir ao longo da vida outra falta: a de constituir a sua própria família. A tentativa de existência dela começa com um casamento de curta duração com Ana Döring e continua com amores mineiros como Amalita e Celina Ferreira. Conta a lenda que ele foi abandonado pela mulher meses depois do casamento, com o casal ainda em lua-de-mel. Ela, musicista, não deve ter suportado a voz com pouca sonoridade do marido e a constante dificuldade dele para se alimentar. Mesmo abandonado, ele sente a fundo a morte dela, anos depois. A falência do casamento fica registrada como mais um ardil da sua vida. É possível que os deuses tenham feito um acordo com ele: enquanto mortal, terás uma vida difícil; depois de morto, serás imortal. Pode-se levar um tempo enorme nas intermináveis pesquisas sobre sua biografia; o resultado delas será a descoberta do mesmo mistério que se repete em suas obras. Nestas, é o enigma interminável que procuramos decifrar cada vez que miramos seus quadros, na esperança de que, dessa vez, o solucionaremos. Inútil, esperamos uma resposta da tela, quando ela apenas faz a pergunta, a demonstrar que a resposta está na sensibilidade de cada um. É um jogo de espelho sedutor e de intrigante lirismo. Sua pintura contém a influência do pintor Dufy, a quem ele considerava seu mestre. Dele herdou a coragem do uso das cores e do pincel fino, privilégio de quem conhece a técnica do desenho. Desenvolveu a transparência, sua marca registrada, e a deixou como parte de seu legado intelectual a um grupo de alunos que se utilizam dela até hoje: Yara Tupinambá, Sara Ávila e Maria Helena Andrés. Tinha ainda a singularidade do estilo inconfundível do desenho, feito com lápis de grafite duro. Ouro Preto, uma constante em sua obra a partir de 1944, marca-o para sempre. Ambos têm a sorte de terem se encontrado várias vezes do seu alto, em frias manhãs cheias de névoas que vão, aos poucos e em frente a seus olhos, despindo-se pela diluição, expondo a beleza de suas montanhas, casas e igrejas que surgem como se flutuassem do espaço mágico. A cena é eletrizante e a paixão, fulminante. Guignard cai de amores pela cidade e pela suave luz, a qual, refletida pelas montanhas, reverencia o barroco puro. E ela, reconhecendo a grandeza dele, aceita, cheia de gratidão, aquele que estava a seus pés e que mostraria sua beleza ao mundo, acolhendo-o para sempre. Ela se entrega e ele torna-se seu dono. Guignard pinta suas “imaginantes” ou “imaginárias” paisagens de Ouro Preto, como as chamou Lélia Frota, hoje, uma consagrada referência poética. Mas não se imagine que essas paisagens surgiram de sua fantasia de artista. Elas estão lá nesse momento, concretas, objetivas e esperançosas como uma adolescente apaixonada, esperando pela volta do poeta que as imortalizou; no mesmo local onde, um dia, se conheceram e se amaram. Se o leitor tiver a paciência de um fantasma, poderá ficar de tocaia no lugar onde ele pintava e presenciar, numa dessas arrefecidas madrugadas de inverno, o idílio entre o velho artista que volta, flutuando numa nuvem de suas paisagens soprada por zéfiro e emoldurado por guirlandas de querubins, para a repetição do encontro imortal do gênio com a natureza. Seus retratos, um tema que merece teses de doutorado, são um capítulo à parte de sua carreira. A força e a comovente simplicidade deles podem ser comprovadas no retrato do garoto Rodrigo Assunção Gontijo. Conhecedor das dificuldades da técnica do desenho, da qual era um mestre absoluto, tinha consciência de que o retrato era a “arte mais difícil”. É nele que o artista se projeta e convence o público do seu talento. É um Midas moderno que, tocando, vira esplendor, ternura e arte, Guignard brilhava até mesmo nas encomendas dos retratos objetivos. Naqueles subjetivos, como no retrato de Geraldo Andrada (“O Príncipe Orsini”), demonstrou toda sua afeição de amigo e o talento de artista definitivo, fazendo dele uma iconografia de sua pintura. Naqueles de meninas ou mulheres adultas, mostra como era galante associando-as às flores colocadas nos cabelos ou na roupa, como se elas, sendo mensageiras da sua posteridade, devessem se lembrar de que, para ele, elas seriam sempre “minhas flores”. Fazia algumas exceções. No retrato de Celina Ferreira pintou o Parque Municipal de Belo Horizonte no fundo da tela, como se dissesse que dela, ele esperava mais que ser uma flor na vida dele. Deixava em cada tela apenas uma leve camada de tinta, suficiente para mostrar a grandeza do artista e tudo que ele queria dizer do modelo. Nos retratos de crianças, fazia questão de retratá-las com a simplicidade do infante que sabe pouco do mundo. Pinta-as com olhos ingênuos, de quem imagina ser o mundo apenas o que é visto objetivamente, projetando-se num jogo de espelhos entre modelo e artista. Sara Ávila se lembra da recomendação fundamental do professor Guignard a seus alunos nas aulas de desenho: “Aprendam a ver, procurem tatear o objeto e a paisagem com os olhos, usem todos os seus sentidos, muita atenção nas linhas”. Chama a atenção de todos para os detalhes de cada coisa, demonstrando como o somatório deles faz o conjunto brilhar, marcando, em si mesmos, a presença de Deus. Lições simples são difíceis de ser elaboradas, porque há uma condensação de ensinamentos que requer experiência, pertinácia e muito trabalho para ser compreendida e aproveitada. Apenas com a lenta elaboração do conteúdo de cada lição, adicionada à maturidade pessoal, entende-se a dimensão das palavras de lentes inesquecíveis. O ensino maior do professor Guignard foi a liberdade de deixar criar. Ele acreditava que, se os alunos são talentosos e aprendem as técnicas do desenho, da pintura e da aquarela, serão reconhecidos e valorizados. Guignard foi um mestre altruísta, privilégio de professor sem medo de concorrência futura; por isso nunca escondeu conhecimento. Os alunos de mestres com esse perfil ganham ainda mais quando se colocam em lugares de humildade, reconhecendo que, sem ela, não há aprendizagem. Ser aluno deles é estar preparado para recebê-los como mensageiros dos deuses. Se o aluno percebe a dimensão do que é ensinado e da importância do lente, aprende a desenvolver o olhar e a ver com seus olhos aquilo que o mestre vê com os dele. Assim, ganha anos de experiência em pouquíssimo tempo. É um raro privilégio encontrar juntos os dois elementos desse processo, porque, na nossa cultura, o conhecimento é adquirido ainda pelo método mais difícil: a dura experiência pessoal. Jovens e tolos, despreparados e ingênuos, acreditamos pouco nos mestres definitivos de nossas vidas. Guignard nasceu diferente; diferença que contribuiu para criar um estilo único de desenhar e pintar. Suas criações constituem-se numa das mais brilhantes da pintura brasileira. Ao morrer deixou, para seus amigos, saudade eterna; para o Brasil, um acervo que faz dele um artista definitivo e imortal. Carlos Perktold (Brasil, 1943). Ensaísta e crítico de arte. Autor de Ensaios de pintura e de psicanálise (2003). Tem presença dupla nesta edição da Agulha, sendo também o responsável pelo ensaio de apresentação do artista convidado, Vicente do Rego Monteiro. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Alberto da Veiga Guignard (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Gnose, gnosticismo e a poesia e prosa de Hilda Hilst Claudio Willer . Havia prometido – a mim, a leitores de Agulha, a apreciadores da poesia de Hilda Hilst – prosseguir o que foi exposto em Amavisse, de Hilda Hilst: pacto com o hermético, publicado em Agulha # 43. Especialmente, ampliar o exame da presença do gnosticismo em sua obra. Lembrando: Amavisse, de Hilda Hilst: pacto com o hermético é a transcrição de um artigo publicado em 1990 no Jornal do Brasil. Desde então, muita água rolou. Pesquisei mais o gnosticismo, e preparo uma monografia ou capítulo de algo sobre essa doutrina. Hilda Hilst publicou outros livros importantes, depois de Amavisse. A bibliografia sobre ela cresceu. Retornei em algumas ocasiões à sua poesia – a mais recente, em uma palestra para um ciclo no SESC, organizado por Beatriz Azevedo, em março deste 2005. É preciso, antes de mais nada, deixar claro o seguinte: blasfêmias, religiosidade herética, misticismo pessoal, afinidade com gnosticismo, com sistemas filosóficoreligiosos do oriente, budismo e hinduísmo, com outras doutrinas, hermetismo inclusive, e com poetas-místicos cristãos – tudo isso, já observado pela própria Hilda Hilst ou por comentaristas, é inseparável de sua densidade, de sua dimensão propriamente metafísica e ao mesmo tempo transgressiva. Contudo, o que a torna uma grande poeta é, em primeira instância, a capacidade de criar imagens poéticas através da aproximação de realidades distantes. Por exemplo, ao enxergar (aqui citando Amavisse, na edição de Massao Ohno de 1989, toda anotada por mim – esses poemas foram republicados em Do Desejo, editora Pontes, 1992, e pela Globo, em suas obras completas) Os ponteiros de anil no esguio das águas. Ao dizer que uma mulher dentro dela tinha o rosto de uns rios, e a viu no roxo das ciladas. Ao criar títulos como Rútilo Nada. Ou ao falar de Um peixe raro de asas/ As águas altas/ Um aguado de malva/ Sonhando o Nada, em Da Morte. Odes Mínimas (Ed. Globo, 2001). E, no vertiginoso Cantares (Ed. Globo, 2001), ao descrever Um cemitério de pombas/ Sob as águas/ E águas-vivas na cinza.// Ósseas e lassas sobras/ Da minha e da tua vida. Essas imagens rompem com o discursivo, com o prosaico. Seguem o pensamento analógico, a lógica do sonho que desconhece os princípios da identidade e nãocontradição – O que restou de nós decifrado nos sonhos, como diz em Amavisse –, da alucinação e da loucura: estendi-me ao lado da loucura/ Porque quis ouvir o vermelho do bronze. Deixando de lado esses componentes do valor poético, interpretações filosófico-religiosas podem ser redutoras. Mas isso não impede a identificação, como o fiz no ensaio anterior, do Deus em passagens de Amavisse – como Que vertigem, Pai./ Pueril e devasso/ No furor da tua víscera/ Trituras a cada dia/ Meu exíguo espaço ou em Deus, um cavalo de ferro/ Colado á futilidade das alturas – a Ialdabaoth, o Demiurgo gnóstico. Essa visão de Deus acentua-se, chega a um paroxismo, em outras das obras de Hilda, especialmente, de sua prosa, em A Obscena Senhora D (cito da edição Massao Ohno – Roswitha Kempf de 1982): olha Hillé a face de Deus onde onde? olha o abismo e vê eu vejo nada E em Estar sendo, ter sido (Nankin, 1997), seu último livro, um vigoroso testamento literário: as coisas que o Criador faz. deve rir sem parar das coisas que constrói. […] Aqui estou eu, eu Vittorio, Hillé, Bruma-Apolonio e outros. eu de novo escoiceando com ternura e assombro também Aquele: o Guardião do mundo. São representações de Deus que correspondem àquela de Georges Bataille, autor lido por Hilda (citado em passagens de sua obra, inclusive em uma epígrafe de Amavisse), em sua exacerbada crítica ao antropomorfismo e ao idealismo: Deus saboreia-se, diz Eckhart. É possível, mas o que ele saboreia parece-me que é o ódio que ele tem de si mesmo, ao qual nenhum, cá na Terra, pode ser comparado […] O que, no fundo, priva o homem de toda possibilidade de falar de Deus é que, no pensamento humano, Deus torna-se necessariamente conforme ao homem, na medida em que o homem é cansado, faminto de sono e de paz. […] Deus não encontra repouso em nada e não se sacia com nada. Cada existência está ameaçada, já está no nada da Sua insaciabilidade. E assim como Ele não pode se acalmar, Deus não pode saber (o saber é repouso). […] Ele só conhece o seu nada, e por isto Ele é, profundamente, ateu: Ele cessaria tão logo de ser deus (só haveria, no lugar da Sua horrível ausência, uma presença imbecil, abobalhada, se Ele se visse como tal). (a citação é de Bataille, A experiência interior, Editora Ática, São Paulo, 1992) Conforme observa Eliane Robert de Moraes, especialista em Bataille, em ensaio sobre Hilda Hilst (no Cadernos de Literatura Brasileira – Hilda Hilst do Instituto Moreira Salles): Não por acaso, o alvo primeiro dessa violência [contra o ideal, belo e inatingível] será o mesmo Deus que antes habitava a Idéia e sustentava a ilusão do Todo – esse equivalente algébrico e abstrato das vãs promessas de salvação. Ou, como resume Leo Gilson Ribeiro (também no Cadernos do IMS): Durante certo período de tempo, Deus lhe apareceu como o Baal de Brecht, monstruoso, sádico. É um Deus gnóstico. Os adeptos do gnosticismo não apenas atribuírem a criação e regência do mundo a um Demiurgo, “pequeno deus”, de segunda ordem – nisso acompanhando Platão – mas descreverem esse cosmocrator, regente do mundo – chamado de Ialdabaoth, Samael ou Saclas – como cego, orgulhoso, arrogante, prepotente e obtuso. Conforme A realidade dos Governantes, uma das “escrituras gnósticas” da Antiguidade (publicada em As Escrituras Gnósticas de Bentley Layton, ed. Loyola): Abrindo os olhos, ele [Ialdabaoth, engendrado pela fé e sabedoria, ou seja, Pistis Sophia] viu uma vasta quantidade de matéria sem limite; e ele se tornou arrogante, dizendo: “Eu é que sou deus, e não há nenhum além de mim.” […] Este governante, por ser andrógino, fez para si mesmo um vasto reino, uma extensão sem limite. E ele pensou em criar filhos para si mesmo, e criou para si mesmo sete filhos andróginos exatamente como o pai deles. E ele disse a seus filhos: ‘Eu é que sou o deus da totalidade. Para o historiador das religiões Henri-Georges Puech (autor de de En quête de la Gnose, Gallimard, 1978), gnosticismo é reflexão sobre o mal, buscando entendê-lo e descrever sua origem. Conferiu-lhe estatuto ontológico e dimensão cósmica: O firmamento, os corpos celestes, especialmente os planetas que presidem ao Destino, à Fatalidade, são seres maus ou a sede de Entidades inferiores, tais como o Demiurgo e os anjos criadores, ou Dominadores demoníacos, com formas bestiais: os “Arcontes”. Em uma palavra, o universo visível, de divino que era, torna-se diabólico. O homem nele sufoca, como em uma prisão, e, longe de ser manifestação do verdadeiro Deus, traz a marca de sua enfermidade ou de seu malefício congênito: nele não se reencontra nada, a não ser a mão de um Ser decaído ou perverso. Jean Doresse, outro estudioso importante do gnosticismo, expõe a crença comum a uma diversidade de cultos gnósticos, ao que consta fundados por Simão o Mago, e que competiram com o cristianismo entre os séculos I e V d. C (para em seguida reaparecerem como maniqueístas, bogomilos e cátaros): […] a Lei de Moisés é má, pois não havia sido o Deus supremo, porém certos anjos os que haviam criado o mundo inferior. São talvez essas mesmas doutrinas as que se ocultam no prólogo do Evangelho de João (o mesmo João cujo Apocalipse evidencia uma grande cólera contra as seitas), cujas definições refutam implicitamente, ponto por ponto, o ensinamento de que o mundo de modo algum é obra do Deus Supremo: a luz se viu atacada pelas trevas, o Logos não assumiu a carne mais que em aparência, vindo a este mundo só para certos eleitos ou privilegiados. (Doresse, La Gnosis, em Puech, Henri-Charles, org. Historia de las religiones, editora Siglo XXI, Madrid, 1979) Conforme observou Octavio Paz em A dupla chama – Amor e Erotismo (Editora Siciliano, 1994), a propósito dos cátaros, gnósticos e maniqueístas tardios da Provença medieval, …o dualismo é nossa resposta espontânea aos horrores e às injustiças da Terra. Deus não pode ser o criador de um mundo sujeito ao acidente, ao tempo, à dor e à morte; só um demônio pode ter criado uma terra manchada de sangue e regida pela injustiça. Por isso, gnósticos certamente subscreveriam a visão de mundo expressa com veemência na Ode a Walt Whitman de García Lorca (transcrevo da Obra Poética Completa de García Lorca, tradução de William Agel de Melo, Martins Fontes – UEB, Brasília, 1989): Agonia, agonia, sonho, fermento e sonho. Este é o mundo, amigo, agonia, agonia. Os mortos se decompõem sob o relógio das cidades, a guerra passa chorando com um milhão de ratas grises, os ricos dão a suas queridas pequenos moribundos iluminados, e a vida não é nobre, nem boa, nem sagrada. Ou então, as referências ao mundo, ao corpo e a Deus em A Obscena Senhora D e Estar sendo, ter sido. Mas o gnosticismo não se resume à postulação de um mundo intrinsecamente mau, corrompido, por conseguinte criado e regido por um Deus mau. Nisso interagindo com o hermetismo de Alexandria, seu contemporâneo, gnosticismo é a doutrina religiosa do conhecimento. Layton, no já citado As Escrituras Gnósticas, identifica gnosis a um entendimento não-discursivo. Puech diz o mesmo (em En quête de la Gnose): Conhecimento ou reconhecimento de si, revelação de si mesmo a si mesmo, a gnose é, portanto, simultaneamente o conhecimento de todo o universo, visível e invisível, da estrutura e do devir do mundo divino assim como do mundo físico. […] O conhecimento de si implica redenção de si, assim como aquele do universo implica os meios de se libertar do mundo e dominá-lo. Esse especialista observa que gnosis é palavra transitiva, que supõe um genitivo. É sempre conhecimento de algo: daí o uso do termo pelo gnosticismo ser estranho. Sugere identidade com o divino, a esfera superior, os mistérios, e também consigo mesmo, com a própria alma, com a centelha de luz que permanece no ser humano: O que é, com efeito, a gnose senão – como significa seu nome grego, gnosis – “conhecimento”, ou seja, conhecimento no sentido absoluto do termo, ou, mais precisamente, um conhecimento que é, em primeiro lugar, conhecimento simultâneo e recíproco de si mesmo em Deus e de Deus em si mesmo, que permite àquele que possui esse conhecimento, o “gnóstico”, salvar-se, assegurando-lhe que pode ser salvo, que o será e que inclusive já o é? A perfeição gnóstica é uma reintegração, nisso assemelhando-se a doutrinas orientais; em primeira instância, ao budismo e hinduísmo. Trata-se de um conhecimento que não apenas eleva, mas salva, permitindo que o eleito venha a livrar-se deste mundo. Conforme o Zöstrianos, outra das ‘escrituras gnósticas’ (transcrito em As Escrituras Gnósticas de Layton), a pessoa que se salva é a que procura compreender e, assim, descobrir a si mesma e ao intelecto. Novamente citando Doresse (no já citado Historia de las religiones): Conhecer-se é, com efeito, reconhecer-se, reencontrar e recuperar o verdadeiro “eu”, anteriormente obnubilado pela ignorância e pela inconsciência a que a fusão com o corpo e a matéria submete o homem: a gnosis é em realidade uma epignosis, um “reconhecimento”, uma rememoração de si mesmo.’ Gnose é, por isso, um conhecimento que se confunde com seu objeto, como se as categorias do ser e conhecer fossem uma só. Isso fica claro através desta citação do Evangelho do Apóstolo Tomé (também em As Escrituras Gnósticas de Layton), expressão de um cristianismo oriental, herético e hermético, afim ao gnosticismo: As pessoas não podem ver coisa alguma no reino real, a menos que se tornem essa mesma coisa. No reino da verdade, não é como os seres humanos no mundo, que vêem o sol sem ser o sol, e vêem o céu e a terra e assim por diante sem ser eles. Antes, se você viu qualquer coisa lá, você se tornou aquela coisa: se você viu o espírito, você se tornou o espírito; se você viu o ungido (Cristo), você se tornou o ungido (Cristo); se você viu o [pai, você] se tornará o pai. Assim, [aqui] (no mundo) você vê tudo e não [vê] a si mesmo. Mas lá, você vê a si mesmo; pois você se torna o que você vê.’ É possível observar, através dessas sinopses, uma diferença fundamental do gnosticismo com relação à doutrina cristã: a salvação não é mais conseqüência das ações e da fé, mas do conhecimento. E mais: a valorização gnóstica do conhecimento equivale a uma divergência frontal com a ortodoxia cristã, como argumenta outra importante estudiosa do assunto, Elaine Pagels (em As Origens de Satanás, Ediouro, Rio de Janeiro, 1996): Os cristãos, diz Tertuliano, citando Paulo, deveriam, todos, falar e pensar as mesmas coisas. Quem quer que se afaste do consenso era, por definição, um herege, porque, como observa ele, a palavra grega traduzida como “heresia” (hairesis) significa literalmente “opção”. Logo, o “herege” era um indivíduo que faz uma opção. […] Tertuliano, porém, reafirma que fazer opções era um mal, porque elas destroem a unidade do grupo. A fim de erradicar a heresia, continua, os líderes da Igreja em hipótese alguma deviam permitir que as pessoas fizessem perguntas, porque as perguntas é que as tornam heréticas – acima de tudo, aquelas como as seguintes: de onde vem o mal? Por que o mal é permitido? Qual a origem dos seres humanos? Tertuliano quer colocar um ponto final nessas questões e impor a todos os crentes a mesma regula fidei, ”regra da fé”, ou crença. […] O verdadeiro cristão, diz Tertuliano, apenas resolveu nada saber … que divirja da fé.’ Em sua tentativa de superar a antinomia entre sujeito e objeto, no gnosticismo a iluminação coexistiu com a reflexão. Ligou-se, sob esse aspecto, à alquimia e ao hermetismo de Alexandria, do Corpus Hermetico, seu contemporâneo. Podem ser-lhe afins tendências modernas que propõe a síntese ou integração de várias modalidades de saber, a exemplo do holismo, do conhecimento amplo pregado por Edgard Morin. Gnose ainda equivale a um conhecimento secreto, iniciático, do âmbito dos eleitos: os descendentes de Set, o terceiro filho de Adão, que detêm o constato com o Espírito. Distinguem-se dos psíquicos ou crentes, que podem ter acesso à gnose através do aprendizado e disciplina, ou seja, de uma iniciação, e dos somáticos ou hílicos, alheios à dimensão espiritual. Possivelmente, a vertente esotérica, secreta, do gnosticismo, influenciada pelo cristianismo oriental dos seguidores dos evangelhos atribuídos a Tomé, acentuou-se à medida que foi sendo pressionado e combatido pelo cristianismo ortodoxo, transformado em religião oficial e imperial no século IV d. C. Pode-se, por isso, associar gnosticismo à inquietação intelectual, ao inconformismo e insatisfação diante do mundo, e à conseqüente vontade de superá-lo ou transcendê-lo. Sob este aspecto, William Blake representa uma reaparição do gnosticismo na poesia, conforme observado por Pagels, Bloom, Hoeller, e outros estudiosos. Um exemplo seriam as passagens de The Everlasting Gospel, com sua exaltação da experiência individual (traduzo de The poems of William Blake, Oxford University Press, 1960): A Visão do Cristo que tu vês É a maior inimiga da minha visão. A tua tem um grande nariz adunco como o teu, A minha tem um nariz redondo como o meu. A tua é a do Amigo da Humanidade; A minha fala em parábolas aos cegos. A tua odeia o mesmo mundo que a minha odeia; As portas do teu céu são os portões do meu inferno. […] Ambos lemos a Bíblia noite e dia, Mas tu lês negro onde eu leio branco. Daí – desse ímpeto rebelde no gnosticismo – a importância que lhe é atribuída, entre outros, por André Breton. No ensaio Flagrant délit (em La clé des champs, Le livre de Poche, 1979) o surrealista, a propósito da descoberta dos papiros gnósticos de Nag Hammadi, textos em copta encontrados no Egito a partir de 1945, apresenta-se como continuador de uma tradição cuja origem estaria no gnosticismo: Sabe-se, com efeito, que os gnósticos estão na origem da tradição esotérica que consta como tendo sido transmitida até nós, não sem se reduzir e degradar parcialmente ao correr dos séculos. (Os Templários teriam recebido seus preceitos na Ásia, na época das primeiras cruzadas, de um resto de maniqueus que lá encontraram). Ora, é notável que, sem haverem de modo algum combinado isso, todos os críticos verdadeiramente qualificados de nosso tempo foram levados a estabelecer que os poetas cuja influência se mostra hoje a mais vivaz, cuja ação sobre a sensibilidade moderna mais se faz sentir (Hugo, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé, Jarry), foram mais ou menos marcados por essa tradição. Não, é certo, que se deva tê-los por “iniciados” no sentido pleno do termo, mas os uns e os outros pelo menos foram submetidos fortemente a sua atração e nunca deixaram de testemunhar-lhe a maior deferência. Algo semelhante é observado por Susan Sontag no prefácio para a edição norte-americana de Artaud (Antonin Artaud, Selected Writings, Farrar, Strauss and Giroux, 1976, publicado no Brasil em Sob o signo de Saturno, L&PM, 1986): Artaud perambulou no labirinto de um tipo específico de sensibilidade religiosa, a gnóstica. (centrais ao mitraísmo, ao maniqueísmo, ao zoroastrismo, ao budismo tântrico, mas empurradas para as margens heréticas do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, as perenes temáticas gnósticas aparecem nas diferentes religiões com diferentes terminologias, mas com certos traços comuns). […] O pensamento de Artaud reproduz a maioria dos temas gnósticos. […] Como os alquimistas, obcecados com o problema da matéria nos termos classicamente gnósticos, procuraram métodos para transformar uma espécie de matéria em outra (mais elevada e espiritualizada), Artaud procurou criar uma arena alquímica que operasse na carne tanto quanto no espírito.’ Alexandrian, em História da Filosofia Oculta (Edições 70, Lisboa, s/d), atribui-lhe o mesmo alcance: O espírito da Gnose subsistiu até nossos dias, afirma. E acrescenta: Todos os grandes filósofos ocultos foram, de uma forma ou de outra, continuadores dos gnósticos, sem que necessariamente lhes utilizassem o vocabulário e os temas, e sem se preocuparem permanentemente com Pleroma, com os Eons ou com o Demiurgo. Pelas mesmas razões, Alexandre Roob, em Alquimia & Misticismo – O Museu Hermético (Taschen, Lisboa, 1997) também situa o gnosticismo na origem da tradição mágica e mística ocidental, da qual faz parte a alquimia. Observa que procedimentos mágicos são uma tentativa de superar o abismo entre o pleroma, a plenitude espiritual do mundo de luz divino, e o kenoma, o vazio material do mundo das manifestações terrenas. […] As repercussões da consciência gnóstica sobre a vida intelectual européia são de tal modo vastas e onipresentes que se torna difícil avaliar sua dimensão: o homem do corpus hermeticus, dotado de poderes criadores divinos, funde-se com a imagem do homem renascentista, que começa a libertar-se das cadeias do cosmos medieval, estratificado, para se deslocar na direção do centro do universo. O cosmo gnóstico foi povoado por um sem-número de entidades e categorias cujos nomes parecem ser ressonâncias de línguas arcaicas da Mesopotâmia, do grego e do hebraico, em um sincretismo que suscitou comentários de Georges Bataille, em Le bas matérialisme et la gnose (no Volume I de suas Oeuvres Completes, ed. Gallimard), acentuando o que essa doutrina tem de perturbador, ou seja, subversivo: A gnose, com efeito, antes e depois da predicação cristã, e de um modo quase bestial, quaisquer que tenham sido seus desenvolvimentos metafísicos, introduziu na ideologia greco-romana os fermentos os mais impuros; emprestava de toda parte à tradição egípcia, ao dualismo persa, à heterodoxia judaico-oriental, os elementos os menos conformes à ordem estabelecida; acrescentavalhes seus próprios sonhos, exprimindo com clareza algumas obsessões monstruosas; não se repugnava, na prática religiosa, com as formas mais baixas (por isso, inquietantes) da magia e da astrologia gregas ou assíriocaldaicas; e ao mesmo tempo utilizava, porém talvez mais exatamente comprometia, a nascente teologia cristã e a metafísica helenística. O autor de A Literatura e o Mal acentuou, ainda, a separação entre gnosticismo, cristianismo, e o monismo da filosofia helenística. Insistiu que gnosticismo é uma doutrina autônoma, e não uma heresia ou derivação do cristianismo, como pretendem muitos de seus estudiosos: […] o neoplatonismo e o cristianismo não devem ser procurados na origem da gnose, cujo fundamento é mesmo o dualismo zoroastriano. Dualismo por vezes desfigurado, sem dúvida na seqüência de influências cristãs ou filosóficas, mas dualismo profundo e, ao menos em seu desenvolvimento específico, não emasculado por uma adaptação ás necessidades sociais, como no caso da religião iraniana. […] Praticamente, é possível dar como um leitmotiv da gnose a concepção da matéria como um princípio ativo tendo sua existência eterna autônoma, que é aquela das trevas (que não seriam a ausência de luz, porém os arcontes monstruosos revelados por essa ausência), aquela do mal (que não seria a ausência do bem, mas uma ação criadora). Essa concepção era perfeitamente incompatível com o princípio mesmo do espírito helênico, profundamente monista e cuja tendência dominante dava a matéria e o mal como degradações de princípios superiores. A conexão Bataille – gnosticismo é comentada por Eliane Robert Moraes, em O Corpo Impossível (O corpo impossível: a decomposição da figura humana, de Lautréamont a Bataille, Iluminuras – FAPESP, 2002), a propósito dos abraxas, do registro iconográfico do gnosticismo feito de imagens que sobreviveram a seus textos, resistindo à destruição: As concepções gnósticas do início da era cristã propõem uma subversão dos ideais da antigüidade greco-romana ao introduzir em seu discurso “os fermentos mais impuros”, substituindo as formas elevadas pelas figuras mais baixas. Por recusarem a linearidade e a homogeneidade próprias das representações acadêmicas, as imagens polimorfas da gnose provocam intensas “desordens filosóficas”, o que por certo está na origem de sua desqualificação enquanto “pensamento decadente”. Ora, o leitmotiv do gnosticismo seria justamente “a concepção da matéria como um princípio tendo existência eterna autônoma”: ao contrário da filosofia tradicional, que lhe atribui um papel passivo, a gnose confere à matéria um estatuto novo, até então reservado à idéia. Portanto, nada de extravagante em enxergar gnosticismo em Hilda Hilst. Equivale a situá-la em uma tradição ou linhagem de poetas. E de magos e visionários como, na Renascença, Giordano Bruno ou John Dee, com seus projetos de um saber amplo, unificando ciência e magia. A valorização ou sacralização gnóstica do conhecimento é evidente, por exemplo, neste belo poema, o VI da série Poemas aos homens do nosso tempo, publicado em Júbilo, memória, noviciado da paixão (Editora Globo, 2001), que transcrevo na íntegra: Tudo vive em mim. Tudo se entranha Na minha tumultuada vida. E porisso Não te enganas, homem, meu irmão, Quando dizes na noite, que só a mim me vejo. Vendo-me a mim, a ti. E a esses que passam Nas manhãs, carregados de medo, de pobreza, O olhar aguado, todos eles em mim, Porque o poeta é irmão do escondido das gentes Descobre além da aparência, é antes de tudo Livre, e porisso conhece. Quando o poeta fala Fala do seu quarto, não fala do palanque, Não está no comício, não deseja riqueza Não barganha, sabe que o ouro é sangue Tem os olhos no espírito do homem No possível infinito. Sabe de cada um A própria fome. E porque é assim, eu te peço: Escuta-me. Olha-me. Enquanto vive um poeta O homem está vivo. Hilda equipara o poeta ao eleito gnóstico. Associa liberdade e conhecimento, transformando os dois termos em um par, de tal forma que um implica o outro: o poeta é […] Livre, e porisso conhece. Conhecer é ser livre, e vice-versa. Mas o que é esse conhecer? É descobrir além da aparência, diz ela. Trata-se, portanto, de um conhecimento iniciático, esotérico. E qual é o objeto desse conhecimento? É o escondido das gentes, o espírito do homem, um possível infinito. Algo oculto no íntimo de cada um, revelado pelo poeta. A poeta confunde ou, antes, funde o objeto do conhecimento e aquele que conhece, a percepção e o percebido: Quando dizes na noite, que só a mim me vejo./ Vendo-me a mim, a ti. E a esses que passa. Saber enxergar-se é enxergar os outros – e vice-versa. Quer a superação da dualidade entre sujeito e objeto, lembrando o trecho citado acima do Evangelho de Tomé, e também o que sugeriu Baudelaire em A Arte Filosófica: O que é a arte pura segundo a concepção moderna? É criar a magia sugestiva que contenha ao mesmo tempo o objeto e o sujeito, o mundo exterior ao artista e o próprio artista. (a citação é de Charles Baudelaire – Poesia e Prosa, organizado por Ivo Barroso, Editora Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1996). É possível não apenas identificar uma expressão gnóstica na escrita de Hilda Hilst, mas também uma atitude gnóstica, evidente em sua vida: notoriamente agitada antes de recolher-se à Casa do Sol nas imediações de Campinas, em 1963, manifesta a vontade de conhecer e experimentar; de conhecer pela experiência. Assim também seu interesse não apenas por filosofia, por religiões (em Estar sendo, ter sido, relata como adquirira o Baghavad Ghita ainda adolescente de um livreiro perplexo), mas pela ciência. Daí sua amizade e diálogo com físicos como ninguém menos que Mário Schemberg e César Lattes, comentada no já citado Cadernos do IMS, por Carlos Vogt. E suas próprias experiências no campo de uma parafísica (a parafísica está para a física assim como a parapsicologia está para a psicologia), com as gravações de “vozes dos mortos”, que tiveram tanta repercussão (também comentadas no Cadernos do IMS). E a amplidão de sua criação, abrangendo poesia, prosa, teatro e artes visuais, pois criar é conhecer, através da exploração do novo. Retornemos ao escondido nas gentes, e revelado pelo poeta, conforme o poema transcrito acima. Em passagens de Hilda, especialmente em Amavisse, há uma luz interior, que corresponde a uma dimensão oculta da pessoa: o poeta preexiste, entre a luz e o sem-nome. Algo foi esquecido, desaprendido: Ai, Luz que permanece no meu corpo e cara:/ Como foi que desaprendi de ser humana?. Há um avesso, um oco fulgente num todo escancarado, que é da altura de dentro. Só pode ser descrito Na minha língua esquecida, e captado através da iluminação e arrebatamento que equivalem à loucura: E do ouro que sai/ Da garganta dos loucos, o que há de ser? O encontro com a luz é o resultado de uma viagem, em um luminoso barco subterrâneo: As barcas afundadas. Cintilantes/ sob o rio. E é assim o poema. Cintilante/ e obscura barca ardendo sob as águas. Esses dois temas em Hilda Hilst, da luz interior revelada e da viagem rumo à luz, são topoi do gnosticismo. Nas escrituras gnósticas, há duas modalidades de relatos. Um deles, o da Queda, acidente cósmico e teológico que se confunde com a criação e com a absorção da luz pelas trevas. Outro, de uma ascensão, da salvação ou reintegração, sempre individual. Ambas, alegoricamente, são viagens. Em alguns textos, como no Hino da Pérola, a viagem é de ida e volta, representando a queda no mundo e a ascensão ao Pleroma. Em outros, como no Poimandres do Corpus Hermético, é apenas ascendente. É a tópica gnóstica das viagens: o batismo, a julgar pela leitura do Zôstrianos, é uma viagem através de águas celestiais ou cósmicas, a bordo de uma grande nuvem luminosa, rumo à gnose. (as escrituras gnósticas aqui mencionadas estão na compilação de Layton, já citada) Mas essa tópica reproduz algo muito arcaico. Os xamãs, conforme examinado por Eliade e tantos outros, também viajavam: a aquisição de seus poderes era precedida pela ida e volta ao reino subterrâneo, ultrapassando a barreira da morte – o mesmo tipo de viagem relatada no mito de Orfeu, patrono dos poetas e dos mistérios iniciáticos gregos, embora em outro contexto, aquele do resgate da mulher amada. Ou não? Ou, alegoricamente, reencontrar Eurídice não equivale a um encontro de almas, a um reencontro com a luz? Assim, vê-se que viagens iniciáticas e salvadoras estão ligadas a um mito, não apenas gnóstico, porém arcaico: o das duas almas, ou da centelha de luz. Nele, um grão da luz, simbolizando o princípio criador e o conhecimento, permaneceria no ser humano. Coexistiria com uma alma adventícia, falsa, introduzida pelo Demiurgo. O encontro de luzes, da nossa alma verdadeira com a instância primeira, equivale à gnose. E o resultado da aquisição ou conquista da gnose é a libertação da fatalidade astral, da regência do destino e das características humanas pela abóbada celestial, possibilitando o contato com o Espírito, a centelha divina, distinta da alma adventícia. O mito das duas almas viria a produzir frutos literários. É o tema das duplas identidades e divisões do Eu: o duplo romântico, o Doppelgänger, e seus derivados, como o William Wilson de Poe; e, com mais propriedade, as proclamações do Eu sou um outro, de Gérard de Nerval e do Eu é um outro da Carta do Vidente de Rimbaud. Há, em Lautréamont, uma negação dessa segunda identidade, ou recusa a admitir um “eu” imposto por Deus, aparentando contradizer ou negar a proclamação de Rimbaud, porém mais coerente ainda com o pensamento gnóstico. Esse mito parece, se não universal, pelo menos ser amplamente difundido. Está em outros relatos sobre a origem da humanidade, como aquele do confronto dos titãs com Dionísio. Abel Jeannière (em Lire Platon, Aubier, Paris, 1990) ao tratar dos mistérios órficos e dionisíacos na origem do pitagorismo, precedendo a filosofia platônica, comenta a destruição de Dionísio – equivalente a Zagreus, sua versão iraniana, ou Hades, deus dos mortos –, devorado pelos Titãs, os primeiros habitantes da Terra: Zagreus-Dionísio imolado ressuscita enquanto Dionísio vivo, esse “estranho estrangeiro” à vontade em todo lugar sobre a terra. Quanto aos homens, eles nascem das cinzas dos Titãs fulminados. […] Misturadas à terra, as cinzas dos Titãs dão nascimento aos homens. Ora, os Titãs acabavam de devorar a carne de Zagreus-Dionísio; uma parcela do divino está, portanto, presente em cada homem. Nenhum homem nasce sobre a terra sem que, nele, uma faísca divina não aspire a juntar-se à divindade, e essa faísca divina que nos constitui no mais profundo de nós, devemo-la ao martírio de Zagreus. Em Presságios do Milênio: Anjos, Sonhos, Imortalidade (Objetiva, 1996), Harold Bloom faz a mesma prospecção do mito gnóstico da centelha de luz ou alma verdadeira. Citando E. R. Dodds em The Greeks and the Irrational, trata da profecia extática na religião de Apolo (anterior na Grécia ao culto a Dionísio e ao orfismo), associando-a a um xamanismo grego, …cuja influência Dodds centra na distinção entre a psique ou alma e um “eu” oculto, a princípio também chamado de psique, mas que foi aos poucos sendo chamado de pneuma (“alento”), ou daimon. […] O eu oculto era de origem divina, ao contrário da alma, que para os gregos se achava muito à vontade no corpo; o mesmo não se dava com o novo eu dos xamãs, importado para a Grécia da Trácia, ao norte, e, portanto, em última análise, da bárbara Sicília, para onde asiáticos centrais haviam descido. Daí, conforme Bloom, o antigo surgimento do gnosticismo a partir do xamanismo, sobretudo do eu oculto ou mágico xamanista. Em matéria de dualismo gnóstico, haveria mais a ser observado em Hilda Hilst. Por exemplo, sua persona, protagonista de Estar sendo, ter sido, de A obscena Senha D, de Amavisse, ora ser Hilé, ora Samsara. As duas expressões se equivalem: em grego ou em sânscrito, designam o mundo degradado, este mundo, o kenoma, antagônico com relação ao Pleroma, a perfeição. Isso não significa que ela fosse adepta, seguidora de alguma doutrina, gnóstica ou outra das muitas a que pode ser associada, especialmente hinduísmo e budismo. Poetas redescobrem ou reinventam doutrinas e interpretações do cosmo, conforme constatou Mallarmé, ao dizer, a propósito de suas visões do Nada e do Absoluto, que, sem estudá-lo, havia recriado o budismo. Também Breton, em seu comentário sobre gnosticismo na poesia romântica e moderna (no já citado Flagrant délit), supôs que houvesse sincronia entre os antigos gnósticos e os poetas modernos: Será preciso admitir que os poetas sorvem, sem o saber, em um fundo comum a todos os homens, singular pântano cheio de vida onde fermentam e se recompõem sem parar os destroços e os restos das cosmogonias antigas, sem que os progressos da ciência lhes provoquem uma mudança apreciável? Diante da reaparição de traços de uma doutrina arcaica, Breton sugeriu, com belas metáforas, … um poder de absorção de ordem osmótica e para-sonambúlica dessas concepções tidas, ao olhar racional, por aberrantes. […] Nessa floresta virgem do espírito, que margeia por todos os lados a região onde o homem conseguiu erguer seus marcos indicadores, continuam a rondar os animais e os monstros, apenas menos inquietantes do que em seu papel apocalíptico. São os mesmos animais e monstros que circulam pelas páginas de Hilda Hilst, que criou um bestiário pessoal e inconfundível (e o realizou, com sua matilha de cães na Casa do Sol). Também Jorge Luis Borges observou essa sincronia, em Novas Inquirições: Há, na história da filosofia, doutrinas, provavelmente falsas, que exerceram um obscuro encanto sobre a imaginação dos homens. A doutrina platônica e pitagórica do trânsito da alma por vários corpos, a doutrina gnóstica segundo a qual o mundo é obra de um deus hostil e rudimentar. Repare-se na finura de estilo de Borges, ao falar em doutrinas provavelmente falsas – ou seja, que poderiam ser verdadeiras. Poetas não são ideólogos e doutrinadores, repito. Assim como é possível mostrar na poesia de Hilda Hilst as referências ao Demiurgo e o dualismo gnóstico, também se pode recortar trechos que demonstrariam o contrário: um monismo, a síntese, não pela anulação do mundo e transcendência através do conhecimento, como quer o gnosticismo, porém pela via da realização amorosa. Inúmeros comentaristas (dos mais recentes, José Carlos A. Brito, em Eros e psique no encontro de si mesmo na poesia de Hilda Hilst, em Agulha 45) já se detiveram na Hilda lírica e apaixonada, que, em um misticismo do corpo, vê a união amorosa, e não o ascetismo, como via para a transcendência. Entre inúmeros outros lugares da sua obra, isso transparece nos versos que encerram o aqui já citado Cantares. Poeira, cinzas Ainda assim Amorosa de ti Hei de ser eu inteira […] Amorosa de ti Vida é o meu nome. E poeta Sem morte no sobrenome. O modo como lirismo e obscenidade se alternam na obra de Hilda Hilst – a obscenidade, de modo mais evidente na prosa, inclusive a que ela declarou ser “pornográfica”, e o elevado lirismo em boa parte de sua poesia – corresponde a dois movimentos, não antagônicos, porém complementares, sinérgicos e simultâneos: foi sublime em Cantares, e ao mesmo tempo escatológica em A obscena Senhora D, ambos do início da década de 1980. Pode-se ligá-la a um ramo do gnosticismo, o famoso gnosticismo dissoluto, que tem semelhanças com o tantrismo oriental. É a doutrina segundo a qual, para superar a roda do Carma, a sucessão de reencarnações, é preciso viver plenamente a vida, em todos os seus aspectos e possibilidades. Para esclarecer sobre gnosticismo dissoluto, esta passagem de Jules Monnerot, em La poésie moderne et le sacré (Gallimard, 1945): Essas confrarias [dos antigos gnósticos] levam tão longe quanto possível a transgressão dos mandamentos cristãos prescrevendo castidade e continência. Chegariam com freqüência até a transformar as transgressões em outras tantas obrigações rituais. Que o misticismo não exclui por natureza a sensualidade, os mais antigos mistérios o testemunharam irrecusavelmente, não sendo de espantar que uma época na qual floresceu o materialismo mágico lhes demande ensinamentos, nem que uma especulação filosófica desembaraçada de todo contrapeso celeste se alie de maneira tão humana ao deboche ritualizado. Portanto, o encratismo, ascetismo, abstenção total, e a licenciosidade seriam faces da mesma moeda. Ambos, expressões da vontade de tomar o contrapé da criação, como diz Monnerot, contrariando o Demiurgo e suas leis. Sem dúvida, Hilda Hilst fez isso. Passagens de sua obra – em Amavisse, a declaração de que o poeta habita nas ardências, e mais, o poeta habita/ O campo de estalagens da loucura, e sua crítica à repressão e ao ascetismo, Ó senhora, porque mora na morte/ aquele que procura Deus na austeridade – permitem associá-la, como já o fiz em Amavisse, de Hilda Hilst: pacto com o hermético, à famosa máxima de William Blake, em O Casamento do Céu e do Inferno: O caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria. Ou a uma projeção direta da recomendação do desregramento dos sentidos de Rimbaud. Mas pode-se, também, observar ambivalência nessa dualidade lirismo-obscenidade. Insisto: poetas não precisam ser ideólogos ortodoxos. Sob a regência do pensamento analógico, para eles, em lugar do isto ou aquilo, existe o isto e aquilo. Ambivalência já foi vista como qualidade importante em outros poetas – por exemplo, em Baudelaire (por Auerbach e outros de seus estudiosos). É possível ler Baudelaire de ponta a ponta, desde os primeiros poemas de As Flores do Mal, da década de 1840, passando por A Tampa e outros textos blasfematórios, até seus escritos finais, como a crítica a Os Miseráveis, como poeta e pensador gnóstico. Pode-se interpretar o célebre A Carniça e outros poemas “realistas” como retrato ou metáfora do mundo degradado, sob a tutela dos Arcontes e do Demiurgo. E, também, as passagens em que, desde Ao Leitor, de As Flores do Mal, é dito que inferno e mundo são equivalentes, e o verdadeiro inferno é este mundo em que vivemos, algo reiterado no Crepúsculo Vespertino de O Spleen de Paris – Pequenos poemas em prosa: … eu posso, quando o vento sopra lá de cima, acalentar o meu atônito pensamento com esta imitação das harmonias do Inferno. (do já citado Baudelaire Poesia e Prosa). E, especialmente, em uma passagem como esta, dos Escritos Íntimos: Em que consiste a queda? Se é a unidade feita dualidade, então foi Deus quem caiu. Ou, posto em outros termos, não será a criação a própria queda de Deus? A polaridade aguda, a intensa vivência de antinomias, dotadas de peso ontológico, impulsionaram sua criatividade e estão na base de suas idéias e intuições. Ivan Junqueira, em seu prefácio para As Flores do Mal (na edição citada de Baudelaire – Poesia e Prosa), comenta a religião particular de Baudelaire, estabelecendo um estranho gnosticismo neopagão e maniqueísta em que Lúcifer ocupa todos os altares. No entanto, contrasta com seu maniqueísmo a idéia das correspondências, de fundo místico e de um hermetismo pronunciadamente monista, que inaugurou uma poética. No soneto Correspondências, A natureza é um templo no qual se ouvem ecos de uma harmonia, de uma vertiginosa e lúgubre unidade. São as mesmas correspondências presentes na poesia de Hilda, em trechos como o aqui citado, de Amavisse, em que ela quis ouvir o vermelho do bronze; ou em deitei-me como quem sabe o Tempo e o vermelho:/ Brevidade de um passo no passeio, e no restante de sua riquíssima imagética. Principalmente – e assim como em Hilda Hilst – o gnosticismo de Baudelaire coexiste com o esteticismo, o culto ao belo, e o lirismo da exaltação do corpo feminino e do mundo, como A uma Dama Crioula, Perfume Exótico e A Bela Nau; ou seu correlato entre os poemas em prosa do Spleen de Paris, o Convite à Viagem. O Baudelaire lírico e apaixonado corresponde, portanto, a uma das dimensões de sua obra múltipla e complexa; em outra, se expressa o pessimista, o crítico radical, através de blasfêmias de fundo gnóstico. Até onde poderiam ir esses paralelos, aproximando Hilda Hilst de autores tão distintos entre si sob outros aspectos quanto Blake, Baudelaire, Breton, apresentando o pensamento gnóstico como ponte, elo ou fio condutor? Adverti, ao longo deste ensaio, quanto ao risco do reducionismo. Mas, através de doutrinas herméticas, arcaicas, esotéricas, pode-se enriquecer os estudos comparados e, por extensão, a crítica e interpretação de obras literárias. Esta parece ser a opinião, a meu ver ousada, até revolucionária, de Harold Bloom. Em Presságios do Milênio, não apenas examina gnose de um modo erudito, mas declara-se gnóstico. Independentemente da aceitação de sua teoria da influência, ou do modo como tentou configurar um cânone, ele alça a discussão da gnose e gnosticismo em literatura a um novo patamar. Insiste em seu caráter universal (nisso coincidindo com as idéias de sensibilidade religiosa de Sontag e atitude religiosa de Doresse, já mencionadas), associando-o ao xamanismo arcaico: Um eu mais velho e que é a melhor parte de nós, um eu divino e mágico: essa crença xamanista, que também chamamos de órfica, me parece a origem de todo gnosticismo – judaico, cristão ou islâmico – do gnosticismo secular, alexandrino, chamado Corpus Hermeticus, que se tornou a base de Bruno e outros mistagogos do Renascimento italiano. O xamanismo é universal, e isso talvez explique o curioso universalismo do que os crentes normativos de todas as eras chamam de “heresia gnóstica”. (em Presságios do Milênio: Anjos, Sonhos, Imortalidade) Em Poesia e Repressão, Bloom vai mais longe. Comenta os poetas, muitos dos quais foram implicitamente gnósticos, embora explicitamente mais misteriosos ainda, e afirma que tanto gnosticismo quanto Cabala podem ser instrumentos, mais efetivos que modelos e paradigmas correntes na teoria literária, de interpretação. Referindose a um dos ramos do gnosticismo, a gnose de Valentino, diz que: A doutrina valentiniana da criação presta-se ao meu propósito revisionário, que consiste em adotar um modelo interpretativo mais próximo da postura e da linguagem da poesia “moderna” ou pós-iluminista do que foram os modelos filosoficamente orientados. (em Poesia e Repressão – O Revisionismo de Blake a Stevens, Imago, 1994, assim como a citação a seguir) Ao tratar da Cabala, também desafia paradigmas e teorias literárias: Toda leitura é tradução, e todas as tentativas de comunicar uma leitura parecem provocar uma redução, talvez inevitável. A utilização adequada de qualquer paradigma crítico deveria diminuir os perigos do reducionismo; entretanto, quase todos os paradigmas são, em si mesmos, redutivos. A teologia negativa, mesmo quando beira a teosofia, parece-me a “disciplina” apropriada para as incursões dos críticos literários revisionários na sua incessante busca por outras metáforas para o ato de ler, bem mais do que a lingüística estruturalista ou o raciocínio por negação da filosofia continental. Aceito isso, adotada essa perspectiva, certamente chocante para as mentes mais cientificistas e positivistas, então haverá muito, ainda, a ser examinado na obra de Hilda Hilst, e de tantos outros poetas inquietos, rebeldes, e, acima de tudo, densos e talentosos. Claudio Willer (Brasil, 1940) é um dos editores da Agulha. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Julio Cortázar, altermundista: algunas reflexiones sobre su pensamiento social Carlos Véjar Pérez-Rubio . En un trabajo que tituló “Algunos aspectos del cuento”, publicado primero en el núm. 60 de la revista Casa de las Américas (julio 1970) y posteriormente en el libro Literatura y Arte Nuevo en Cuba, [1] Julio Cortázar expresa algunas ideas centrales del pensamiento social que desarrollará consistentemente a lo largo de su fecunda vida. Hablando de la Cuba revolucionaria, dice por ejemplo: “Es aquí donde me gustaría aplicar concretamente lo que he dicho en un terreno más abstracto. El entusiasmo y la buena voluntad no bastan por sí solos, como tampoco basta el oficio de escritor por sí solo para escribir los cuentos que fijen literariamente (es decir, en la admiración colectiva, en la memoria de un pueblo) la grandeza de esta Revolución en marcha. Aquí, más que en ninguna otra parte, se requiere hoy una fusión total de estas dos fuerzas, la del hombre plenamente comprometido con su realidad nacional y mundial, y la del escritor lúcidamente seguro de su oficio. En ese sentido no hay engaño posible. Por más veterano, por más experto que sea un cuentista, si le falta una motivación entrañable, si sus cuentos no nacen de una profunda vivencia, su obra no irá más allá del mero ejercicio estético. Pero lo contrario será aún peor, porque de nada valen el fervor, la voluntad de comunicar un mensaje, si se carece de los instrumentos expresivos, estilísticos, que hacen posible esta comunicación. En este momento estamos tocando el punto crucial de la cuestión. Yo creo, y lo digo después de haber pesado largamente todos los elementos que entran en juego, que escribir para una revolución, que escribir dentro de una revolución, que escribir revolucionariamente, no significa, como creen muchos, escribir obligadamente acerca de la revolución misma. Por mi parte, creo que el escritor revolucionario es aquel en quien se fusionan indisolublemente la conciencia de su libre compromiso individual y colectivo, con esa otra soberana libertad cultural que confiere el pleno dominio de su oficio. Si ese escritor, responsable y lúcido, decide escribir literatura fantástica, o psicológica, o vuelta hacia el pasado, su acto es un acto de libertad dentro de la revolución, y por eso es también un acto revolucionario aunque sus cuentos no se ocupen de las formas individuales o colectivas que adopta la revolución. Contrariamente al estrecho criterio de muchos que confunden literatura con pedagogía, literatura con enseñanza, literatura con adoctrinamiento ideológico, un escritor revolucionario tiene todo el derecho de dirigirse a un lector mucho más complejo, mucho más exigente en materia espiritual de lo que imaginan los escritores y los críticos improvisados por las circunstancias y convencidos de que su mundo personal es el único mundo existente, de que las preocupaciones del momento son las únicas preocupaciones válidas. […] Y pensemos que a un escritor no se le juzga solamente por el tema de sus cuentos o sus novelas, sino por su presencia viva en el seno de la colectividad, por el hecho de que el compromiso total de su persona es una garantía indesmentible de la verdad y de la necesidad de su obra, por más ajena que ésta pueda aparecer a las circunstancias del momento. Esta obra no es ajena a la revolución porque no sea accesible a todo el mundo. Al contrario, prueba que existe un vasto sector de lectores potenciales que, en un cierto sentido, están mucho más separados que el escritor de las metas finales de la revolución, de esas metas de cultura, de libertad, de pleno goce de la condición humana que los cubanos se han fijado para admiración de todos los que los aman y los comprenden. Cuanto más alto apunten los escritores que han nacido para eso, más altas serán las metas finales del pueblo al que pertenecen.” Julio Cortázar había nacido en Bruselas, de padres argentinos, el 26 de agosto de 1914, justo cuando recién iniciaba la Primera Guerra Mundial. En 1918, al terminar la contienda, regresa con sus padres a la Argentina y se instalan en Banfield (provincia de Buenos Aires), donde transcurre su infancia, animada por lecturas de Julio Verne (en La vuelta al día en ochenta mundos le rendirá un lúdico homenaje) y El tesoro de la juventud, entre tantos otros libros indispensables para los niños de la época. Al término del bachillerato, se decide por la docencia y cursa las carreras del Magisterio y de Letras. Muy joven fue maestro rural en las pequeñas poblaciones de la provincia de Buenos Aires, Bolívar y Chivilcoy, en donde lee ávidamente, escribe en algunas revistas literarias y aprovecha para perfeccionar el conocimiento de los idiomas, que lo llevará a obtener el título de Traductor Público Nacional, oficio que le dará de comer años después en París, como traductor de la UNESCO. Luego de esa estancia en la pampa se instala en Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, en donde puede enseñar al fin lo que le gusta, literatura, y aprovecha para ampliar sus relaciones sociales, cultivar una rica correspondencia y depurar radicalmente su estilo de escribir. Poco tiempo después, en 1945, hay una intervención fascista en la Universidad de Cuyo que lo obliga a renunciar y regresar a Buenos Aires, en donde trabaja como gerente de la Cámara del Libro hasta 1949. De ese periodo de su vida, que duró siete años, dice el mismo Cortázar: “Entre los años del 37 y el 44, viví completamente aislado y solitario. Resolví ese problema, si se puede llamar resolverlo, gracias a una cuestión de temperamento. Siempre fui muy metido para dentro. Vivía en pequeñas ciudades donde había muy poca gente interesante, prácticamente nadie. Me pasaba el día en mi habitación del hotel o en la pensión donde vivía, leyendo y estudiando. Eso me fue útil y al mismo tiempo peligroso. Fue útil en la medida en que devoré millares de libros. Toda la información libresca que puedo tener la fundé en esos años. También escribí bastante, aunque publicaba muy poco. Fue una época peligrosa en el sentido de que me quitó una buena dosis de experiencia de vida y hasta de vitalidad.” [2] Clavada la mirada allende el Atlántico, decidido a ampliar sus horizontes y emprender la gran aventura de su vida, se va a París en 1951 con una beca de corta duración, a cuyo término, y después de intentar algunos oficios pintorescos, consigue trabajo como traductor en la UNESCO. Esto le permite radicarse permanentemente en la capital francesa, de la que sólo hará en adelante visitas esporádicas a la Argentina. Ese mismo año de su partida deja publicado en Buenos Aires su primer libro de relatos, Bestiario, en el que ya se encuentran maduros los atributos de su oficio literario. El París de posguerra con que se encuentra, y en el que se sumergirá hasta lo más profundo, está marcado por la austeridad económica y la tensión política y social propias de un país que había visto destrozadas muchas de sus estructuras morales y productivas por el conflicto bélico. Un país que, no bien terminada la Segunda Guerra Mundial, se veía involucrado en una cruenta lucha por mantener intacto su imperio de ultramar ante las amenazas del proceso de descolonización desatado por los pueblos nativos. La guerra de Indochina está en la boca de todos y hace discutir apasionadamente en los diarios y en los cafés del Barrio Latino y Montparnasse a la intelectualidad de la época, que emerge desconcertada de los años negros sin encontrar todavía el camino de la luz. Es el París cosmopolita de siempre, claro, pero ahora sumido en el debate del existencialismo y los temores de la guerra fría y la amenaza atómica. Y de la debacle: la derrota del colonialismo francés comienza en 1954 en Dien-bien-phu y termina en 1958 en Argel, lo que propiciará el regreso al poder del general Charles de Gaulle. El París del jazz de Charlie Parker y de los cantos melancólicos de Yves Montand y Juliette Greco. Inmerso todo el tiempo que le queda libre de sus responsabilidades con la UNESCO en la creación literaria, y luego de un segundo libro de relatos -Las armas secretas (1959)-, Cortázar publica en 1960 su primera novela, Los premios, una obra maestra que contiene ya las claves originales de su mundo intelectual, fantástico y poético. En ella revela su capacidad de subversión con respecto a la definición de la realidad en la que está inmerso, de la que alguna vez escribe: “La auténtica realidad es mucho más que «el contexto socio-histórico y político», la realidad soy yo y setecientos millones de chinos, un dentista peruano y toda la población latinoamericana, Óscar Collazos y Australia, es decir el hombre y los hombres, cada hombre y todos los hombres, el hombre agonista, el hombre en la espiral histórica, el hombre sapiens y el hombre faber y el hombre ludens, el erotismo y la responsabilidad social, el trabajo fecundo y el ocio fecundo; y por eso una literatura que merezca su nombre es aquella que incide en el hombre desde todos los ángulos (y no por pertenecer al tercer mundo solamente o principalmente en el ángulo sociopolítico), que lo exalta, lo incita, lo cambia, lo justifica, lo saca de sus casillas, lo hace más realidad, más hombre, como Homero hizo más reales, es decir, más hombres, a los griegos, y como Martí y Vallejo y Borges hicieron más reales, es decir más hombres, a los latinoamericanos.” [3] “Toda esta realidad en vísperas de manifestarse -escribe Carlos Fuentes- era la realidad revolucionaria de Cortázar. Sus posturas políticas y su arte poético se configuran en una convicción y ésta es que la imaginación, el arte, la forma estética, son revolucionarias, destruyen las convenciones muertas, nos enseñan a mirar, pensar o sentir de nuevo”. [4] Al momento del triunfo de los revolucionarios cubanos y la caída de Batista, el 1° de enero de 1959, Julio Cortázar es ya un hombre de 45 años, aunque para quienes lo conocieron en esa época aparentaba ser mucho menor, tanto en el aspecto físico como en el carácter y la manera de ser. En 1962 viaja por primera vez a Cuba, como jurado del Premio Casa de las Américas, en donde conocerá de cerca el proceso revolucionario, experiencia que lo marcará profundamente y que lo llevará a escribir años después: “Cuba ha sido un camino de Damasco sin conflicto visible, pues veo ahora que andaba hace tiempo a mi manera por ese camino”. [5] ¿La conversión? En cierto sentido sí, aunque no se partía de cero. La sensibilidad, la capacidad de percepción, la sólida cultura adquirida a pulso, los diferentes escenarios en que se desarrollaba su existencia, le permitían comprender cabalmente la problemática social de su tiempo, aun cuando estuviera inmerso en la literatura (o quizás por ello mismo). Y tomar partido. Ese mismo año de 1962, su pensamiento social queda plasmado juguetonamente en su nuevo libro, Historias de cronopios y de famas, escrito según él “para luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles”. Un manual de ética disfrazada por el humor y la ternura en el que se caracteriza-caricaturiza ingeniosamente a la sociedad contemporánea, que pronto se convertirá en un mito de la literatura latinoamericana. “Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana, y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta de los días… Cuando un cronopio canta, las esperanzas y los famas acuden a escucharlo aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados” [6] Y es que en el mundo de Cortázar, el juego tiene un papel fundamental. Un juego de paradojas y de ironías. La actividad lúdica le sirve a los personajes de sus obras para escapar a la inseguridad, al temor ante un mundo absurdo e incomprensible en el que los peligros acechan a la vuelta de la esquina, y para burlarse de ellos y de la solemnidad con que suelen ser tratados. Y junto a la noción del juego, está presente también en sus creaciones la de la libertad, como en Rayuela -un juego de niños, por cierto-, la más ambiciosa de sus obras, contranovela de lectura variable y de indudable carácter autobiográfico que se publicará un año después, en 1963, y que representa para la prosa española lo que el Ulises de Joyce para la inglesa. En ella Cortázar identifica su sentido de la condición del hombre con su sentido de la condición del artista y denuncia exasperadamente la inautenticidad de la vida humana en ese mundo que le ha tocado vivir. Dice Oliveira, el personaje central y alterego del autor: “El problema está en aprender su unidad (la de la vida) sin ser un héroe, sin ser un santo, sin ser un criminal, sin ser un campeón de box, sin ser un prohombre, sin ser un pastor. Aprehender la unidad en plena pluralidad, que la unidad fuera como el vértice de un torbellino y no la sedimentación de matecito lavado y frío.” Hasta finales de los años sesenta, Cortázar escribirá cinco libros más, entre los que destaca 62 Modelo para armar -surgido de la interminable propuesta de Rayuela-, en el que toca los límites de lo narrativo y advierte de inicio que “no serán pocos los lectores que advertirán aquí diversas transgresiones a la convención literaria”. Libro que la crítica recibe desconcertada, sin saber por donde agarrar ese clavo ardiente que el autor argentino pone en sus manos. La pobreza y la desigualdad social, los contrastes tercermundistas, las miserias morales y materiales del subdesarrollo, le horrorizan para entonces cada vez más. De ello habla en una carta que le escribe a su amigo Julio Silva desde Nueva Delhi, fechada el 20 de febrero de 1968: “Sí señor; por mi boca habla la India (…) Hay momentos en que se tiene la impresión de que no queda ninguna esperanza. Basta caminar una hora por la vieja Delhi, mezclado con una muchedumbre miserable y maravillosamente bella al mismo tiempo, y sentirte asediado por nubes de niños tan parecidos a los tuyos, a todos los niños del mundo, sólo que enfermos y flacos y golpeándose el estómago con una mano mientras te tienden la otra con la frase que es como el leit motiv de todo el oriente: limosna, señor, limosna. Por ejemplo, un artículo que acabo de leer prueba que el precio de un hotel de primera clase por una habitación, equivale, diariamente, a la suma con la que seiscientas familias indias podrían alimentarse también diariamente. A nosotros nos dan noventa rupias de per diem, es decir, que recibimos diariamente para vivir una suma mayor de lo que gana un barrendero por mes, y así sucesivamente. Te señalo de paso que la mayoría de los traductores encuentran que noventa rupias diarias no alcanzan para nada. Y han protestado ya varias veces. En casa de Octavio Paz hay cinco criados: desde el vallet hasta el barrendero, y es una de las casas de residentes extranjeros donde hay menos criados, pues se habla de otras donde hay veinte […] Todo eso es parte del horror, y me mancha el viaje, la vida y el aire.” [7] Podemos advertir en las líneas anteriores de qué manera impacta la realidad social de ese tercer mundo hambriento, degradado y miserable, a sus sentimientos y a sus pensamientos, haciéndolo asumir posiciones políticas cada vez más comprometidas. Un tercer mundo que se agita y organiza, encontrando respuestas solidarias y contestatarias en el corazón de los mismos centros de poder. Son los tiempos de la descolonización en África, en Asia y en América, de las cruentas luchas de liberación en Argel y en Vietnam, en Angola, en Kenya, en el Congo y Mozambique, por citar sólo unos cuantos países. Y de la búsqueda desesperada de alternativas para construir un mundo mejor. El año de 1968 tendrá un hondo significado en la vida de Cortázar. Es el año del incidente prefabricado del golfo de Tonkin y la escalada brutal de la guerra de Vietnam por las fuerzas estadounidenses, que lo llevará a integrar el Tribunal Russell junto a Jean Paul Sartre y otros intelectuales comprometidos, para juzgar los crímenes de guerra del imperio. El año de los movimientos estudiantiles en el mundo, detonados por la Revolución de Mayo en París, con la que Julio se solidarizará repartiendo panfletos y discutiendo ideas como un estudiante libertario más. El año del poder negro, Stokely Carmichael, Ángela Davies, Martin Luther King, los cantos de Joan Baez en la Universidad de Berkeley, en donde enseña Marcuse, y la matanza de estudiantes mexicanos el 2 de octubre en Tlatelolco. El año de la invasión de Checoslovaquia por las tropas soviéticas y sus aliados del Pacto de Varsovia. “Teníamos todas las respuestas, pero nos cambiaron las preguntas”, decía el graffiti en un muro del Barrio Latino. Mario Vargas Llosa, su compañero de trabajo y aventuras en el París de aquel entonces, atribuye un cambio extraordinario en Cortázar debido al Mayo francés del 68, un cambio debido más a la ética que a la ideología, a la que siempre fue un tanto alérgico. “Se le vio entonces, en esos días tumultuosos, en las barricadas de París, repartiendo hojas volanderas de su invención, y confundido con los estudiantes que querían llevar «la imaginación al poder». Tenía cincuenta y cuatro años. Los dieciséis que le faltaba vivir sería el escritor comprometido con el socialismo, el defensor de Cuba y Nicaragua, el firmante de manifiestos y el habitué de congresos revolucionarios que fue hasta su muerte”. [8] En 1970, Julio Cortázar viaja a Chile para asistir a la toma de posesión de Salvador Allende, que inaugura la vía democrática hacia el socialismo. Todo es esperanza en aquel momento histórico para América Latina. El canto de Violeta Parra y Víctor Jara resuena jubiloso en las alamedas de Santiago. Tres años después, el derrumbe, la debacle, el retroceso de la rueda de la historia. Cuando el golpe de estado del general Augusto Pinochet acaba con el gobierno de la Unidad Popular y con la vida del Presidente, el 11 de septiembre de 1973, Cortázar pasa a ser uno de los más activos denunciantes de la trágica situación chilena. Son los tiempos de la represión, el miedo y las oleadas de exiliados. Poco después, al instaurarse la dictadura militar en su propia patria, a mediados de los años setenta, escribe desolado desde París las siguientes palabras: “La Argentina está cerrada para mí, sine die, y por primera vez en mi vida me siento exiliado y me duele. Antes vivía aquí porque me daba la gana, pero ahora, si los franceses se obstinan en negarme la doble nacionalidad y los gorilas de allá no me renuevan el pasaporte, andá a saber en qué circuito me tocará ingresar. No tiene otra importancia que la personal, claro, pero hace diez años hubiera sido totalmente impensable.” [9] Aunque no era estrictamente la primera vez que se sentía así. En una carta que le había enviado en 1967 a Roberto Fernández Retamar, en respuesta a una encuesta sobre la “Situación del intelectual latinoamericano”, Cortázar se revelaba como un escritor en “auto-exilio”, que tiene que defender su compromiso con las luchas políticas latinoamericanas frente a la propia ausencia de su país. En esa misma carta, que reprodujo posteriormente en Último round, muestra la comprensión que tenía ya de la complejidad de su tarea como escritor y la responsabilidad social que ella demandaba: “No creo como pude creerlo en otro tiempo que la literatura de mera creación imaginativa baste para sentir que me he cumplido como escritor, puesto que mi noción de esa literatura ha cambiado y contiene en sí el conflicto entre la realización individual como la entendía el humanismo y la realización colectiva como la entiende el socialismo, conflicto que alcanza su expresión más desgarradora en el Marat Sade de Peter Weiss. Jamás escribiré expresamente para nadie, minorías o mayorías, y la repercusión que tengan mis libros será siempre un fenómeno accesorio y ajeno a mi tarea; y sin embargo hoy sé que escribo para, que hay intencionalidad que apunta a esa esperanza de un lector en el que reside ya la semilla del hombre futuro”. Es indudable la deuda que Cortázar tiene con el surrealismo, que él mismo proclama en diversas ocasiones. En 1949, por ejemplo, escribe en la revista Realidad: “El vasto experimento surrealista me parece la más alta empresa del hombre contemporáneo como previsión y tentativa de un humanismo integrado. A su vez, la actitud surrealista (que tiende a la liquidación de géneros y especies) tiñe toda creación de carácter verbal y plástico, incorporándola a su movimiento de afirmación irracional.” [10] Habrá que recordar además que el epígrafe de Rayuela es el fragmento de una carta a André Breton, aquel que dijo que “para los surrealistas el hombre es un soñador definitivo”. Y no cabe duda que también exploró en los vericuetos del existencialismo Kierkegaard, Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus…, cuyas tesis hacían furor en los cafés del Boulevard de Saint Germain en los años cincuenta, para encontrar su camino. Son los temas de la angustia y la desolación tan vigentes en la Europa de posguerra, que él abordará con su visión de hombre del Cono Sur. Los últimos versos de su poema Negro el 10, dicen: “Empieza por no ser. Por ser no. El Caos es negro./ Como es negra la nada.” Según el escritor y crítico literario argentino Saúl Yurkievich, uno de sus amigos más cercanos, con quien compartiera en París tiempos buenos y malos, es en su última novela, Libro de Manuel, publicada en Buenos Aires en 1973 y con la que obtuvo en Francia el Premio Medicis en 1974, en donde el pensamiento social de Cortázar se plasma sin embargo de manera más clara y convincente. Dice Yurkievich: “Por primera vez, en Libro de Manuel, Cortázar busca la convergencia del compromiso político y la escritura libérrima. Mediante una textura multiforme, hiperactiva, intenta mancomunar la chispa, lo ocurrente y lo erótico con lo histórico, lo ético y lo ideológico directamente explicitados. El divertimento alterna con la documentación, la fantasía con el alegato, la quimera con el aleccionamiento. El Libro de Manuel consigna una realidad latinoamericana pesada, oprimente, represiva, imperiosa: subdesarrollo, colonialismo, gorilato, movimientos de liberación, rebelión juvenil, guerrilla, todo transcripto y testimoniado literalmente. La macrorrealidad colectiva, la grávida (como la represión militar con tortura sistemática de alta tecnología) se entrama inextricablemente con la intrarrealidad subjetiva (vicisitudes íntimas, ilusiones, alienación, nudos, fantasmas, sombras, locuras, desmesuras). La escritura suele ser rapsódica y el arranque es un sueño […] Cortázar marca con este libro la peculiar, la poco ortodoxa tesitura de su compromiso político. A la vez, la gravitación de nuestra injusta y apremiante historia colectiva lo obligará a reconsiderar los socialismos reales. Y tratará de aceptar las coacciones de la realpolitik, el constreñimiento del mundo pragmático. Adecuará su inveterado inconformismo al cerco de las condiciones empobrecedoras, al sojuzgamiento y la expoliación de nuestras sociedades. Y militará a favor de las tentativas de cambio, pero tratando de desprejuiciarlas, de desentumecerlas, de infundirles amplitud imaginativa e inspiración utópica.” [11] Julio Cortázar. El gran cronopio. Intelectual militante de la modernidad latinoamericana y universal desde las trincheras de la literatura. Escritor lúdico comprometido con la realidad social y sus agudas contradicciones y sus vertiginosas transformaciones. Creador situado ética, estética y políticamente en posiciones de vanguardia. Hombre que buscó siempre la verdad. Julio Cortázar, altermundista. NOTAS 1. Barnet, Benedetti, Carpentier, Cortázar y otros, Literatura y Arte Nuevo en Cuba, Editorial Estela, Barcelona, 1971. 2. Harss, Luis, “Julio Cortázar o la cachetada metafísica”, en Los nuestros, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1966, pp. 262-262. 3. Ver Alain Sicard, “Julio Cortázar, entre lo fantástico y humano”, en Luisa Valenzuela, Bella Jozef, Alain Sicard, Julio Cortázar desde tres perspectivas, UNAM, UdeG, FCE, México, 2002, pp. 79-80. 4. Carlos Fuentes, “Veinte años sin Julio”, en Revista de la Universidad de México, Nueva Época, Núm. 1, Marzo 2004, p. 11. 5. Carta a Jean Thiercelin, 2 de febrero de 1968, en Julio Cortázar, Cartas, Alfaguara, Biblioteca Cortázar, Argentina, 2000, p. 1225. 6. Julio Cortázar, Historias de cronopios y de famas, Alfaguara, México, 1990, p. 122. 7. En Otra flor amarilla. Homenaje a Julio Cortázar, UNAM - UdeG FCE, México, 2002, pp. 17-18. 8. Mario Vargas Llosa, “La trompeta de Deyá”, Prólogo al libro Cortázar, Cuentos completos / 1, Alfaguara, Madrid, 1994, p. 21. 9. Carta a Ortega, Saignon, 1976, en “Julio Cortázar entre todos los juegos”, Revista de la Universidad de México, Nueva Época, Núm. 1, Marzo 2004. 10. Ver Bella Jozef, “Julio Cortázar. La metafísica del tango o más allá de la realidad”, en Luisa Valenzuela, Bella Jozef, Alain Sicard, Julio Cortázar desde tres perspectivas, UNAM, UdeG, FCE, México, 2002, p. 42. 11. Saúl Yurkievich, “Introducción general”, Julio Cortázar, Obras Completas I, Cuentos, Círculo de Lectores - Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2003. Carlos Véjar Pérez-Rubio (México, 1943). Escritor, director general de Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América. Ha publicado los siguientes libros: Y el perro ladra y la luna enfría. Fernando Salinas: diseño, ambiente y esperanza (1994), Plaza Cuicuilco y otros cuentos de variada intención (2001), y Utopía de cristal (2003). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 La función o transformación de los poetas Salomón Valderrama Cruz . La flor amarga que es figura esbelta Está pariendo a su hijo el esperpento Aquel que erigirá en el propio llanto La flor que será la materia muerta de las flores negras ¿Existe algún papel para los poetas en la actualidad? Me refiero, no a la acción de escribir y exponer un mundo íntimo en la hoja en blanco o en el ordenador vacío, sino al papel de cambiar y ordenar la realidad, la nueva realidad, la posible realidad. La que indefectiblemente nos sumerge o conduce a la reducción de recursos necesarios para sostener la vida (todas las variantes posibles de las plantas) como la conocemos y concebimos: nuestra vida. O, en paralelo, para sostener el equilibrio vital (el ciclo de interrelaciones), se encarga, la naturaleza sabia tiene que extinguir alguna forma viva (especie cuyos recursos carecen de espacio, de espaciotiempo) para que radicalmente no se extingan cuatro o dos o tres. La misma realidad (realidad = naturaleza) que asume el rol de transformar los organismos (evolución = adaptación = mutación) para los nuevos ambientes (biotopos) más hostiles, más inhóspitos para las otras especies no partícipes de la transformación; a veces radical (una gran explosión) o a mejor cuantía y adaptabilidad, proceso paulatino y lacerado (deseo o función eutanasia). Pero, claro, es algo que no es nuevo sino que viene copulado a nosotros desde la primera vez que un hombre definió o remarcó el espacio o territorio que podía habitar, tal o, esa especie. El principio de los, aparentemente, inofensivos corrales. Corral para las vacas, las ovejas, corral para los cerdos... corral, reserva natural o parques ecológicos, corral o prisión para los criminales, corral u hoguera para los herejes; corral, bloqueo económico o exilio para los opositores; corral, medios de comunicación (paneles, revistas, periódicos, radio, televisión, teléfono, internet...) o bombardeo constante de estupidez mecanicoreflejo o reflejomecánico (condicionamiento = necesidad repetida y asumida verdadera). Entonces, ¿cuál es la función de los poetas? ¿Asumir lo inevitable y proseguir la senda de los microprocesadores, de las ingentes metrópolis automatizadas, del futuro y ya deducido mundo que prosigue: biotopos = biorobots (ínfimos, pequeños, grandes, ingentes naves estelares donde se vivirá y vivirán las futuras sociedades), humanoides (entes, cosas que asumirán funciones de preparación y reparación de los contextos o mundos donde está o irá el nuevo hombre...) Es que está todo evidente: la manera como en estado y estatus desesperado se consumen y crean los nuevos medios y formas de alimentación. Sólo haciendo una analogía de primaria se puede comprender qué va a suceder cuando el planeta azul esté como China o India; pienso que así como ellos, desesperados, por que lo están, sino porqué tan barato la mano de obra, y su producción en sí (a pesar de la calidad). La deducción de esto es que el hombre, por algo, está realizando investigaciones en otros planetas. Claro, no es secreto que en un futuro, no tan lejano, únicamente podrán gobernar aquellos que controlen los medios vitales (agua, vegetales, animales, energía solar o semejante en celdas de retroalimentación...), los agentes naturales que permiten la vida y a su vez son los que más peligro corren de contaminarse, de volverse simple y ordinaria tierra (estéril = muerta). Esta es la razón por la cual empresas del mundo entero están en la pugna por lo último en tecnología genética (sincrónica y diacrónica). Acelerar el proceso de producción (un crecimiento óptimo en el menor tiempo posible) y mejorar la calidad del producto (hacerlo inmune a los agentes patológicos y abarcar lo más posible en volumen y beneficio). Es que las poblaciones así lo exigen; parece ser que, a pesar de todo (guerras, epidemias y catástrofes naturales), más son los que nacen que los que mueren. Sino cómo nos explicamos el, monstruo, total de la población mundial (en algunos lugares más densa que en otros). Así tenemos cebollas y papas que superan el kilogramo, manzanas y plátanos que ya no se malogran, lana y algodón de color rojo o verde (naturales o, mejor dicho, modificados)... Aves que crecen en 45, 30, veinte días solamente (dos kilogramos y a la mesa y al estómago y a la sangre y al ciclo alterado); y se está investigando para que este espaciotiempo, todavía extenso, se reduzca a su mínima expresión. No me extrañaría que en un tiempo, no previsto, se conciban aves en un instante (como si atravesaran puertas, en el tiempo, de su normal desarrollo y estabilidad). Todo por propulsión genética (los motores del presentefuturo). Pero no es todo y solamente la necesidad de alimentar más rápido sino que está la, un poco olvidada y vital, necesidad (implícita) de poder morir más rápido. Por supuesto, es lo más lógico; un ente viviente al que se le altera su ciclo vital (natural) de desarrollo óptimo, también se le modifica su ciclo de muerte óptima. ¿Qué arrastrará esto? ya lo sabremos, o ya lo sabrán los especialistas en alteración y aliteración genética (si es que no lo saben ya, los filosofobiólogos o biofilósofos). Yo, puede proponer, que en un ciclo de óptimo desarrollo, implica, un consumo de una cadena de desarrollos, también, óptimos (aclarando que, en realidad, con el matematismo de la genética nunca se sabe). Pero, qué pasa con un consumo de una cadena alterada (crecimiento forzado y raudo), acaso, no será posible, también, asumir en la cadena más grande (el que aproveche ese alimento) una alteración irreversible en su óptimo desarrollo; algo así como que, paulatinamente, su aprovechamiento y crecimiento, también, sean más rápidos y así una vida más corta. Lo que estaría, directamente, afectándonos a nivel genético y masivamente, desapercibido, hasta que será tarde. Es, singularmente, una hipótesis que puedo elaborar de tan gigantesco y muy complejo mundo. Al mismo nivel y con igual particularidad, me pregunto y cavilo sobre este mundo enigmático de las computadotas y el internet (universointernet); siempre me sorprende la posibilidad de almacenar y trasladar tanta información junta de un lugar a otro (a veces me parece infinita). Pero pienso y veo que no es cierto, sino que todo radica en la contrariedad, paradoja, de que (un posible), en un instante la capacidad binaria del símbolo se pierda o simplemente cambie por sí misma (en el lenguaje de las computadoras) a otro código; a una especie de lenguaje, todavía, no viable de interpretar. Para ser directos, la posibilidad de esta red cerrada o cíclica de conjugar un virus de tal manera que ningún programa de traducción funcionara. ¿Qué sería del hombre moderno? Sólo de pensar me causa pánico, ya que, si bien, yo no soy o no sería el afectado directamente, sí lo sería en vía indirecta; ya que estoy tan acostumbrado como cualquier hombre moderno. Aunque hay algo que me salva o nos salva; ese callado, fiel y verdadera puerta de lo infinito que es el libro. Sí, el libro que se vuelve joya cuando las explosiones llegan y expanden su poder electromagnético. El libro en todas sus posibilidades y formas: el libro conjugado en un papiro o pared egipcia, el libro depositado en tocapus o quipus incas, el libro o semiótica de los tatuajes o simple y hermoso libro de la Biblioteca del Congreso de Washington. Aunque en la realidad, o modo de vida diaria, en el año 2005 todos, o casi todos, consumimos alimentos modificados genéticamente en vías directas (por los genes) o indirectas (por los agentes que se usan para cultivarlos). Además, todo esto surgió de una de tantas charlas con mi hermano, quien propone: El asunto de las guerras, no obstante parezca descabellado, es algo que tiene que ver con la naturaleza. Sí, me refiero a que la sabia, madre, naturaleza crea estas guerras para controlar la población mundial; y no como dicen por ahí, para vender armas y aniquilar al enemigo. Bueno, cierro así por que éste es un artículo poético, aunque desborden los límites absurdos o no tanto; esto, creo, más discutible que todo lo anterior, ya que se opondría a pensadores tan geniales como Schopenhauer o Nietzsche, a ya saber, esto es para otro artículo. Salomón Valderrama Cruz (Perú, 1979). Poeta. Autor de Encrucijada (2002), y Anemómetro (2003). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 La posibilidad de representación plástica en la obra de Federico García Lorca Susana Giraudo . Parece una incongruencia detenerse el tema de la presencia de la pintura y el dibujo en la obra de Federico García Lorca, pero es insoslayable hacerlo, teniendo en cuenta que el propio Federico apelaba a ella en afán por alcanzar el clímax de su fuerza expresiva. Así como en muchas oportunidades hemos podido comprobar que existieron pintores dedicados a escribir (Leonardo con sus Máximas Filosóficas y Morales y Van Gogh con sus bellísimas Cartas a Theo), hay también, pero tal vez en mayor cantidad de casos, escritores puestos a pintar. Podemos descifrar los hombrecillos patéticos de Kafka, explorar los tenebrosos castillos de Victor Hugo y completar de este modo una variada secuencia de logros y fracasos de escritores que pintan. Una mención aparte merecen William Blake o Rossetti, que han sido talentosisimos poetas y magníficos pintores. Es posible, de la misma manera, rescatar los nombres de Hardy, Carlota Brönte, Carroll, Rimbaud (garabateando feroces criaturas en los espacios en blanco de sus libros) y porqué no, atisbar a un sorprendente Baudelaire, pergeñando retratos de sus contemporáneos y también en su famoso y logradísimo autorretrato, admirado por su enorme de dramatismo. Ya en nuestro siglo, Hesse fue autor de exquisitas acuarelas, Jean Cocteau inventaba su poesía plástica y Alberti sus liricografias. También en nuestro país, tenemos ejemplos innumerables de pintores que escriben y escritores que pintan. El más sorprendente y cercano en el tiempo es Ernesto Sábato, del que podríamos decir que en sus espectros sombríos, presencias veladas y espíritus sin paz, muestra su toda memoria encendida en denuncia. Sábato, abandona la exactitud, obscena prisión de portaobjetos y de formulas, para enfrascarse en los verdes y oscuros fantasmas de su propia vida y de su propia muerte. Todo este, para algunos, tal vez innecesario introito, puede conducirnos o mejor dicho centrarnos en Federico Garcia Lorca. Recordemos que no pocas fueron las veces en que acompañó sus poesías, cartas y piezas teatrales con dibujos al parecer infantiles, pero que en realidad, a los ojos de un entendido, son gráciles y nítidos, con la solidez que solo otorga una personalidad madura y genial. Casi tendríamos que decir que es imposible imaginar o considerar la obra pictórica de Lorca, sin su obra escrita. Al igual que Alberti y nuestro Mujica Lainez, la suya es una creación visual consustanciada con sus escritos, casi como aquellos orientales- japoneses y chinos- que hacen de texto y trazo un solo hecho estético. Alguna vez, Garcia Lorca lo confiesa abiertamente : "Cuando un asunto es demasiado largo o tiene poéticamente una emoción manida, lo resuelvo con los lápices. Esto me alegra y divierte de manera extraordinaria". En su momento, llega a exponer en una famosa galería de Barcelona. En aquel momento, algunos críticos fueron con el poeta tiernamente feroces : "Ha obtenido un éxito de simpatía" decían. Y Sebastián Gasch, su amigo, reaccionó defendiéndolo a gritos : " ¡Dibujos de Garcia Lorca en las Galerías Dalmau! ¡Que los burócratas del arte, que los miedosos, que los sedentarios pasen de largo!" Hoy, setenta años después de aquella exposición, los dibujos de Lorca relucen con sus colores pastel, su ingenuidad casi perversa y su doméstica e intima temática. Poesía y teatro lorqueanos están colmados de imágenes sugerentes de las que el mismo no pudo sustraerse. ¿Quien no ve con nitidez los colores y las imágenes oníricas en el Romance sonámbulo, La casada infiel, Preciosa y el aire? Son tan explícitas sus figuras y sus metáforas que parecieran que el poeta tiene un pincel en una mano y en la otra una paleta de colores dramáticos y únicos. Trescientas rosas morenas lleva su pechera blanca Recrear esta imagen seria casi una profanación. Lorca siempre se presenta ante nuestros ojos como un poeta lírico, pero ya en los años iniciales de su carrera, nos encontramos con tentativas dramáticas tales como “El maleficio de la mariposa". Paralelo al desarrollo de su lírica, su potente y rica personalidad lleva adelante una obra de autor dramático que es la mas importante y auténticamente poética del nuevo teatro español. No puede hablarse de un Federico Garcia Lorca poeta dramático o lírico como de entidades distintas, ya que, a través de toda su obra, se impone la impresión de una unidad absoluta en cuanto a concepción de la vida y el modo de trasmitirla artísticamente. Garcia Lorca es un caso único de desbordante vitalidad poética y dramática , plásticamente multiforme, pero rectilínea. Este andaluz ejemplar circula por sus canciones, por sus cándidos dibujos y por sus obras de teatro, con intensidades y plenitudes distintas en cuanto a la realización, pero con el mismo empuje de entera unidad humana. Es por eso que, al hablar de lo dramático en él, no habría necesidad de recorrer su teatro, porque antes de ello se puede, desde sus primeros libros de poesía, sentir su violenta palpitación dramática. El mismo Lorca poeta, no deja solo al dramaturgo y es así como lo larga al ruedo munido de un colorido personal y único. Todos sus dramas son explícitamente descriptos y de tal manera representables que de pronto sorprende con una obra descarnada y extraña como lo es El publico. En ella, un Lorca que podriamos llamar nuevo, distinto, decide mostrar en un casi co-relato con Poeta en Nueva York, una crispada y soterrada característica de su personalidad. Y lo hace recurriendo a símbolos y códigos no tan claros, sino dirigidos a ese publico que, como mirándose a un espejo, se verá (en algunos casos) representado en sus mas intimas y reprimidas sensaciones. Lorca no lo dice con palabras, pero el lector de El publico puede ver un rojo de sangre que llevado a la tela debiera ser elaborado minuciosamente, solo pensando en el drama de Federico, en su pasión, su pudor, su complejidad personal que rezuma enjundioso y desafiante dramatismo. Federico dibuja con palabras sus cuadros y ofrece figuras plásticamente representables por una paleta altamente descriptiva: Una, cubierta de pámpanos rojos toca una flauta sentada sobre un capitel. Otra, cubierta de cascabeles dorados, danza en el centro de la escena. El dialogo entre las dos figuras arroja imágenes visuales crudas y coloridas. Cada tramo de la obra va marcando con los matices del lenguaje, un color, una imágen, una intensidad. Es imposible así, ignorar los pasos plásticamente aprovechables del transcurrir de la obra. Tal vez, como en ninguna otra, en El publico, lo descriptivo de los cuadros, las figuras y los sentimientos, se muestran para un pintor prevenido, en cada rincón y en cada situación, de maneta tal que no puedan ser pasados por alto. Como toda obra surrealista, uno cree ver sobrevolar sobre ella al ángel y a la musa, mezclados con el cuerpo de boxeador del poeta y con sus ojos vívidos e iluminados. Andre Breton, abogaba en esos tiempos de Lorca, por la escritura automática, por la expresión espontánea y sin inhibiciones, fuera del control de la razón. Y aquí es donde debe aparecer la inspiración plástica, obediente a estas consignas con las que en El publico insita casi violentamente. Con respecto a esto, Lorca le dice a Sebastián Gash "!Ojo, ojo! No es surrealismo, es una tremenda lógica poética". Y a pesar de esta aclaración, es difícil encontrar en esta obra imágenes de una plasticidad coherente. Al igual que Bosh en El jardín de las delicias, en El publico el pintor podría encontrar composiciones de autentica pesadilla. Los mensajes desesperados y llenos de violencia, mal podrían inspirar una obra plásticamente considerada realista. Es evidente que la obra del Bosco y de Goya, debieron dejar una honda huella en Lorca, dado el interés que este sentía por la pintura. En Los desastres de la guerra y Los caprichos , hallamos implacables escenas de la inhumanidad del hombre para con el hombre y es en ellos que se nos muestra la realidad escondida bajo la mascara humana, aspecto este íntimamente relacionado con algunos de los temas de El publico. El mismo Dalí, con su método critico-paranoico, por medio del cual llega a pintar los sueños y las imágenes inconscientes manteniendo el control de lo que estaba haciendo, ejerce sobre Lorca un impacto visual que se acrisola con la estrecha amistad que los une. Amistad que, por otra parte, es aun hoy motivo de análisis por parte de los estudiosos de la obra de ambos artistas. Dali pinta La persistencia de la memoria, El nacimiento de los deseos líquidos, Suave construcción con judías cocidas, Premonición de la guerra civil y Sueño, en perfecta coherencia con el teatro dramático-surrealista de su intimo amigo Federico, Otro tema que Lorca desarrolla en El publico y que plásticamente es mas difícil de plasmar es el del amor. Aunque en esta parte de la obra el hace frecuentes referencias a Romeo y Julieta de Shakespeare, sin embargo, el carácter fortuito del amor como lo trata Lorca, esta mas ligado a Sueño de una noche de verano del mismo Shakespeare. Lorca opinaba que el amor, que nada tiene que ver con la voluntad de las personas, se da en todos los niveles y con la misma intensidad, ya sea entre hombre y mujer, como entre dos hombres o entre dos seres cualquiera. Aquí podemos destacar una extraña analogía de conceptos con los poetas y sabios persas Rumi y Shams de Tabriz, fundadores en el siglo XII del llamado movimiento Sufi. Los temas principales de El publico ya habían sido enunciados, en su mayoría, en la primera producción poética y dramática de Lorca y seguirían siendo los temas dominantes de su obra posterior. Pero el tema del amor homosexual, aunque latente en la primera producción lorquiana, no pasaría a primer plano hasta su estancia en Nueva York. Federico deja asomar con fuerza, en poemas como Oda a Walt Whitman, el mas oscuro punto de su personalidad y es en ese momento en que trabaja arduamente en su obra El publico. Otros poetas dejan transparentar este tema de la homosexualidad, pero Lorca consideraba, sobre todo en Whitman, que era la personificación del hombre viril, del hombre en busca del amor puro y total, a alguien que no podía compararse con personas de cierta ambiguedad. Aquí, en este punto, es donde vuelve a aparecer la extraña similitud de conceptos con Rumi Y Shams de Tabriz. Lorca sufre la impiedad de su propia mirada puesta sobre si mismo y estos ejemplos del tema del amor frustrado en el hombre, encuentran una expresión mucho mas fuerte e incluso mucho mas trágica en los personajes de esta obra, como son el Director y los tres Hombres, que buscan infructuosamente y no encuentran el objeto de su búsqueda. Es aquí donde vuelven a aparecer imágenes que, llevadas a la expresión plástica, serian de un dramatismo crudo y para nada surrealista. Pero cuando junto al Director aparecen los cuatro caballos blancos, el tema va mutando de matiz y el símbolo de los caballos blancos (que aquí es la pasión), bien podría campear sobre un fondo rojo con un toque de magenta que lo convertirían en un tono particular y único. Siempre de acuerdo a una visión muy subjetiva y personal de la obra. La presencia del biombo y su juego entre lo falso y lo verdadero, también nos ofrece material valioso para el desarrollo de una serie. Las escenas, de una crudeza y una violencia inusitadas, son perfectamente representables. Es el momento en que debiera aparecer un juego de colores que recorriera la gama de los azules, pasando por los rojos hasta desembocar el dramatismo del violeta, sin olvidar algún trazo indispensable de negro brillante. Todo esto, que podemos señalar en Ruina Romana y que nos inspira en forma y colorido es, en definitiva, lo mismo que encontramos en el acto quinto, donde el desnudo rojo y el rico despliegue de personajes nos llevarían a un análisis similar. Es inenarrable la serie de obras que, de acto en acto van insinuándose para nacer, si se quiere, de una paleta inspirada en los sentimientos llevados al color y luego a la imagen. Desde el comienzo hasta el fin de El publico se puede demostrar que, mas allá del drama narrado con palabras, develando la mas profunda e intima de las facetas de la personalidad lorquiana, esta obra no solo es perfectamente representable teatralmente hablando, sino que, trasladada a las artes plásticas encontraría una inesperada representatividad maravillosa y complementaria. Susana Giraud (Argentina, 1947). Poeta e artista plástica. Autora de Trazo y poema (1988), La luna en fuegos del final de Noviembre (1998), e La armonía de las desarmonías (2001). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Lina Zerón en su morada de mariposas (entrevistas) José Geraldo Neres . Lina Zerón es una poetisa intensa e inmensa, una mujer poeta de muy altos relieves que ha empezado a florecer en los principios del siglo XXI. Otto-Raúl González Palabras de poeta… cataratas en el alma regadas en las venas de la tierra, en las albas montañas, flotando sobre azules aguas, viviendo en frondosos bosques, forjando caminos en las extensas planicies de la alma. ¿Qué hay detrás del silencio?¿Cuántas palabras bastan para formar un muro transparente contra el olvido? ¿Miel o amargura? “áspero fruto mi vientre/ fuego somos/ mariposas se suicidan/ cuerpos de luz/ sombras somos/ un insecto que nace en las mañanas y muere por la tarde entre tus muslos soy/ amuleto / turbulenta agua/ lámpara que guía a los ciegos soy. / somos raíces cálidas de la tierra”. (fragmentos del poema “Antes de amarnos”, de Lina Zerón). ¿Que palabras quieres ocultar? ¿Quién podrá ver con estos ojos de niebla cuando me atropella el llanto? ¡Cada gota es un grito de silencios! Rompí las cadenas, los arraigos, extraje lo sonido de los vientos de la humedad de las rocas. Hueles a música. En el mustio dolor de los abismos, fluye el hambre de mi piel, caricias, gotas, juegos borrascosos del placer. !Hoy te ofrezco el maná, lluvia, ventanas asidas de luz, camino fértil sin cenizas, fuego azul que se consume! !Hoy quisiera arrancarme el alma! ¿Miel o amargura? Lo difícil es mudar de piel. Lo más difícil es arrancar raíces, mi alma y mi cuerpo no son más míos. Ahora bebo el agua amarga de amargo olvido, y pretendo detener el tiempo – una boca de piedra calcinada – la pasión del cuerpo en pecho descansa, la espera del amante humedece el vientre… ¿Sentimiento femenino? El ser de otro es relativo. Pétalos fecundaron en las manos, viento. Agua espesa. Todo anidó en los ojos, consumación de la luz, voy tambaleante hacia el nuevo encuentro. Traté de apresar con la punta de los dedos el sonido de mi piel el recuerdo de tu imagen, con mi lengua el sabor de tus besos, pero sólo pude sentir el hueco dejado por el olvido. Palabras de poeta… Fui semilla de sol plantada en la tierra parida por un tornado de agua entre polvo estelar y alarido de colores. Palabras de mujer, totalidad… tormento que se consume en sí misma, río, sombra, caminos de fuego sobre agua, emociones, amores entretejidos en su alma, tornasol de sensaciones cubiertos por piel de mujer. “Estrellas de mar mi cuerpo; / tu olor, orgía de aromas sacudiendo la noche; / tu voz, serenata de piel cosechada a fuego lento, /tu joven cuerpo, galopando mi capitulado vientre”. (fragmentos del poema “Serenata de piel”, de Lina Zerón). Mujer que duerme en la jaula con los leones al ponerse el sol. Soy libre por decisión propia, camino lodoso, oscuro, la lluvia me ahoga, me atrapa la hierba. Vivo en un país tan grande que todo queda lejos: la educación, la comida, la vivienda. Tan extenso es mi país que la justicia no alcanza para todos. Y por la patria viste yacer tantos muertos en las calles, las tumbas empolvadas de tu gente, y aprenderán a calentarse el corazón tan sólo de recuerdos de una patria que nunca volverán a mirar. ¡Olhos: crepúsculo de outono, céu sereno, cristal de estrelas de fogo! ¿Dónde quedó la historia, el verde paisaje, la sapiencia del cosmos, nuestra sangre milenaria? ¿Qué hay detrás del silencio?¿Cuántas palabras bastan para formar un muro transparente contra el olvido? ¿Miel o amargura? En la tentativa de revelar un primer velo o asistir el vuelo de la poesía que se hace "mariposa" – que no se prende a las bellezas momentáneas – pero dialogando con todas las máscaras de nuestro cotidiano. Un diálogo teniendo como guía el libro Los colores del tiempo, que reúne parte importante de la obra de Lina Zerón (México, 1959). Así recorto imágenes – un mosaico compuesto de palabras– en la tentativa de una breve presentación de esta poeta. [JGN] JGN – Poeta errante, editora, periodista cultural, lo hay que decir de Lina Zerón, en las palabras de Lina? LZ – Soy una mujer que se enfrenta a sus miedos, con muchas pequeñas metas, que acepta y vence retos, que vive al máximo cada día, que transfigura vivencias del exterior y lo mezcla con las internas para gestar su poesía, que defino como pasión, viviencia y conocimientos. Me atemoriza la mediocridad, la envidia, los celos, el arrivismo. Soy una mujer comprometida con la realidad social del mundo en todos los aspectos, social, político, cultural que busca que mi voz permeé de los círculos literarios a las más profundas raíces de la sociedad. Mi compromiso con el mundo de la cultura es difundir a todos los autores que pueda, sobre todo a aquellos que no son protegidos del sistema gubernamental, los poetas como yo que trabajan para vivir y viven para escribir. Soy poeta desde que recuerdo, primero declamando poemas de otros, luego escribiendo la propia. Mi poesía es lírica, por lo tanto el sujeto poético soy yo misma. Abordo aspectos que me determinan, pero no busco o pretendo psicoanalizarme, hacer poesía es quebrantar el orden del lenguaje. Yo me he preocupado por enfrentar mis propios fantasmas, mis propias percepciones. Ahora me preocupa más la sonoridad y la imagen. Pero antes que nada, entregar mi ser más profundo. De manera correcta, si, pero que todos la entiendan. JGN – Visitando su página personal www.linazeron.com podemos tener acceso a algunas de sus entrevistas: Aitana Alberti, Ernesto Cardenal, Floriano Martins, Mario Benedetti, Otto Raúl González, y muchos otros. ¿Podría decir un poco más sobre sus actividades de periodista cultural? LZ – En mi labor de periodista cultural a parte de mostrar la obra de un poeta o escritor busco presentar al ser humano con la finalidad de que el lector lo ubique en el mundo cotidiano en aspectos que le son afines y comunes. Difundo también poesía, cada 15 días aparece una columna en El Financiero que se llama la Furia del Pez, sobre poesía, son selecciones de varios autores, trato sobre todo de publicar a los contemporáneos que no a los más famosos. Fue una actividad que se dió por azar, sin proponérmelo y que disfruto enormemente. El editor de cultura del Financiero, Victor Roura, conoció mi trayectoria poética y mi obra, me invitó a participar como colaboradora haciendo selecciones de poesía, luego Hugo Gutiérrez Vega, me invitó a colaborar realizando entrevistas en El Semanal de la Jornada y Miguel Barberena en el Excelsior, es algo mágico para mi todo lo que sucede a raíz de mi poesía, me invitan a leer mi obra en otros países, a colaborar en periódicos, a pertenecer a los comités organizadores de Festivales de Poesía, a ser jurado en certámenes, y muchas otras cosas que van haciendo mi almanaque de recuerdos. JGN – En febrero pasado estuvimos en el “1° Festival Internacional de Poesía, de la ciudad de Granada, Nicaragua”. En aquella atmósfera colonial pudimos disfrutar, conocer, dialogar con una buena fracción de la poesía contemporánea latinoamericana. Me gustaría que usted hablara sobre este festival, y también del X “Festival Internacional de Poesía, de La Habana, Cuba”. ¿Cual es la importancia de estas manifestaciones literarias? ¿Lo que representa esa movilización de poetas? ¿Cuáles los más importantes encuentros literarios de su país? En su punto de vista cual y como sería un encuentro poético ideal. LZ – Lo más importante de todo Festival de Escritores, poetas, hacedores de cultura o arte es encontrarse con sus pares, conocer lo que se está escribiendo en este momento, aquí y ahora, dejar a los muertos en paz, recordarlos pero descubrir lo que gesta nuestro agitado mundo. El Festival de Granada fue muy bien organizado, en una ciudad hermosa como Granada, Nicaragua, con asistencia de importantes poetas ya reconocidos, con trayectoria y también con poetas contemporáneos, y sobre todo el contacto con el público me pareció muy bueno. Una organización casi impecable. El Festival de La Habana destaca de otros Festivales, el compromiso de los poetas ante la problemática mundial, preservar el medio ambiente, manifiestos por la paz, adentrarnos en su realidad social, no solamente el ir a escuchar poesía y convivir entre poetas. Los Encuentros o Festivales más importantes del país son los sustentados por el gobierno ya que se les otorga a las instituciones de cultura recursos económicos para poder invitar poetas de muchos países, pagándoles aviones, hospedaje y alimentos y en algunos casos, honorarios y estos son: Poetas del Mundo Latino, en Morelia, Michoacán. La Feria del Libro de Guadalajara y el Zócalo de México, y el Encuentro de Tamaulipas. Pero en todo el país, en diferentes fechas del año existen Encuentros o Festivales que merecen mucho la pena tanto por el esfuerzo de los organizadores como de los poetas que llegan a los mismos, entre ellos están: El Festival de Salvatierra, Guanajuato que se realiza en febrero. El Encuentro de poetas de Zamora, Michoacán, que se realiza en el mes de junio. El Encuentro de Cd. Juárez que se realiza en mayo. El Encuentro de poetas del caribe en Playa del Carmen, Quintana Roo, que se lleva a cabo en el mes de octubre y el Encuentro de Mujeres poetas en el país de las nubes en la mixteca oaxaqueña en el mes de noviembre. Hay más, muchos más, pero a estoy yo he asistido. Un Festival ideal de poesía sería aquel donde se conviviera con la gente de la ciudad, del pueblo, los de a pié, dando lecturas a plaza abierta, en los mercados, las cárceles, con estudiantes de universidades y bachilleratos, pero siempre atentos a la calidad de la poesía que se va a exponer porque cualquier obra artística termina su círculo cuando se muestra a la sociedad y esta debe ser algo bien hecho, escrito, elaborado, no cualquiera es poeta, eso lo decide el público, los lectores pero también la crítica especializada, debe haber una selección previa y un número limitado de buenos poetas extranjeros como nacionales y una excelente logística que lleve a buen término un Festival y la publicación de las memorias del Encuentro, con poesía de los participantes, fotos, anécdotas y se le pudiera dar algo de honorarios a los autores, aunque fuera significativo. JGN – En una respuesta anterior (número 2) usted demuestra una preocupación con la divulgación de nuevos autores “trato sobre todo de publicar a los contemporáneos que no a los más famosos”; me gustaría saber lo que se está haciendo en su país con relación la poesía, literatura de los jóvenes autores; ¿existe algún incentivo? ¿premios que posibiliten la esos jóvenes se dediquen totalmente la literatura? ¿o eso es una utopía o territorio de pocos privilegiados? LZ – En México existen becas y premios para jóvenes creadores, por parte del Conseja Nacional para la Cultura y las Artes, (CONACULTA), también por parte de universidades de distintos Estados. Todo el año abren certámenes para menores de 30 años y otorgan becas y no todos premios son otorgados mañosamente. En los medios de difusión escrita como periódico, revistas, suplementos dominicales de periódicos prestigiados es muy raro que promuevan los valores nuevos, esto se maneja más bien por amiguismo, el Periódico el Financiero en su sección cultural se escapa a esto ya que aquí se da cabida a todos. Los Festivales de poesía que organizan en México, los que son sustentados por el gobierno, se les da prioridad a los poetas extranjeros y los mexicanos que van son siempre los mismos, poetas ya con mucho prestigio o amigos de los organizadores, y eso lo he visto en todo el mundo porque yo como extranjera en tierra ajena son elogiosamente bien recibida, y ahí se cumple el adagio: “nadie es profeta en su propia tierra”. JGN – Recientemente aconteció un evento literario en la ciudad de São Paulo, que dentro de sus temáticas fueron discutidas la poesía y literatura femenina. El cuestionamiento fue amplio y bien interesante. Creo que no existe sexo en la literatura, existe sí la buena literatura y la mala literatura; donde el sexo u opción sexual no importa, importa sólo la calidad literaria. ¿Lo que usted tiene a decir sobre esa cuestión? En México existe un festival literario de mujeres escritoras; ¿cual la motivación para realizarse ese evento y lo que él representa? LZ – En los albores del siglo XXI donde la sociedad tiende a ser una y el ser humano a no ser juzgado por razones de raza, religión o sexo, tenemos que huir de mantener distinciones que más que ayudar, molestan e interfieren; somos una sola humanidad y la única literatura posible es aquella que parte de todos nosotros indistintamente del qué género que seamos. No es que los hombres puedan escribir una literatura femenina o la mujer una masculina, sucede que la literatura femenina o masculina no existe: lo que existen son mujeres y hombres que escriben y realizan obras maestras, de las que todos, hombres y mujeres, disfrutamos. Respecto a los Festivales de mujeres hay 2 en México. El Encuentro de Mujeres Poetas en el País de las Nubes es uno de ellos, el otro es el Festival de mujeres poetas en Chihuahua, el primero, curiosamente lo organiza un hombre auxiliado por mujeres y la comunidad de los pueblos. Este Encuentro del país de las nubes recibe cada año más de 50 poetas de muchos lugares del mundo, sobre todo Centro y Sudamérica, en sus inicios lo más importante era la convivencia con las etnias de las comunidades indígenas de la mixteca, más eso se ha perdido por el afán de leer en Bellas Artes en la Cd. De México, es una tristeza que el organizador haya incluido la clausura en el Palacio de Bellas Artes como un premio a las poetas asistentes, porque así lo toman, a muchas no les importa la convivencia, la importancia de llevarles a las etnias cultura, su poesía, como leer en Bellas Artes, llevan incluso vestidos de gala para este último evento, y todo el tiempo lo que las motiva es la lectura de clausura en el Distrito Federal. Si bien, es un punto de reunión para que muchas de nosotras nos conozcamos, también es para dar un poco de nosotras a las etnias, yo colaboré en el comité organizador de 2001 al 2004 pero el año pasado me sentí muy decepcionada al ver cómo se manejaba la situación de “portarse bien” en las etnias para poder leer en Bellas Artes, vi la angustia de muchas compañeras poetas porque no leerían ahí, se quejaron incluso conmigo de que el organizador principal les haya dicho que no leerían en ese recinto si llegaban tarde o no asistían a los compromisos en la mixteca, al ver esto me pregunte ¿cuál era el motivo principal para que las poetas quisieran venir a este Encuentro, ¿convivir con las etnias o leer en Bellas Artes? Para luego poder presumirlo en sus vitae. No dejo de alabar y agradecer todo lo que los organizadores de las distintas etnias nos dan, todo lo que preparan, los anfitriones piensan en todo para recibir a las poetas en sus casas, los niños bailan, cantan, leen su poesía para nosotras y nos escuchan con atención y cariño, eso, es lo mejor de todo el Encuentro, poder convivir con los niños en sus escuelas, ser recibidas por las amas de casa o maestras, en sus casas, leer para el pueblo, no la lectura en Bellas Artes que se convirtió en el toque chic de atracción para venir a México. Del otro, del Encuentro en Chihuahua, no puedo opinar porque no he asistido. Al que estuve invitada fue al Encuentro de Escritoras “Inés Arredondo” en la Cd. De Guadalajara el año pasado y nos reunimos 123 escritoras de muchos países, si bien la logística no fue lo mejor, la convivencia entre nosotras, el conocer lo que se está escribiendo en España, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, etc. fue muy rico, conocí muy buenas escritoras y todas regresamos a nuestras casas dispuestas a reunirnos el año entrante en Vigo, España que será el próximo Encuentro pero a mi, en verdad, prefiero los Encuentros mixtos, donde pueda uno escuchar voces masculinas, poesía gestada desde las entrañas de los varones, lo que tienen que decir, y de nosotras las mujeres. Es lo ideal, los encuentros sin género, el departir todos sin distinción de raza, religión o género. JGN – Recuerdo varias conversaciones literarias que tuvimos en la ciudad de Granada, una en particular era la preocupación acerca de la vulgaridad que se presenta como “poesía erótica”. Un lugar que el explícito toma cuenta y no hay espacio para seducción. Pienso siempre en la seducción de la palabra como quien presencia una danza de los siete velos y antes aunque la música termine está totalmente poseído por “Eros”. Me gustaría su opinión ¿podría destacar actualmente un poeta y una poeta que trabaja con esa temática? LZ – La poesía erótica es inmensa y pertenece a todas las naciones y épocas. Esculpir o pintar es lo mismo, desnudar y vestir el cuerpo con todos sus sentidos inmersos y ese carácter sensual, de comprobación del cuerpo a través de los sentidos puede trascender al amor, cuya comprobación estaría sujeta solamente al lenguaje y las palabras con el contacto mas profundo con el mundo. El erotismo es a su vez la raíz del hombre y la clave de su extraño destino sobre la tierra. El lenguaje y las palabras son el contacto más profundo con el mundo. Es una pulsión que mueve al universo, por lo que el poeta defiende la vida. Ama la vida pero debe ser plasmada con un lenguaje poético delicado, con metáforas, imágenes. La vulgaridad y pornografía que se quede para la narrativa que puede incluírlas sin ningún problema y está bien justificada. No puedo darte nombres en específico de poetas en poesía erótica, conozco muchos que la escriben muy bien pero, que al igual que yo, hacen otro tipo de poesía, de tinte social, feminista, filosófica, de diversas temáticas. Por nombrar a alguien te diré que Mairym Cruz-Bernal de Puerto Rico y Gaspar Aguilera de México, escriben una exquicita poesía erótica pero podría darte muchísimos nombres más y me siento traidora por no incluir por lo menos 10 nombres. JGN – ¿Cual su afinidad con la poesía brasileña? ¿Existe divulgación de esa poesía en su país? LZ – Mi afinidad con la poesía brasileña podría decir que me viene por la sangre caliente que nos identifica. Yo conocí la poesía brasileña cuando era muy pequeña a través de las canciones de Elis Regina y Antonio Carlos Jobin, entre otros, tendría yo unos 8 años, más tarde, me di a la tarea de investigar que se estaba haciendo en Brasil pero me costaba muchísimo trabajo porque casi no había literatura brasileña en México traducida al español y por lo tanto tampoco se vendían libros en portugués, con el devenir de la tecnología es que se han ido abriendo paso nuestros compañeros de habla portuguesa en territorio castellano y yo he tomado como reto ir aprendiendo el idioma, y creo que tanta obligación tenemos los unos como los otros de este continente de hablar ambas lenguas, así como se impone el inglés, ya que todos somos latinoamericanos. JGN – Llegamos al momento final de nuestra entrevista. Sé que podríamos abordar muchas otras cuestiones, mas encuentro que ya tenemos un buen material; no para revelar totalmente, sólo para hacer caer un primer velo, para conocer algo de su poética y de su visión del mundo. Gracias Lina por ese momento. José Geraldo Neres (Brasil, 1966). Poeta, ensaísta e tradutor. Inédito em livro. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Maria Teresa Horta: corpo solar e lunar no corpo do texto Ana Marques Gastão . Duas palavras bastariam para introduzir o leitor na obra de Maria Teresa Horta. São elas corpo e mulher. Mas seria dizer pouco, embora também haja “pouco” no excesso que constitui a sua escrita, no sentido da sábia utilização do mínimo, do pormenor, na desmesura do gesto, frondoso, que leva o poema ao Outro. É seu um corpo erotizado, pele sobre a pele, onde a própria nudez se diz tecido, cintilância, seda-sede, dobra irreverente, que não aceita a passividade das lisuras no uso de uma voz feminina, de uma “mulher doente de afagos.” É seu um corpo alucinatório, rondando por vezes a litania, na imposição de uma experiência orgânica, lunar na ficção, solar na poesia. Como em Fulgor (1): Tacteio à minha volta e é só fulgor Tento deslumbrar o sol que cega Demoro-me demasiado no calor Para a minha sede Nenhuma água chega A escrita da poetisa de Minha Senhora de Mim (1971) tem sexo, por se encontrar próxima da historicamente determinada vida das mulheres - ao nível da experiência interior, corporal, social e cultural -, pelas temáticas abordadas, pelo seu universo existencial, pelos aspectos da linguagem e da construção poética ou narrativa, consoante o registo em que a autora se move. E depois há ainda o outro corpo, o corpo da linguagem, uma body writing, a corporização do texto, no qual a exaltação dos sentidos é voraz, dolente, vertiginosa, na continuidade entre elementos diversos, como o mundo real e o imaginário, a ferida e o espanto, a sombra e o fogo. Enumera-se assim o lugar do desejo, que não deixa de ser, no sentido barthiano, o lugar da escrita (2), como se viajássemos dentro de uma cantabile ária, expressa a partir de um dentro - a experiência, vivência do verso - e não apenas do que é exteriormente perceptível: Escreve a poetisa em Segredo (3): Não contes do meu vestido que tiro pela cabeça nem que corro os cortinados para uma sombra mais espessa deixa que feche o anel em redor do teu pescoço com as minhas longas pernas e a sombra do meu poço Não contes do meu novelo nem da roca de fiar nem o que faço com eles a fim de te ouvir gritar Este poema contém em si, na sua estratégia de insubordinação, um lastro de verdade na revelação de uma obra transgressora que, desde a década de 60, mergulha, solitária, os pulsos no espaço gelado e cortante que separa a luz da escuridão, ousando enveredar por um território directa ou indirectamente vedado, ao longo da história da literatura, às mulheres, ou pelo menos estigmatizado: a escrita erótica. Consciente da dantiana perda da “inteligência do amor”, a autora de Jardim de Inverno (4) constrói um dicionário sentimental e do corpo - de que é exemplo, o livro Educação Sentimental (5), em resposta a Flaubert -, na acepção de uma desordem e de uma inversão dos papéis tradicionalmente atribuídos ao masculino e ao feminino. E fá-lo no rasto do primitivo lirismo português e das cantigas de amigo e de amor. As “directrizes”, não programáticas, da poesia de Maria Teresa Horta são pelo menos duas: actualizar o passado literário, o cantar à antiga em que a “persona” lírica é a amiga medieval ou a pastora quinhentista, recuperando/renovando a malha de um tecido tradicional; e, na vontade fatigada, subverter o pensamento de claustro característico da solidão feminina, criando um discurso avesso ao brando, e, no entanto, cálido, rigoroso e musical, na imaginação e no invento da paixão, na ameaça da solidão de onde emerge o fascínio. O sujeito poético profere, pois, um discurso de ruptura, desabrido, que, na fase inicial, dir-se-ia marcado pela imagem surrealizante, cortante, enxuta, laminar, de que é exemplo o seu Poema de Insubordinação incluido em Tatuagem (6), certamente um dos mais emblemáticos do Grupo Poesia 61, a que pertenceu ao lado de Fiama Hasse Pais Brandão, Luiza Neto Jorge, Gastão Cruz e Casimiro de Brito: (…) Preto sem submissão palavra de relevo agudo nas ruas Preto De água de vento de pássaro de pénis de agudamente preto de demasiado como um cardo submerso de som Preto de saliva na ogiva dos lábios (...) Mas, em Maria Teresa Horta, o corpo, inconformista, tão rebelde como dócil, não representa, apenas, e por si só, a expansão, o canto, o êxtase, dir-se-ia esvaziamento e revolta de quem não cumpre as regras, na consciência da relatividade de que padece o relacionamento intersubjectivo. Poesia límpida, mas de uma limpidez fracturada, povoada de fissuras, a da autora de Destino, que desvenda também - na permanência de um desejo que revém à terra mãe, à origem, ao acto fundador da criação -, os mitos do amor impeditivo, irrealizado. Poesia escrita num tempo interior que é simultaneamente vertigem, destruição e ruína: “Onde está a outra que de mim/é já de mim/o mais amargo fel?” (7) Escrever é, portanto, um acto do corpo, sendo a escrita simultaneamente fundação do mundo, “cristal do tempo”, para Maria Teresa Horta, autora que jamais poderá ser arredada da criação, com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, desse livro claramente feminista (ao contrário da restante obra da escritora de Ema): as Novas Cartas Portuguesas, publicadas debaixo de fogo, em 1971 (8). A obra teve um destino previsível: imediatamente retirada de circulação, levou as três Marias a tribunal onde foram condenadas por atentado ao pudor e pornografia. Mas não só uma leitura políticosocial deverá acompanhar este texto a três vozes que denuncia a opressão da mulher no domínio privado e público, estamos perante um documento literário único e inovador, até pelo seu carácter híbrido e fragmentário, no qual coabitam vários registos: epistolar, poema em verso ou prosa, diálogo, etc. E ainda o corpo no corpo da ficção de Maria Teresa Horta. Entre outros romances, novelas, contos, destacam-se Ambas as Mãos sobre o Corpo (9), dominado por um intimismo lânguido, onírico, pelo prazer sensual do texto; Ema, livro convulsivo, pálido de morte, terrífico (10) e A Paixão Segundo Constança H. (11), cruamente tecido, por entre as asas dos anjos, no laceramento da loucura feminina, da paixão, da traição, no eclipse de um Eu devastado. Certo que a poetisa esquece mais facilmente a ficcionista do que a ficcionista esquece a poetisa. Mas nenhuma deixa para trás o corpo, nem a precipitação intensiva no desatino das sensações ou a viagem psicanalítica, o texto deslizando, lento, ritmado, na circularidade da lágrima, do prazer, do medo, da loucura. A loucura feminina... Obsessiva, a escrita romanesca da autora de Cristina (12) vive de encruzilhadas dialécticas: palavra/corpo, solidão/espera, esquecimento/medo, amor/morte. Se a poesia de Maria Teresa Horta é vital, a ficção dir-seia mortal. Existe o escuro e nele a matéria da escrita. Corpo, desejo, dor, amor, separação, abandono, violência, homicídio, loucura, indiferença... Eis alguns dos habitantes do seu universo, regido por um alfabeto marcado pelo império da palavra sobre a frase. Palavrasclarão, cintilações reveladas numa obra romanesca fragmentária e, por isso, singular, expressão de totalidades em redução, tendo como personagens mulheres que falam do mundo como se vivessem dentro de um livro em monólogos gritantes, lentos, mordidos, ardidos, mulheres acolhidas em paisagens líquidas, indefinidas, povoadas de emoções, desconcertos e inconformações à sombra de um tão pouco amor. Os romances de Maria Teresa Horta são narrativas ao arrepio da convencionalidade, tão frágeis quanto mortíferos, obsessivos na sua luminescência feminina e nocturna. Tudo se ilumina da sombra, de uma obscuridade essencial, distinta da meramente verbal, no adensamento das atmosferas plúmbeas, adequadas ao estilhaçamento, à perda do ser. É a noite, na acepção de Blanchot (13), a vingar neste universo; a possibilidade da escrita, procura tacteante, espaço de mergulho, meio de conhecimento - na sua simplicidade aparente -, dentro da matéria escura, do que dói. A escrita de ficcional de Maria Teresa Horta é a glória do vazio e do nada como em Marguerite Duras, texto de “olhos para dentro” como em Clarice Lispector (14). Dir-se-ia que parte da oposição entre um dentro e um fora, nascendo da impossibilidade de conter um “coração aceso”, da circularidade da metáfora erótica, surgindo a quase auto-destruição do excesso de ausência, caótica, desértica. Será a poesia a preencher esse negrume na avidez ou na libertação do canto, no desatino e no excesso, no desassossego e na vitalidade desatada, no mar revolto, no grito de água, na fusão jubilatória entre o corpo tangível e o corpo textual, ambos entrelaçados e empenhados na recuperação do mundo. O corpo, sempre o corpo, como lugar do voo, de anjos luzentes, recortados no escuro, sobrevoando a dor. Um tanto púrpura, um tanto azul... NOTAS 1. “Fulgor” in Só de Amor, de Maria Teresa Horta, Gótica, 1992. 2. Roland Barthes, Le Plaisir du Texte, Paris, Éditions du Seuil, Oeuvres Complètes, Tome IV, 19721976. 3. “Segredo” in Minha Senhora de Mim, Gótica, de Maria Teresa Horta, 2001 (5ª edição). 4. Maria Teresa Horta, Jardim de Inverno, Lisboa, Guimarães Editora, 1966. 5. Maria Teresa Horta, Educação Sentimental, Lisboa, A Comuna, 1975. 6. Tatuagem in Poesia 61,1961. 7. O Mais Amargo Fel in Destino, de Maria Teresa Horta, Lisboa, Gótica, 1997. 8. Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, Novas Cartas Portuguesas, Lisboa, Dom Quixote, 2001 (8ª edição). 9. Maria Teresa Horta, Ambas as Mãos sobre o Corpo, Lisboa, Publicações Europa-América, 1979 (3ª edição). 10. Maria Teresa Horta, Ema, Lisboa, Edições Rolim, 1984. 11. Maria Teresa Horta, A Paixão Segundo Constança H., Lisboa, Círculo de Leitores, 1995. 12. Maria Teresa Horta, Cristina, Lisboa, Edições Rolim, 1985. 13. Maurice Blanchot, L’Espace Litteráire, Paris, Gallimard, 1955. 14. Clarice Lispector, Para Não Esquecer, São Paulo, Siciliano, 1992 (4ª edição). Ana Marques Gastão (Portugal, 1962). Poeta, crítica literária e redatora cultural do Diário de Notícias, de Lisboa. Autora de livros como Terra sem mãe (2000), A definição da noite (2003) e Nós/Nudos (2004). A fotografia do poeta está assinada por José Carlos Carvalho. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 Pedaços da vida nos objetos de Farnese de Andrade Mirian de Carvalho . Aberta de 1 fevereiro a 10 de abril deste ano de 2005 no CCBB/RJ, a mostra de Objetos de Farnese de Andrade seguiu para São Paulo em maio. Nos trabalhos expostos, segundo observação nossa, o visitante pode distinguir três núcleos temáticos, reunindo objetos por analogias técnico-imagísticas. De acordo com esta “leitura”, tais núcleos poderiam denominar-se: Clausuras do Céu e da Terra; Águas Fechadas; e Elos Relacionais. Das Clausuras do Céu e da Terra constam oratórios, móveis, caixas, e peças similares – quase todas de madeira – envolvendo fragmentos de objetos, ou objetos inteiros, de cunho profano e/ou sagrado. Nesse núcleo se insere o Auto-Retrato de múltiplas imagens, agregando paisagens e peças que o integram à memória da família, da infância, e do lugar de origem. Lugar que não se atém à cidade natal. Lugar que se inicia na anterioridade das águas. E, rememorando visão simbólica dos oceanos e/ou do líquido aminiótico, chegamos aos objetos que nos conduziram ao nome Águas Fechadas. Presos em águas densas – verdadeiras redomas compactas de resina –, encontram-se, tal como nos outros núcleos, inúmeros fragmentos e coisas inteiras de cunho profano – parte e todo – que se reúnem a imagens sacras. Enquanto nos dois primeiros núcleos desta nossa ordenação dos Objetos, ou seja, em Clausuras do Céu e da Terra e em Águas Fechadas, há um sentido de fechamento, respectivamente como abrigo e placenta, nos Elos Relacionais os trabalhos não sugerem relação entre continente e conteúdo, posto que a ordem do todo e da parte não implica envoltório: trata-se de montagens a céu (ou limbo) aberto. Mas esses elos – nem abertos nem fechados – estabelecem vínculos mnemônicos e imagísticos com os trabalhos dos outros núcleos. Expostos à luz do espaço físico, eles exercem fascínio de enigmática travessia aos demais objetos, e, simbolicamente, interligam fechamento e abertura nos espaços desses objetos, em meandros que encarnam entre-espaços e entre-tempos. Limite. E linha de passagem. Em sendo o espaço luminoso seu único “invólucro” – um envoltório virtual –, os Elos Relacionais estão presentes nos outros trabalhos da mostra, através de simbolismo que abrange fragmento e completude – reunidos pela ambigüidade e pela ambivalência – nos dois outros núcleos. Nos Elos Relacionais se insere referência a Morandi, bem como se inserem outras menções ao mundo da arte, realizando passagem da realidade objetiva à realidade sensível no plano artístico. Desfazendo vínculos relativos à concepção do tempo e do espaço do mundo, os Elos Relacionais atuam como vínculo entre o tempo e o espaço quiméricos, intrínsecos aos objetos como um todo, cuja nomenclatura igualmente abrange o onírico. Tal como ocorre com o nome Viemos do Mar, atribuído pelo artista a alguns objetos, certos títulos se repetem em trabalhos diversos, como por exemplo: Ser, Pensamento, Anunciação, e ainda o ambíguo Sem Título. Por meio de vínculos verbais, tal repetição intensifica sentidos íntimos nessa rede de objetos, que se configuram pela reunião do fragmentar e da unidade – observando-se que, no conjunto, a unidade ganha valor e função de fragmento. Porém, observe-se, guardando relação íntima com o fantástico e o misterioso, nos Objetos de Farnese desaparece a cisão entre parte e todo. Entre sagrado e profano. Cria-se uma realidade de ordem estética. Uma realidade regida pelos princípios da imaginação. Nesse encontro do “todo” e da “parte” em busca de outros sentidos, pressentimos a presença do humano. Pressentimos fôlego. Respiração. Nessa ambiência onírica, insurge-se um corpo fragmentar. Ou seja, a plenitude do corpo se revela na instância do fragmento. Corpo lúdico. Corpo telúrico. Corpo d’água. Corpo sagrado. E, dentre tantos outros, corpo humano. E, se “viemos do mar”, tal como quer o artista no núcleo por nós denominado Águas Fechadas, esse mar nos trouxe às prisões da terra. E ao inatingível céu. Então, resta-nos o jogo das marés. Resta-nos brincar de chegada e partida – ao silêncio das águas endurecidas. Ao silêncio do envoltório de madeira. Ao silêncio da placenta d’água. Ou da transparência do vidro. Ou ao solilóquio do imaginário. “Para não morrermos pela verdade”, resta-nos o jogo ambíguo da arte. Sem reivindicar originalidade, posto que não é nossa a idéia, observe-se que se revela nítida a memória do brinquedo nos Objetos de Farnese. No percurso da mostra, o visitante é convidado a “brincar” com o fragmento, para se apossar – ou perder o todo. Ou jogar com o todo – mar, terra, céu, corpo, e demais circunscrições dos paraísos perdidos – para reunir ou desmembrar as partes. Caminhando pelo universo dos objetos, o andarilho se vê impelido a brincar com o brinquedo, realizando no ato lúdico a atuação da criança, tentando agregar imagens, experiências e sentimentos diversos e caóticos. Prazer e medo. Amor e ódio. Vida e Morte. No entreato dessas tensões, tudo se desfaz e refaz. E se desfaz. Ao curso da brincadeira, o visitante se recorda de que um dia arrancou as rodas dos carrinhos. E os olhos dos bichos de pelúcia. No entreato dessas tensões, voltando ao tempo atual, a criança veste as bonecas, e as leva para dormir. Mas a criança também empurra os olhos das bonecas pra dentro da órbita. Arranca braço. Perna. Cabeça. E, sem querer, derruba no chão as prateiras da casa – e se diverte com cacos de espelho, com estilhaços da louça e pedaços das estatuetas quebradas. Doce infância dos fragmentos. Doce infância da “vida que jamais conseguiu acreditar na morte”. E da morte que persegue a vida. E, de modo lúdico e / ou em ato de mórbida candura, a criança tenta sempre re-arrumar, a seu modo, pedaços do que se foi – partes dispersas. Lacunas, a seu redor. Ignorando o todo e a parte. Bonecas e coisas em frangalhos. Olho por caixa. Braço por perna. Bolas de vidro no lugar dos olhos. Paisagens e fotos imemoriais. Gamela. Concha. Pedaços de móveis. Utensílios e pessoas de cabeça para baixo. Genitália explícita ou sugerida. Ex-votos. Homem por santo. Santo por homem. Que adulto não se faz criança, diante do desmembramento – lúdico e sádico – do todo, e da reunião dos fragmentos, nos Objetos de Farnese? Ou, ante a memória da casa, dos cantos da sala, das vasilhas, dos móveis, e da inexorável ordem que a vida impõe? Que adulto não se faz criança, tentando romper a clausura das águas e de outros “espaços” ensimesmados? Ou, tentando adivinhar “frestas no eu que sobrou da véspera? À neutralidade do tempo – tudo são fragmentos que tentamos juntar. E juntamos. Mas tudo são fragmentos. Disse um filósofo que “a única realidade do tempo é o instante”. Inexorável parte. Fugidio tempo que vive a morrer. E nascer. Fragmento envolto no instante, o corpo. Brinquedo. E jogo. Dádiva. E ruptura. “O anel que tu me deste era vidro e se quebrou”. Mas dos pedaços da vida construímos nosso mundo. Mirian de Carvalho (Brasil). Doutora em Filosofia, professora de Estética da UFRJ, membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte e da Associação Internacional de Críticos de Arte. Autora de A escultura de Valdir Rocha (2004). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Farnese de Andrade (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 artista convidado: vicente do rego monteiro Vicente do Rego Monteiro: presentes retinianos Carlos Perktold . Houve época em que as ideologias políticas eram divididas entre direita e esquerda e esta procurava convencer a todos de que a causa da miséria humana era a injustiça social. O Muro de Berlin caiu e, com ele, as idéias totalitárias. A teoria marxista, que julgávamos capaz de modificar o mundo, virou história. O arrastão desumano chamado neoliberalismo chegou, levando as ilusões políticas de muitos e abriu caminho para os traficantes, as drogas e os seus usuários, que provocaram e explicam todas as violências e a falta de humanismo, hoje generalizados. Quando a esquerda acenava para a esperança da supressão daquela injustiça, muitos intelectuais se abrigavam no Partido Comunista no qual permaneceram até 1956. Neste ano, em célebre discurso, o então Primeiro Ministro da ex-União Soviética, Nikita Kruschev, denunciou os horrendos crimes de Stalin. A partir de então, não foram poucos os escritores, artistas, poetas, atores, pintores e jornalistas que deixaram o Partidão, perplexos com as denúncias. Historicamente, começa aí a derrocada do marxismo. Enquanto esses intelectuais permaneceram no Partido, sempre se mantiveram também em posições privilegiadas nas editoras, editorias e em postos de governo, decidindo os rumos de publicações em livros ou artigos em jornais, exposições, encaminhamento de artistas e os prêmios nas artes plásticas, formando a opinião pública. Os integrantes do Partidão jamais apoiaram pessoas sem talento, mas, por interferência emocional e política, em ocasiões nas quais deveriam prevalecer o engenho do artista e a beleza das obras, deixaram e/ou não permitiram que se premiassem artistas talentosos e importantes. Aluisio Valle, pintor fluminense de Paraíba do Sul, era “de direita” e, por isso, até hoje suas belas marinhas continuam desvalorizadas no incompreensível mercado de arte. Assim também aconteceu com o pernambucano Vicente do Rego Monteiro, vítima da maior injustiça artística nacional produzida pela esquerda, que nunca permitiu que ele brilhasse o tanto que merecia. Vicente pagou tão caro pela sua opção política que, em 1963, quando já era artista consagrado desde os anos 1920 na Europa, não conseguia vender seus quadros no Brasil. Apesar da vontade e do esforço de muitos a sua bagagem artística não foi enterrada consigo, quando faleceu há trinta e cinco anos, porque o seu talento e a sua originalidade venceram todas as injustas resistências contra ele opostas. A grande tragédia biográfica de Rego Monteiro é que ele viveu na época em que o marxismo imperava nos meios culturais e ele insistia em ser de direita. Mais do que isso. Era monarquista. Jamais abriu mão de suas convicções anacrônicas e cometia o sacrilégio político de escrever manifestos a favor daquilo em que acreditava e, num pequeno prelo manual criado por ele mesmo e no qual imprimia também suas monotipias, tirava centenas de cópias dos panfletos e os distribuía nas ruas de Recife, irritando e provocando o ódio de todos. Foi o grande azar de Vicente. Foi a má sorte do Brasil. Este é o registro histórico lamentável para a esquerda que não teve a grandeza de separar o ideólogo do artista. Vale insistir: os esquerdistas não concordavam com as suas idéias políticas ultraconservadoras, detalhe que é tabu biográfico. Na maioria dos textos sobre a sua vida, esse assunto aparece como um diáfano pano de fundo. E é também tabu histórico a ojeriza que a esquerda lhe devotava. É oportuno registrar que, passados os melhores tempos de sua vida em Paris, no meio do mais efervescente vanguardismo – de 1922 a 1932 e de 1947 a 1957, além do período de 1960 a 1964 – teve a sua obra reconhecida e projetada na capital francesa, participando de importantes exposições. No Brasil, ocupou posição de realce no movimento modernista, tendo apresentando dez quadros na Semana de Arte Moderna. Na ocasião, Graça Aranha afirmou: “a remodelação da Estética no Brasil é iniciada na música de Villa Lobos, na escultura de Brecheret e na pintura de Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Vicente do Rego Monteiro”. Em 1930, Rego Monteiro trouxe a Escola de Paris com vários de seus integrantes para expor trabalhos em Recife, São Paulo e Rio. Picasso estava entre os expositores e os dois tinham convivência na Europa. A exposição foi um fracasso nas três cidades porque o modernismo só seria aceito no Brasil a partir de 1950, mas é possível que parte daquele malogro se deva ao nome Rego Monteiro envolvido na promoção. Seis anos depois, ele insistia na sua autodestrutividade e chamava os trabalhos do artista espanhol de “oportunista, especulativo, anárquico e de esquerda”, provocando novas inimizades e rompendo com parte dos cubistas parisienses. Em 1963, Vicente foi recusado para expor na Bienal de São Paulo, aos 64 anos de idade, quando era artista mais do que consagrado, além de haver participado, desde os 14 anos, do célebre Salon des Indépendants, da Semana de Arte Moderna de 1922 e tinha curriculum tão importante que incluía quadros adquiridos pelo Museu Jeu de Paume de Paris, hoje expostos no Centro Georges Pompidou. A recusa comprova que o pernambucano não aprendia com o passado, insistia numa escola ideológica ultrapassada e, por isso, não mudava o seu futuro no Brasil. São esses os motivos de sua ausência na lista dos artistas escolhidos para o Prêmio de Viagem ao Exterior, garantido pelo Salão Nacional. Qualidade nunca lhe faltou para recebê-lo. Vicente ganhou, ao longo de sua vida, apenas dois prêmios estaduais de pintura em concursos secundários. Morto em 1970, é hora de esquecermos a sua ideologia e louvá-lo naquilo que teve de melhor: pintor e poeta. Como pintor Vicente começa cedo, incentivado pela mãe e trilhando o caminho natural dos talentosos: o aprendizado da técnica do desenho aprimorado, a simplicidade do traço até chegar na segurança de, com três ou quatro linhas, sugerir uma figura humana; pintura de retratos, paisagens, naturezas-mortas e abstratos. É possível que Rego Monteiro seja o mais original dos pintores brasileiros, cujo ingresso definitivo na pintura ocorre em 1922, aos vinte e três anos de idade. Nessa ocasião, assimila o cubismo e o adiciona ao barroco colonial, representado pela quase permanente simetria de suas composições, resultando numa extraordinária forma, surgida através dos matizes inspirados na arte indígena e na cerâmica marajoara. Todo este conjunto de detalhes formou o belo, estranho e misterioso escorço nas composições equilibradas, provocador de imediata paixão pictórica, um presente para as retinas. Sua técnica apuradíssima resultava também em trabalhos imaculados, tão marcante era a sua limpeza. Mas não é somente a forma que encanta o espectador. Com freqüência seus quadros representam temas religiosos, e apenas Raimundo de Oliveira ganha dele neste conteúdo: são cenas bíblicas, crucificações, via sacra, santa ceia, animais e muitas figuras humanas. Surpreendentemente para um monarquista, há uma preocupação social quando pinta operários, vaqueiros e pessoas em trabalhos duros e humildes, calceteiros, cambiteiros, carroceiros ou aguardenteiros. Em lúcida síntese, Flávio de Aquino escreveu que “Vicente do Rego Monteiro criou um estilo inconfundível e coerente, partindo de três influências principais: a arte indígena de Marajó, a art déco e o cubismo estilizado, com certa semelhança ao de Léger”. Vale dizer, sua arte soube conciliar a plasticidade, a harmonia e o lirismo da forma, adquiridos pela experiência francesa com o ritmo inspirado na primitiva decoração indígena, que ele tão profundamente estudou. Na década de 1960, seu atelier foi invadido por extremistas em Brasília e, com dificuldades financeiras, pinta e expõe a sua confissão autobiográfica na tela “Solidão”, sentimento ou estado de quem havia percorrido um caminho brilhante e se sentia isolado frente a um país cujos compatriotas ainda o desvalorizavam. Suas poesias foram escritas na maturidade da vida e lhe serviram como um temporário descanso da pintura, tornando-se um refúgio intelectual do artista. Ganhou os prêmios de poesia “Mandat des Poètes”, em 1955 e o "Guillaume Apollinaire”, em 1960, ambos na França, país que nunca lhe perguntou pelas suas preferências políticas. A análise delas pode ser comprovada no belo livro Vicente do Rego Monteiro, um brasileiro da França (Editora Mackenzie, 2004) no qual a escritora paulista Maria Luiza Guarnieri Atik expõe com delicadeza e sensibilidade a beleza de seus versos. Mas não foram essas suas únicas atividades. Vicente foi figurinista, jornalista, diagramador, costureiro, mecânico e piloto de corridas automobilísticas, dançarino, editor, tipógrafo, fazendeiro e tradutor. Foi casado com francesa e teve mansão em Montparnasse, mas quando morou em Recife, durante a Segunda Guerra Mundial, negligenciou as leis do país que o adotara e não pagou os impostos da bela residência, obrigação cumprida pelo inquilino parisiense. Terminada a guerra, este reivindicou e conseguiu na justiça a posse da propriedade, pagando uma ninharia como indenização para o casal. Artistas, poetas, escritores ou intelectuais talentosos de direita sempre foram incômodos porque sabemos que o que é bom fica e, respaldo pelo radicalismo político que um dia termina, chega o momento em que a inevitável pergunta, contida no título do livro de Affonso Romano de Sant´Anna sobre o poeta e também direitista, é feita: O que fazer com Erza Pound? Parafraseando o poeta mineiro, o que fazer com Rego Monteiro? No caso do pernambucano é a hora em que ante tanta misteriosa beleza e originalidade de suas obras a resposta é: garantir-lhe a imortalidade. Carlos Perktold (Brasil, 1943). Ensaísta e crítico de arte. Autor de Ensaios de pintura e de psicanálise (2003). Integra o Círculo Psicanalítico de Minas Gerais e as Associações Brasileira e Internacional de Críticos de Arte (ABCA e AICA). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Vicente do Rego Monteiro (Brasil). revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 livros da agulha 1. A idade da escrita e outros poemas, de Ana Hatherly [organização e prefácio a cargo de Floriano Martins]. Escrituras Editora. São Paulo. 2005. Contato: [email protected]. "A obra de Ana Hatherly", explica Floriano Martins, "mostra que sua voragem investigativa define-se pela criação de entidades e que não busca senão a visceralidade da escrita". A poeta defende que sua obra pretende mostrar o grafismo da escrita ocidental, posta em confronto com a escrita oriental e que, para mostrar as suas modulações, teve de a tornar ilegível. Como ela mesma a define, "A Idade da escrita é a minha idade, mas também é a idade da escrita no sentido de, como se diz, a Idade da Pedra, a Idade do Bronze: corresponde a uma era, a um eon, mas também a um sentimento do fim de uma era". Doutorada em Literaturas Hispânicas na Universidade da Califórnia, em Berkeley (Porto, 1929), catedrática da Universidade Nova de Lisboa e especialista do barroco, Ana Hatherly - que lançou recentemente O Pavão Negro (Assírio & Alvim) e Itinerários (Quasi) –, investiga, há mais de 40 anos, o conceito de escrita, nas suas diversas formas: é poeta, pintora, ficcionista, realizadora, ensaísta, integrando-se na corrente experimentalista dos anos 60. Abriu-se, todavia, a outros caminhos. O Mestre (1963), Eros Frenético (1968), Anagramático (1970), Tisanas (1977), são obras únicas da literatura portuguesa, bem como é singular a sua exploração da visualidade do texto.” [da entrevista cedida a Ana Marques Gastão, constante na antologia]. 2. Homenagem à realidade, de Cruzeiro Seixas [organização e prefácio a cargo de Floriano Martins]. Escrituras Editora. São Paulo. 2005. Contato: [email protected]. "A obra de Cruzeiro Seixas", explica Floriano Martins no prefácio desta edição, "está ligada intrinsecamente ao Surrealismo, a esta 'vida de imaginação', a este 'certo poder de repulsa e de obstinação'. Trata-se de uma poética de provocação de si mesma, de desafiar-se ao chafurdar no lodaçal da própria existência, desafiar-se a mostrar onde se ocultam o mistério e o erotismo que anunciam as imagens que saltam magicamente de seus versos". Nas palavras do poeta Cruzeiro Seixas: "Sei que sou uma figura que fica no limiar das coisas. Para lhes não quebrar o encanto! Conheço os meus limites; este limiar é a minha mais longa viagem. E pergunto: haverá algo para além do limiar das coisas? […] Nunca chamei sobre mim outro peso de responsabilidade que não este, de me reconhecer como um erro, o que já não é pouco para as minhas forças. Erros meus, mas erros que são a minha própria obra. Homenagem à realidade traz, ainda, cartas de Cruzeiro Seixas a Floriano Martins. Cruzeiro Seixas nasceu em 1920, em Portugal. Pintor respeitado na Europa, predominantemente surrealista, viajou por vários anos pelo continente africano, chegando a morar em Angola, onde escreve seus primeiros poemas, em 1952. Promoveu exposições na Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, México e Portugal. Em 1999, doa a totalidade da sua coleção à Fundação Cupertino de Miranda – Centro de Estudos do Surrealismo. Colabora nas revistas surrealistas Brumes Blondes (Holanda), La Tortue-Lièvre (Canadá), Derrame (Chile) e nas francesas Infosurr, Phases e Ellebore. 3. Os passos em volta, de Herberto Helder. Azougue Editorial. São Paulo. 2005. Herberto Helder, considerado um dos maiores poetas portugueses deste século, chega ao Brasil com um dos seus mais singulares trabalhos. Neste mês, a Azougue Editorial lança Os passos em volta, considerado um clássico da literatura portuguesa contemporânea. A obra é uma reunião de pequenas narrativas, muitas delas numa linguagem que se aproxima da prosa poética. Os contos refletem a busca do autor por um olhar em relação ao mundo, o que torna o livro mais pessoal do que autobiográfico. No ano de seu lançamento em Portugal, 1963, a obra foi imediatamente vista como transgressora. Situada na tênue linha entre prosa e poesia, a primeira tentativa como contista permanece, até hoje, como um caso único na literatura portuguesa. Sua técnica narrativa e linguagem ainda são consideradas vanguardistas. A transgressão da gramática e o aparente fluxo de pensamentos ou a livre associação de idéias são, na verdade, fruto de um trabalho consciente de um dos maiores artesãos da língua portuguesa. A evidente influência surrealista é bagagem da ligação, embora efêmera, de Helder com o grupo do Café Gelo, na Lisboa de 1950, do qual também faziam parte escritores como Mário Cesariny e Luiz Pacheco. A tentativa de desconstrução da realidade pode ser encontrada em diversos textos de Os passos em volta. Em Teoria das cores, o autor relata a experiência de um pintor que, ao tentar reproduzir as cores de um peixe na tela, percebe que o animal está sofrendo uma mutação: “o problema do artista era que, obrigado a interromper o quadro onde estava a chegar o vermelho do peixe, não sabia que fazer da cor preta que ele agora lhe ensinava”. Assim como o pintor do conto, Helder prefere transcrever a sua realidade, sob o seu ponto de vista, ao invés de tentar entender um mundo em constante processo de mutação. Nascido em 23 de novembro de 1930, Herberto Helder Luís Bernardes de Oliveira é natural da Ilha da Madeira. Aos 15 anos, foi estudar em Lisboa, onde vive atualmente. Não é tarefa muito fácil se destacar na terra de Fernando Pessoa e José Saramago. Mas, Herberto Helder tem seu talento reconhecido e, agora, também pode ser comprovado pelos brasileiros. Ele é possivelmente o mais original e importante poeta vivo de Portugal, tendo estreado com o livro A colher na boca, em 1958. Mais recentemente, em 1994, publicou Do mundo, obra pela qual recebeu o Prêmio Pessoa. Entretanto, devido ao seu comportamento recluso, preferiu não receber a homenagem. Além disso, também recusou uma premiação do Pen-club de Portugal, em 1982, pelo livro "A cabeça entre as mãos" e, em 2000, foi poeta-homenageado no Salon du Livre da França, mas também não compareceu. Pelo estilo de vida discreto e pela intensidade de sua obra, Herberto Helder é considerado por muitos críticos o “poeta mítico” da atualidade portuguesa. 4. Ensaios escolhidos & Poesia reunida, de Ivan Junqueira. 3 volumes. A Girafa Editora. São Paulo. 2005. A poesia de Ivan Junqueira aparece neste livro reunida não de forma integral, mas sim como coletânea que resgata muito do que ficou de fora de edições anteriores, além de poemas inéditos de sua produção recente. É o próprio autor quem garante, para alegria dos amantes da poesia, que sua produção permanece incompleta, visto que ele pretende continuar a criar seus poemas e produzi-los até que seja possível. Não bastassem a excelência poética e a ótima notícia do autor, Poesia reunida ainda contempla o leitor com uma importante Fortuna crítica sobre Junqueira, com mais de trinta textos assinados por Tite de Lemos, Antonio Carlos Secchin, Wilson Martins, Dinah Silveira de Queiroz, entre outros importantes nomes da literatura e da crítica nacionais. O livro se completa com uma ampla e útil bibliografia do autor, revelando-se assim uma obra de referência para todos aqueles que buscam no poeta, ensaísta, crítico e tradutor os caminhos para a vivência daquilo que ele considera a mais difícil, complexa e misteriosa manifestação do espírito humano: a poesia. Ivan Junqueira é enfático ao dizer que seu ensaísmo, produzido desde a década de 1960, em nada tem a ver com "a crítica literária de um teórico e, muito menos, de um scholar, e sim de um poeta que pretendeu decifrar outros poetas". É assim que, de certa forma, ele retoma uma tradição da crítica brasileira de autores que partem da sua própria produção para penetrar o difícil, complexo e misterioso mundo da poesia. Essa sua liberdade diante da literatura o ampara no ofício de crítico e o liberta de toda doutrina determinante de uma escola ou tendência estética em voga, autorizando-o a mergulhar com propriedade na produção poética de grandes autores, tendo somente estes como seus mestres no aprendizado da literatura. Os estudos que compõem Ensaios escolhidos: De poesia e poetas, além de alguns textos de sua produção mais recente e outros reelaborados para melhor apreensão dos autores e suas obras, apresentam parte significativa da produção crítica de Ivan Junqueira, tendo como alvo a poesia tanto de autores de língua portuguesa como estrangeira, com destaque para seus memoráveis ensaios sobre a poética de Baudelaire e Manuel Bandeira. O mesmo olhar fino e arguto lançado por Ivan Junqueira para a poesia é neste livro redirecionado para o mundo sem horizontes limitantes da prosa de ficção. E é com o mesmo cuidado e carinho aprendidos dos mestres poetas que o crítico desvenda ao leitor particularidades dessa prosa infinita que recria pela linguagem o mundo e suas histórias e verdades. O convívio amoroso do crítico com a prosa de ficção vem revelar particularidades de consagrados autores nacionais e estrangeiros, criando um saboroso roteiro de viagem pela ternura de Aníbal Machado, pela alegoria e pelo memorialismo de Per Johns sem falar no inconfundível e mal-disfarçado romantismo de Stendhal. Em Ensaios escolhidos: Da prosa de ficção, do ensaísmo e da crítica literária, o autor apresenta uma leitura que perscruta com propriedade e refinamento a produção ensaística de consagrados nomes da crítica literária nacional e internacional, como Eliot, Franklin de Oliveira, José Veríssimo e Davi Arriguci Jr. 5. Vocales de ceniza, de José Francisco Ortiz. Venezuela. 2005. Dos textos, un mismo ciclo. Vías paralelas, la cotidianidad y su vuelta de mirada para encontrar la memoria urbana, el tránsito real y sostenido del mundo visible, su representación, y, luego, el mito con sus vértigos, lo cual supone a un “iluso y sospechoso de herejía de los iluminados”, apostilla que nos hemos ganado los poetas, grabada por la Inquisición a nuestro San Juan de la Cruz Es todo cuanto como autor puedo señalar. Fatalmente, la escritura sigue siendo un estado problemático de la lengua: es un asunto dialógico. Y toda explicación unilateral borra las proximidades y las anula. El lector, incluso el lector desprevenido, que se acerca a las palabras, es marcado por ellas instantáneamente, él no lo sabe; no comprende por qué aparecen visitas inopinadas en sus sueños. Vuelve en las mañanas a ver las cosas como la naturaleza las ha ofrecido siempre, sin desgaste, enseñoreándose sobre la perspectiva, y, sin embargo, su mirada ya no es la misma, y la vida comienza a dar volteretas entre recuerdos difusos. Este es su primer y definitivo encuentro con la poesía. Sin embargo, quisiera alentar (como hacemos los amigos con la confianza que nos dan las circunstancias, aquella ante la cuales nos prevenía Horacio: “Mientras hablamos habrá huido, envidioso, el tiempo. Goza el hoy; mínimamente fiable es el mañana”) desde las pocas convicciones con las cuales nos saluda el siglo XXI, el fervor por la vida, ante los espejos negros de la noche, un punto de luz será suficiente para un nuevo amanecer. Leucónoe pudo haber vivido la expectación del Carpe Diem. No estamos seguros, como tampoco nosotros de haberlo cumplido en estas seis décadas de existencia. Séneca marcó con gran estilo la inconveniencia de esperar una avanzada edad para comenzar el disfrute de la vida. En fin, ante una existencia noblemente transitada, las gorduras y vinos de una vida placentera no la encorvan ni la arredran. Estos poemas que hoy compartimos necesitan, por lo menos, informar su mensura, no sus razones que no las tienen. Vocales de ceniza son acopios citadinos de conversas con variada gente con la cual me he topado en los caminos. Son frases sueltas, epítetos, silencios que han venido acechándome; incluso, sonidos imprevistos, olores, intuiciones que no han querido mudarse y persisten como signos lacrados en la memoria, y, aunque parezca ingenuo por el lugar común de escuchar a los pájaros, debo confesar que me agradan sus conversas. Puedo creer que nuestras cuerdas vocales, tuvieron sus primeros maestros en esos seres alados y, por qué no decirlo, tantos libros que se han quedado conmigo a lo largo de los años, impertérritos, ajenos a las veleidades y al acoso de los días, siempre como un bálsamo fluyente cubriéndome con amorosa constancia. La canción de Pirra es una imagen muy lejana, que a ratos desde su opacidad emite destellos para no dejarse acallar por la razón. La mitología nos dice que los dioses decidieron exterminar a los hombres por causa de sus irremediables conductas disolutas y heréticas, costumbres sólo reservadas a los dioses. Eso ocurrió en la edad de bronce. Un diluvio (parecido al de Noé) limpió a la tierra. Sólo se salvaron Deucalión y Pirra, gracias a la expedita atención de Epimeteo, padre de aquel, y a la inteligencia de Pirra que pidió a Deucalión ofrecer un sacrificio a los dioses. Agradó tanto a Zeus esta ofrenda que les permitió vivir y formar una nueva humanidad. Tomarían piedras de los caminos para lanzarlas sobre sus hombros hacia atrás. Las piedras que lanzaba Pirra, se convertían en mujeres, las de Deucalión, en hombres. ¿Qué queda de esos griegos, en el alma de los hombres y mujeres de nuestro tiempo? Se dice, no sin cierta verdad proporcional a su locura, que los poetas (incluso los más prosaicos) tienden a cifrar sus versos, en una especie de criptografía ineluctable para ellos mismos; pues bien, la certeza nos lleva a un sentido inverso: los poetas no cifran, se descifran. Y como toda traducción es una traición; incluso la que proviene de las imágenes, sufre de la precariedad connatural a lo humano, ser huidiza y azarosa. El mundo, los mundos posibles contestamos, sólo acaece en la intuición del lector. Si esto fuera así, en los presentes textos, agradecería a Horacio su arte poética, y al lector, por supuesto, el haberme hecho destinatario de sus voces. [José Francisco Ortiz] 6. Contra el ensimismamiento (partituras), de Magdalena Chocano. Barcelona. 2005. Estamos ante una nueva publicación de Magdalena Chocano, poeta limeña residente en Barcelona desde hace ya algunos años, y una de las voces, desde la aparición en Lima de Poesía a ciencia incierta en 1983, más interesantes y sólidas de la nueva poesía peruana. Magdalena Chocano representa un caso muy frecuente en la poesía latinoamericana desde comienzos del s. XX, es decir, encarna la figura del poeta que nace y se forma en un lugar y vive y se nutre en otro, lejano, y ese puente que persona y obra tienden entre diferentes tradiciones y sensibilidades, esa manera envidiable de incorporación y acercamiento, tiene como resultado en este caso una mirada rica, transgresora, atrevida y hasta me atrevería a decir que limpia y nueva sobre a la hora de buscar una vía personal de expresión. Quizá sea ésta una de las razones por las que la poesía latinoamericana contemporánea encierre tantas miradas diferentes, tantos poetas responsables de una visión no compartida, única, alejada de tendencias, aunque deudoras, en la mejor forma, de las tradiciones que les preceden. Todo esto lo expongo pues a mi parecer la poeta aquí mencionada recoge en su corta e intensa obra lo mejor de esa ya clásica situación. Chocano es una poeta solitaria, su obra, bebiendo en sus orígenes de la poesía francesa desde el XIX hasta las vanguardias y de la norteamericana e inglesa, se une de manera espléndida a una larga lista de excelentes primeras figuras peruanas que hacen de ese país una reserva de la mejor creación actual. No hay más que adentrarse en el rico panorama peruano para encontrar poetas excelentes, poetas que si se mira, no comparten apenas presupuestos, si no es la excelencia en su trabajo. "Contra el ensimismamiento" ya desde su título apuesta por una poesía depurada, que va al centro de la emoción mediante una severa depuración de toda facilidad. La poeta investiga por el camino difícil, el más desolador, el menos complaciente, a veces permitiendo que el ensimismamiento haga su efecto descubridor, y se nota que cuando nos acercamos a momentos en que la palabra o el concepto se adentran por la senda sublime, de inmediato la línea se tuerce, buscando siempre el alejamiento, el retiro, la enorme distancia que exige el placer como verdadero arte, sentido, vida vivida. Esta atención suprema, esa tensión nerviosa, diría, produce la rara certeza de estar ante la obra de un creador auténtico. Todo responde a una verdad necesaria, nada sobra, nada falta, y el poema encierra la emoción pequeña de las grandes ocasiones. Esta atmósfera arqueológica casi, atemporal, detenida, donde se inserta el pensamiento como un arañazo del ser, como un accidente liviano, y que a la vez separa a cada ser de su semejante. Esta atmósfera visionaria se va expresando siempre por los límites del lenguaje, llevando el sentido y el poder de nombramiento hasta los extremos hasta poderse comparar con el poder de la profecía. El lenguaje crea y descubre lo oculto dentro de nuestro espíritu, saca a la luz lo que queda bajo el peso de lo cotidiano, el peso de los actos y el fondo del pensamiento racional para sacar a la luz lo que brilla como esquirlas, como una brasa, y que es el verdadero secreto del gozo, lo sorprendente, que se nos revela. Magdalena Chocano, cuando escribe: "cuerpo / ceniza mía ya acaecida / y mientras tanto / el alfabeto solemne como un río desbordándose hacia el crepúsculo" se adelanta a los acontecimientos, nos hace sentir el poder liberador de la palabra, por lo tanto, hurga y se trata con los misterios destellantes de la poesía. [Rodolfo Häsler] 7. Elegias Urbanas, de Marco Vasques. Santa Catarina. 2005. As Elegias Urbanas de Marco Vasques buscam recuperar contemporaneamente um lirismo hoje ausente, que é próprio dessa forma poética, marcada pelo tom de lamento triste, e que foi muito explorada no Brasil no pós Segunda Guerra Mundial, principalmente por poetas como Cecília Meireles e Murilo Mendes, inspirados na repercussão fabulosa obtida por Rilke com sua obra poética e principalmente com as Elegias de Duíno. O tom apocalíptico característico nesses poetas ainda ecoa de forma sutil nestas Elegias Urbanas, assim como uma bomba atômica, envergonhada, é certo; porém o que mais resplandece nelas, e é esse seu maior acerto, é o registro desencantado mas ao mesmo onírico e surreal da vivência urbana contemporânea. Ressalta uma das elegias que “o perfume da última bomba atômica/ cometeu suicídio por sentir vergonha”, notícia que deveria ser comemorada não fosse a anestesia absurda e nauseabunda que se pressente e expressa na alteridade dessa voz poética. É nela que se constata que o sentimento apocalíptico subsiste de forma pulverizada em todos os humanos, “carregando armas/ nos portamalas// e a bagagem que nos sobra/ são metais agudo asfalto/ faixas prédios advertências/ placas ossos vozes e verbos/ que ressoam no ouvido”. Nas elegias de Vasques evidencia-se que o potencial de destruição do humano se miniaturizou e se pulverizou, resultando num sujeito cindido e agônico que busca uma univocidade, constatada possível somente através da linguagem. Solidão, miséria, vazio, falta de sentido para a vida, o amor controlado pela assepsia dos laboratórios e a sombra do suicídio rescendem dos poemas denotando o que é contemporaneamente a existência urbana nas grandes cidades. A vida urbana, em sua rotina, padece amputada de experiências e de ritos que lhe dêem sentido, situação que causa anestesiamento e o espanto de se descobrir “ainda a respirar”, após apalpar-se a face no espelho e auscultar-se num estetoscópio. Em lugar do homem o que há é um espantalho oco e as Elegias Urbanas de Marco Vasques, em sua vitalizante negatividade, vão contra a barbárie e assinalam a única positividade possível à arte, epigrafada por Maiakóvski num dos seus poemas: “Que a terra gema em sua mole indolência:/ Não viole o verde das minhas primaveras/ Mostrando os dentes, rirei ao sol com insolência:/ No asfalto liso hei de rolar as rimas veras!” Nesse cenário, portanto, essas elegias são uma afirmação de uma experiência sensível, recuperada na poesia, a se colocar contra o estado de coisas que submete o humano à coisificação e à numeração desde sempre rotineiras. Plangentes, essas elegias expõem a finitude como uma onipresença desanestesiante – “o cemitério é aqui e ali/ na estrada rua casa/ retrato na parede foto/ lembrança objeto guardado/ beijo abraço noite de sexo” - e foram escritas para lembrar que a vida está ao alcance da mão de cada um, à flor da pele. [Ademir Demarchi] 8. Panorama de la literatura brasileña [org. Carlos Gazzera]. Ediciones Recovecos. 2005. Hasta no hace mucho tiempo atrás, la informa-ción referida a la literatura brasilera era tan escasa y restringida en nuestro medio, que cualquier estudio que quisiera realizarse sobre ella debía partir de dos premi-sas fundamentales: la primera, la de luchar contra esa visión folclórica e inexacta que solemos tener en argentina de ese país: Brasil, el país del “carnaval” y la dolce vitta. La otra --más ideológica, quizá--, la que se nos machacó en los años de la dictadura con autores propios de color local y el típico tropicalismo del Boom latinoamericano: de José Mauro de Vasconcelos a Jorge Amado. Sin duda, en estas miradas se infiere la reductora visión de "turista" que suele traer el argentino de las playas de aquél país. Brasil es un cosmografía cuya diversidad, complejidad y densidad disuelven cualquier intento de acercamiento rápido. Por eso, nuestro recorrido a modo de un verdadero panorama sobre la literatura de Brasil intenta sobreponerse a la mirada turística, somera, despojada de todo rigor. ¿Cómo abordar lo inconmensurable? ¿Sobre qué poeta, sobre qué narrador, sobre qué autor fijar la mirada? ¿Sobre los más canónicos, o los desconocidos? ¿Quién, quiénes son canónicos en Argentina? ¿Quién quienes son desconocidos? Cualquiera fueran las respuestas a estos interrogantes, al realizar este panorama enfrentamos el riesgo de dar respuestas inapropiadas, incompletas. La impropiedad radica en no ver que en un panorama de este tipo no se puede abarcarlo todo. En función de estas premisas generales, y de sus implicancias particulares, decidimos que era necesario que este panorama fuera el resultado de un cruce entre la mirada de especialistas académicos y periodistas, donde el ensayo y el reportaje se conjugan para presentar autores, voces y obras de una literatura, tan extensa como la vastedad de su territorio. Sin embargo, allí no termina nuestro proceso de mestizaje: también hemos intentado conjugar las voces de aquí y de allá. En este panorama participan académicos y periodistas brasileros, pero también académicos, traductores y periodistas de nuestro país. Es un intento de hacer dialogar del lado de allá y del lado de acá, las voces de la gente que hace, piensa y siente la literatura. Este primer Panorama de la Colección Literaturas de Ediciones Recovecos dedicado a una literatura de Latinoamérica no vería hoy la luz sino se hubieran involucrado amigos de Argentina y de Brasil, sino hubiera surgido de ambas márgenes una genuina generosidad y una tenaz paciencia hasta su edición. Estoy seguro que como todo trabajo en el campo de la difusión este panorama tiene ausencias y faltas, pero creo que fue hecho con la intención de difundir, de dar a conocer al un público lector de del interior del país no sólo las voces de la literatura contemporánea sino su trazo histórico, su tradición, sus herencias. Como lo podrán apreciar, no hemos puesto ni una sola línea de Rubem Fonseca, uno de los autores más populares del Brasil, galardonado el año pasado con el Premio Rómulo Gallegos y reconocido en todo el mundo como uno de los escritores más interesantes de la literatura brasilera contemporánea. Tampoco hay, una sola línea sobre quien fuera uno de los poetas más importantes de los últimos 30 años, Haroldo de Campos, muerto menos de un año atrás. Ellos no necesitaban –estamos convencidos-- de nuestro espacio; nuestras páginas no le agregan ni le quitan nada a sus excepcionales obras. En contra partida sí, –creemos--, nuestro panorama le lleva a nuestros lectores una amplia información sobre esa maravillosa literatura brasilera que es algo más que una inmensa estepa verdeamarela. [Carlos Gazzera] 9. Croquis de Pagu e outros momentos felizes que foram devorados reunidos, de Lúcia Maria Teixeira Furlani. Editora Cortez/ Editora Unisanta. São Paulo. 2004. A professora Lúcia Maria Teixeira Furlani é, hoje, a maior especialista na obra e na vida de Patrícia Galvão (1910-1962), a Pagu, musa do Movimento Antropofágico, que foi casada com Oswald de Andrade (1890-1954) e Geraldo Ferraz (1905-1979). Depois de lançar em 1999 Pagu – Patrícia Galvão: livre na imaginação, no espaço e no tempo (São Paulo, Editora Unisanta), que já está em quinta edição, publicou em 2004 Croquis de Pagu e outros momentos felizes que foram devorados reunidos (São Paulo, Editora Cortez/Editora da Unisanta) em que organizou desenhos produzidos pela artista entre 1929 e 1930. Além disso, desde 18 de maio, por iniciativa da autora, está no ar o site www.pagu.com.br que reúne artigos, poemas, dados biográficos, trechos de livros e muitas fotografias de Pagu. Também foi lançado nesse dia, na Universidade Santa Cecília (Unisanta), em Santos, o Centro de Estudos Pagu que tem por objetivo resgatar a memória de Patrícia Galvão, além de preservar e difundir a cultura brasileira. Organizado por Lúcia Teixeira com a colaboração de Rudá de Andrade, filho de Pagu com Oswald de Andrade, e da jornalista Leda Rita Cintra Ferraz, Croquis de Pagu tem prefácio do jornalista e crítico de livros e cinema Geraldo Galvão Ferraz, filho da homenageada com Geraldo Ferraz. No prefácio, Galvão Ferraz diz que a mãe foi “trágica sobretudo, mas foi engraçada, palhaça até”. E lembra que ela foi, também, “militante, intelectual, feminista, filha, mãe, mulher, amante, amiga, inimiga, política, romântica, doce, pimenta, gimtônica com limão, flor e espinho, irreverente, desbocada, lírica e expressiva”. Já para a organizadora, Patrícia Galvão, sem fazer carreira artística, foi “uma personalidade rara, rebelde e inovadora na vida, na arte e na cultura, em todos estes domínios: jornalismo, poesia, romance, desenho, crítica de artes, política militante, dissidência política”. O livro reúne 22 desenhos do Caderno de Croquis de Pagu, a maioria dos quais possui legendas do próprio punho da artista. Traz também o Álbum de Pagu, produção pertencente ao mesmo período do Caderno, quando ela emergiu no Modernismo, mais precisamente na Antropofagia, sob a influência de Oswald e da pintora Tarsila do Amaral. O movimento da Antropofagia, alegoricamente, baseavase no exemplo dos índios caetés que devoraram o padre português Pero Fernandes Sardinha, primeiro bispo do Brasil, no litoral de Alagoas em 1556, depois de um naufrágio, para argumentar que o intelectual brasileiro deveria, primeiro, digerir as idéias européias para, depois, produzir suas próprias criações. Seu veículo de expressão foi a Revista da Antropofagia, de 1929. Os desenhos do Caderno de Croquis de Pagu, um tanto ingênuos, ficaram guardados por 75 anos com o filho de Patrícia Galvão, Rudá de Andrade que, em 2001, dirigiu com Marcelo Tassara um documentário baseado no livro Pagu — livre na imaginação, no espaço e no tempo, de Lúcia Teixeira, e, por isso, com o mesmo título. Já os desenhos do Álbum de Pagu haviam sido publicados por Augusto de Campos em Pagu: vida-obra (São Paulo, Brasiliense, 1982). Patrícia Rehder Galvão, nascida em São João da Boa Vista, interior do Estado de São Paulo, foi jornalista, escritora, animadora cultural e militante política. Como jornalista, trabalhou no Diário da Noite, A Fanfulla, Diário de S.Paulo, Correio da Manhã, A Tribuna, de Santos, e Agência France Presse, em São Paulo. Publicou os romances Parque Industrial (edição da autora, 1933), sob o pseudônimo Mara Lobo, considerado o primeiro romance proletário brasileiro, e A Famosa Revista (Americ-Edit, 1945), em colaboração com Geraldo Ferraz. Parque Industrial foi publicado nos Estados Unidos em tradução de Kenneth David Jackson em 1994 pela Editora da University of Nebraska Press. Seus contos policiais, escritos sob o pseudônimo King Shelter e publicados originalmente na revista Detective, dirigida pelo dramaturgo Nelson Rodrigues (1912-1980), foram reunidos em Safra Macabra (Livraria José Olympio Editora, 1998). Em 1950, candidata a deputada estadual pelo Partido Socialista Brasileiro, sem ter sido eleita, publicou em edição própria Verdade & Liberdade, panfleto de propaganda política em que denuncia os totalitarismos comunista e fascista, defendendo um socialismo democrático. Como animadora cultural, revelou e traduziu grandes autores até então inéditos no Brasil como James Joyce, Eugène Ionesco, Arrabal e Octavio Paz. Teve um trabalho marcante como incentivadora do teatro amador, especialmente em Santos. Finalmente, como ativista política e membro do Partido Comunista Brasileiro, combateu a ditadura de Getúlio Vargas, o que lhe valeu 23 prisões. Depois, deu a volta ao mundo, sozinha, como correspondente de jornais. De passagem pela China, obteve as primeiras sementes de soja que foram introduzidas no Brasil. Ao visitar Moscou, desiludiu-se com o comunismo soviético, rompeu com o PCB, passando a defender um socialismo de linha trotskista. Lúcia Teixeira reproduz em seu livro um trecho do panfleto Verdade & Liberdade em que Pagu diz: “(...) Dos vinte aos trinta anos, eu tinha obedecido às ordens do Partido. Assinara declarações que haviam entregue, para assinar sem ler (...). Mas, não haviam conseguido destruir a personalidade que transitoriamente submeteram. E o ideal ruiu, na Rússia, diante da infância miserável das sarjetas, os pés descalços e os olhos agudos de fome. Em Moscou, um grande hotel de luxo para os altos burocratas. Na rua, as crianças mortas de fome: era o regime comunista...” O apelido Pagu foi-lhe dado pelo poeta modernista Raul Bopp (1898-1984), autor de Cobra Norato, que imaginou que seu nome fosse Patrícia Goulart. Mas ela mesmo inventou muitos pseudônimos para si, como Zazá, Gim, Solange Sohl, Mara Lobo, Pat, Pit e Leonie. O cinema brasileiro já homenageou Pagu várias vezes: além do documentário de Rudá de Andrade, há o filme Eternamente Pagu, dirigido por Norma Benguell, no qual ela foi interpretada por Carla Camurati. Patrícia Galvão aparece também no filme O Homem do Pau Brasil, de Joaquim Pedro de Andrade, e foi tema do documentário Eh, Pagu!, Eh!, de Ivo Branco. Lúcia Teixeira lembra ainda que os anos de prisão, tortura e perseguição deixaram muitas marcas em Pagu, o que a levou a tentar o suicídio duas vezes — a primeira, em 1949, quando deu um tiro na cabeça, na casa do artista Flávio de Carvalho, em São Paulo; e a segunda, em setembro de 1962, quando, diagnosticada com câncer nos pulmões, foi a Paris submeter-se à cirurgia no Hospital Laennec. Com o fracasso da operação, “ao antever o sofrimento e a morte iminentes, atira no próprio peito”, escreve a autora. “Mais uma vez sobrevive”. Retornou, então, para Santos, onde morre em dezembro. Doutora e mestre em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), de São Paulo, Lúcia Maria Teixeira Furlani é diretora-presidente do Instituto Superior de Educação Santa Cecília, que mantém a Universidade Santa Cecília. Publicou também A claridade da noite — os alunos do ensino superior particular noturno (Cortez, 2001), Autoridade do professor: meta, mito ou nada disso? (Cortez, 2004) e Fruto proibido — um olhar sobre a mulher (Pioneira/Unisanta, 1992). Ainda dentro de um espontâneo processo de redescoberta de Pagu, a Ediouro, do Rio de Janeiro, acaba de lançar Paixão Pagu — uma autobiografia precoce de Patrícia Galvão, texto autobiográfico e originalmente uma carta escrita pela autora ao marido Geraldo Ferraz em fins de 1940. Pagu fala de suas relações com pais e irmãos, de seu casamento com Oswald de Andrade, de sua militância política e de seus encontros com Luís Carlos Prestes, Jorge Luís Borges, Eduardo Mallea, Raul Bopp, Guilherme de Almeida e outros. O volume traz ainda textos de Rudá de Andrade, Geraldo Galvão Ferraz, Kenneth David Jackson, cronologia e fotos. [Adelto Gonçalves] 10. Con el ala alta, de Patricia Guzmán. Editorial El otro El mismo. Venezuela. 2004. ¿Cómo explicarnos la poesía de Patricia Guzmán? ¿Cómo aproximarnos a este lenguaje cuya sensibilidad nos señala la agonía y la luz que nos alcanza hasta ir sacudiendo lo más recóndito de nuestro ser? ¿Cómo buscar una explicación racional a las cosas del espíritu? No de la carne, ni del cuerpo que queda en sombría espera, sino del espíritu que se resiste abrazado a un cielo más alto y luminoso como en aquellos versos del [dulce] San Juan de la Cruz: “Quedéme y olvidéme, / el rostro recliné sobre el amado, / cesó todo, y dejéme, / dejando mi cuidado, / entre las azucenas olvidado”. He aquí la inspiración iluminadora. Yo no rehuyo de este ímpetu que va filtrando –guiado por esas misteriosas razones del alma- las experiencias más hondas y conmovedoras del espíritu. Mis ojos buscan en la confidencia de estas palabras ese cielo que resplandece hasta revelarnos la presencia del ángel y de un cuerpo a que asciende y resucita transformado por una experiencia que es la esencia misma de la vida. Traspasando los límites de todo lo que aflige, la poeta superpone a la imagen de la muerte la plenitud del espíritu y la profundidad del amor. Y en esa profundidad la presencia trágica de la muerte se estrella contra una voluntad que rechaza todo signo de conmiseración. Pues la poesía de Patricia Guzmán es como un asidero que la libra de la peor agonía, de aquélla que nace del espíritu. Su poesía configura el paisaje donde habita su alma, y su alma no conoce más voz que la del ángel, y sus ojos no avizoran más cielos que la luz que triunfa rescatando el cuerpo de la agonía que lo consume. Ya muy elocuentemente lo ha señalado el poeta y crítico Luis Alberto Crespo: “…la obra poética de Patricia Guzmán se nos da como una experiencia iniciática desde el cuerpo hasta su aura, no sólo ya durante la averiguación de un vaticinio de ángel -o esposo o amada o lo deseado y deseante- sino en la observancia de una religión de amor, celebrada en los sentidos, así en la vida como en la muerte…” Ciertamente, “en la observancia de una religión del amor” que nos sobrecoge y nos acerca también a una experiencia desgarradora que nos conduce a zonas más recónditas de la vida. Así vamos por los espacios de esta poesía, como guíados por una voz que se alza sobre los misterios del sufrimiento y con renovado ímpetu nos dice: “Reclamo mi cuerpo / entre tanta sordera / tanta lengua en lo oscuro” (p.19); y, más adelante: “Voy a matar mi animal / levantarme crecida” (p. 25). Y ese levantarse, alzarse por encima de la agonía es lo que le otorga un sentido místico y vertical a esta experiencia que trasciende el dolor que flagela el cuerpo para intuir, dentro de su propia interioridad, la realidad que le afli[j]e y la llama que purifica. Será por eso que percibimos en el ángel y el pájaro símbolos portadores de la brevedad y, también, de la infinitud de la vida. El título mismo del libro, Con el ala alta, sugiere la fragilidad y la esencia del ser encarnada en la sutil imagen de un pájaro. Símbolo que se reitera y se intercala con la figura del ángel. Ambos son signos centrales y unificadores de esta experiencia. Pero ya, desde el primer libro (De mí, lo oscuro), el pájaro despliega sus alas como insinuando un sentimiento que produce una dolorosa sensación: “Todo se llena de pájaros / untado de un canto / que no me pertenece / que crece / entre otros” (p.26), nos dice el hablante. Y luego la imagen se intensifica: “Pájaro revuelto / de miedo / de duda / saltó / dio tumbos dentro de mí / que lo suelte / que hago queja / Hago mi costumbre” (p.36). Hay que imaginar la relación que establece la imagen del pájaro y cómo ésta se corresponde con otros símbolos. Hay que situarse en el centro mismo de esa imagen que nos transmite la más dolorosa experiencia de una voluntad que persiste estremecida. Pero yo, querido lector, no busco interpretar los recursos expresivos que con sutil destreza se despliegan a través de esta poesía. Si bien es verdad que toda poesía va dándonos sus claves en la lectura. En ésta la persistente presencia del pájaro y del ángel se manifiestan como símbolos mayores a través de todo el libro. Hay otros sugeridores de una diversidad de interpretaciones, pero el ángel persiste como esencia unificadora. Su presencia consiste en eliminar toda inseguridad, todo desasosiego. Su huella queda transfigurada en el hablante poético, en el rumor de un sufrimiento que se transluce en amorosa serenidad: “Yo me quiero ir al país del ángel / Yo quiero saber de qué se alimenta / Yo quiero limpiar su casa / El ángel no habla / El ángel canta para mí si los pájaros y mis hermanas se callan…” (p. 80). Este es un lenguaje que rompe nuestra concepción de la realidad y nos hace sentir el triunfante esfuerzo de quien ha salido del dolor transfigurado. Para mí, este es el gran tema [principal] del libro. No la formulación de una poética de lo que aniquila sino de lo que trasciende y transforma todas las cosas, incluyendo los misteriosos caminos de la muerte. Es dentro de esta hondura de pensamientos que deseo contemplar la actitud del hablante. Asomarme en el discurrir de este lenguaje a la triunfante exaltación del espíritu. Pues la poesía de Patricia Guzmán surge de lo más íntimo de esa enigmática y compleja realidad que la sostiene sobre la superficie misma de sus versos. De esa conciencia de lo perecedero, de la fragilidad de la vida ante la muerte, es donde se afirma su voluntad y se alza su voz estremecida para revelarnos lo que hay de profundo y trascendente en el ser humano. No es ésta una estética del dolor, sino un lenguaje que logra la armonía de lo inaccesible, de lo imperecedero. He aquí el paisaje de una voz que fluye hasta tocar las inefables zonas del espíritu. En él aparece el esposo como una presencia amortiguadora del dolor: “A menudo mi esposo me recuerda mis méritos como para / que me duela menos despertar” (p.125). Así el esposo se convierte también en el protagonista silencioso de una realidad a la que responde amorosamente. Su actitud siempre imprime una sensación de seguridad en el hablante poético. Claro que su presencia no alude sólo al esposo terrenal sino también al ideal de unión perfecta como observamos en el poema de San Juan de la Cruz y en el libro Cantar de los cantares (que hace alusión a la iglesia como la amada): “El esposo tiene siempre más de dos alas / Debajo de ésta / nazco cada día / Debajo de ésta / me alimento / Debajo de ésta / me pongo el collar de perlas” (128). La poeta traza la dimensión de su mundo fiel a un sentimiento que refleja su experiencia como una necesidad mística. Este lenguaje pone a prueba la interioridad de su universo poético y la visión que fortalece su espíritu. Me parece que esa imagen edénica que antecede los últimos versos del libro nos motiva a meditar nuestra presencia en el universo y la altura de nuestra humanidad: “…para que de El Edén surja un río / que riegue el jardín / para que el río se transforme / en cuatro cursos de agua / y el hombre se transforme / en un ser vivo” (173). Pocos libros en la poesía contemporánea muestran esta lucha interior, esta vigilancia del espíritu que sobrepasa todo entendimiento. Con el ala alta parece ser una respuesta al escepticismo de las sociedades contemporáneas. De ahí que este lenguaje deje de lado todo signo de conmiseración para descubrirnos la visión de una poeta que sin ignorar el dolor, y sin doblegarse a sus padecimientos, nos revela un sentido más alto, más luminoso, más humano de la vida. [David Cortés Cabán] 11. Cuaderno de verdor, de Philippe Jaccottet [traducción de Rafael-José Díaz]. Bartlebly Editores. 2005. Madrid. Contato: [email protected]. Philippe Jaccottet, uno de los poetas actuales más importante en lengua francesa, nació en Moudon (Suiza) en 1925. Después de cursar estudios de letras en Lausana, vivió durante algunos años en París como colaborador de la editorial Mermod. En 1953 se casa con la pintora Anne-Marie Haesler y se instala en Grignan, en el valle francés del Drôme, donde vive desde entonces. En ese mismo año de 1953 aparece su primer libro de poemas, L’Effraie et autres poèmes, al que han seguido L’ignorant (poèmes 1952-1956), Airs (poèmes 1961-1964), À la lumière d’hiver y Pensées sous les nuages. Sus últimos libros, Cahier de verdure, Après beaucoup d’années y Et, néanmoins, combinan la prosa y el verso, algo que también caracteriza a su actividad diarística: La semaison (carnets 1954-1979), La nouvelle semaison (carnets 1980-1994) y Carnets 1995-1998. Philippe Jaccottet es asimismo autor de prosas poéticas o semiensayísticas (recogidas en libros como Éléments d’un songe, Paisajes avec figures absentes, La promenade sous les arbres o Notes du ravin), notas de viaje (Cristal et fumée) y del relato L’obscurité. Algunas anotaciones antiguas, a medio camino entre el ensayo breve y la anotación diarísticas, han sido reunidas recientemente por el poeta en Observations et autres notes anciennes (1947-1962). También ha sido importante su labor como crítico y ensayista, de la que dan testimonio L’entretien des Muses, Une transaction secrète, Écrits pour papier journal, Gustave Roud y Rilke par lui-même. Especialmente celebrada ha sido su labor traductora, de la que cabe detacar sus versiones de Homero, Góngora, Hölderlin, Rilke, Musil, Ungaretti y Mandelstam, algunas de las cuales han sido recogidas recientemente en D'une lyre à cinq cordes. Traductions de Philippe Jaccottet 1946-1995. 12. Alongamento, de Sérgio Medeiros. Ateliê Editorial São Paulo. 2005. Aqueles que já estão acostumados com uma certa homogeneidade que a poesia brasileira de melhor extração vem assumindo já há algum tempo, acolherão com interesse o novo livro de poemas de Sérgio Medeiros, Alongamento. Já no anterior, Mais ou menos do que dois (Iluminuras, 2001), Sérgio surgira com uma nota estranha, desconhecida e incômoda, uma atmosfera “marienbadiana”, propositalmente rarefeita e sem chaves. Tradutor de Lewis Carroll, o poeta acredita na atualidade do nonsense como instrumento poético e de investigação do mundo. Em duas ocasiões em sua obra, Carroll fala exemplarmente de chaves: no primeiro capítulo de Alice no país das maravilhas, em que a menina tenta abrir a porta para o jardim, mas está ou pequena demais para alcançar a chave sobre a mesa ou grande demais para passar pela porta minúscula. A chave acaba se mostrando inútil, pois Alice escapa da toca do coelho por outros meios, que permanecem inexplicados. Outras chaves aparecem em Sílvia e Bruno, nas mãos do jardineiro louco, responsável pelo portão que dá passagem para o mundo das fadas. Apesar de ter apenas uma chave grande o suficiente para a fechadura do portão, o jardineiro insiste em experimentar todas as outras primeiro. Também não é com a chave insipidamente correta que devemos tentar buscar a entrada para a poesia de Sérgio Medeiros. Melhor é escorregar para ela por meios menos controlados, como Alice para fora da toca, deixando intactas, impenetráveis, todas as portas, mas permeáveis os mundos que elas separam. O desenho na capa de Alongamento, de autoria do próprio Sérgio, já representa, com traços abertos e autônomos, um corpo que escorregou para a água e não se afogará sem antes descrever um balé cheio de voluntarismo. O livro contém poemas/textos produzidos de 2004 a 2000, assim, em percurso inverso, começando com uma segunda versão à qual se segue a primeira versão do poema-título. Pode-se dividir o volume em duas partes: a primeira é um elogio à visão, ao primado dos olhos, cujos músculos se pretende alongar, passando do infinitamente distante ao infinitamente próximo (como a Alice que cresce e encolhe numerosas vezes durante suas aventuras), mas substituindo ao foco monológico e preciso a visão do jardineiro louco que nunca presencia uma cena inconteste, e sim um transformar disso naquilo sem referência fixa. A segunda parte tem um acento predominantemente musical (Sérgio Medeiros é um grande apreciador da música contemporânea) e performático. Une as duas partes o uso tanto de olhos como da audição como instrumentos táteis: “mal consigo ver: ouço – a areia úmida”. A série de instantâneos em frases mais ou menos articuladas, conforme o caso, tem no inusitado e na concisão a sua força: “a água desabotoa”, “a água bate contra o til duro”. Seus símiles, estranhamente, não perdem com a irreconciliabilidade dos termos seu impacto de verdade revelada: “como unha lixada, o barco afunda em si mesmo”; “- a nuvem que mais se alça também se esfarela como coisa pisoteada uma vez;”. A percepção é ao mesmo tempo aguda e distorcida, no sentido de que seu ponto de fuga se encontra fora do enquadramento: é uma percepção de semivigília, uma percepção ao despertar, quando nada ainda se encaixou no corriqueiro (como na consciência recém-desperta do Marcel, de Proust, em que se entrecruzam vários quartos antes que ele possa decidir em qual deles acordou). O treinamento do olhar, de forma alguma parte essencial de nossa tradição poética, que em seus melhores momentos se esmerou no treinamento do ouvido, vem se tornando, nas últimas décadas, uma preocupação da atual geração de poetas brasileiros. Vejo a origem dessa preocupação na atenção com que esses poetas lêem a poesia americana moderna, a qual, fundada sobre um longo hábito literário inglês da observação, tem na fanopéia sua expressão característica. Certamente, a apreciação da poesia chinesa exerce também grande influência nesse sentido, mas, ainda aqui, muitas vezes via tradução inglesa. Ezra Pound já usava, no ABC, a metáfora do homem cuja visão alcançava um maior espectro do que a dos demais para caracterizar o poeta. Não se trata apenas de “ver com olhos novos”, mas de se deleitar sensualmente no visto, desfazer-se da subjetividade no objeto: é-se o que se vê. Na função de “vedor”, em que tem como antecessor o já citado Jardineiro Louco de Carroll, Sérgio se retira do enquadramento para deixar brilhar uma certa autosuficiência altiva das coisas que, zombando da confiança dos humanos em sua natureza estática, estão, com o auxílio do vento e das alterações de luz, constantemente em movimento e mudança: “a baía/ puxa a luminosidade/ como uma coberta/ que encolhe/ na água/ – não se agasalha/ nunca/ inteira”. Se em alguns momentos essa percepção orquestral da paisagem parece resvalar para a “bela imagem”, que, como a bela melodia, corre o risco de apenas provocar o aplauso da platéia, o poeta, menino experimental, nunca perde a consciência de que está lidando com letras sobre papel. Com gosto tipográfico, arranja o texto sobre a página, confere títulos, subtítulos e parênteses, faz farto uso de sinais como barras, asteriscos, reticências, til, colchetes, como para lembrar ao leitor o estatuto de composição (no sentido de linotipia) do poema. Esse recurso, com ser talvez desconfortável para o olhar acomodado, tem como conseqüência adiar a entrega hedônica do leitor às impressões recolhidas. As duas formas de visualidade da escrita – a evocativa e a concreta – convivem, rivalizam, dialogam ou brigam, tornando a leitura mais rica em cada caso. A seção final do livro, intitulada (darwinianamente?) “O Passo do Macaco”, coloca literalmente em cena uma outra forma de obliteração da subjetividade no texto poético, explorando o aparato teatral (sonoplastia, instruções e objetos de cena, maquinário, divisões em atos) aliado a uma apresentação mais propriamente cinematográfica da seqüência dramática ou dramático/performática. As diversas seqüências são classificadas como dança folclórica, réquiem, opereta, balé e pantomima. Trata-se, em cada caso, de um espetáculo total, no qual se dá a personagens, texto, rubricas, som, cenário e platéia igual participação, com predominância apenas do ritmo, que envolve e rege todas as outras instâncias. Interpõe-se à sua eventual encenação uma série de instruções impossíveis: um barítono sem voz “imita o miado de uma gata parda famélica que acabou de dar cria” ou “o som de uma enxurrada de ossos enchendo uma sepultura vazia”, “O mar deitado de bruços volta a si molemente na praia, calado”, uma mulher, “à medida que for adquirindo vivacidade, também exibirá uma consistência mais quebradiça” e por fim, feito múmia, se esfarelará de vez. A habilidade com que o autor consegue compor uma multiplicidade de elementos insensatos, surrealistas e nonsênsicos de forma a lhes dar um sentido – na acepção da Física, não da Semântica – é demonstrativa da qualidade do seu trabalho poético – na acepção etimológica do termo. É fácil concordar com o autor quando ele diz preferir, entre as várias peças d’ “O Passo do Macaco”, a pantomima “As Costas de...”, que fecha o volume. A peça/poema, que tem como personagem única uma sereia e como cenário o fundo do mar, começa com a advertência de que “No primeiro e no segundo atos, a audiência – um público pequeno – só terá acesso AO FUNDO DO MAR indiretamente”, explicação que parece satisfazer uma impecável lógica carrolliana, que suporia no leitor a expectativa de um palco literalmente imerso na água e a platéia diretamente colocada diante dele. A explicação, porém, não é tão ociosa como poderia parecer a princípio, pois, de fato, “No terceiro e último ato, a audiência finalmente irá ao FUNDO”. Assistimos, a seguir, a uma seqüência de três atos classificados como “erótico (sic)”, “mais erótico que o anterior (sic)” e “extremamente erótico (sic)”, postulando-se, assim, a existência de um transcritor que, de uma distância crítica, “edita” o texto recebido. Distância e proximidade, como no poema “Alongamento”, são os dois fatores em jogo na pantomima. Desta vez, no entanto, não se trata de mensurações, mas da contraposição de elementos do cotidiano e outros fantásticos, provenientes do imaginário literário ou mitológico. A atualização de metáforas se insere no âmbito de uma ação corriqueira como jogar uma camisa na cesta de roupa suja ou abrir o registro do chuveiro. O atrito entre gestos tão cotidianos que deles nem nos damos conta e situações inusitadas como o afundamento do público parece se resolver na busca frustrada por um significado arcano e irrecuperável, soterrado sob a inexorabilidade do dia-a-dia. Não é, entretanto, a profundidade, mas a nota irônica que wins the day, pois o público, ao fim da peça, entra literalmente pelo cano. As observações que reúno aqui a respeito de Alongamento representam apenas impressões de viagem pelo texto de Sérgio Medeiros. Dificilmente serão as mesmas em novas incursões desta e de outros viajantes. Este é um livro que provoca o leitor de muitas maneiras diferentes, oferecendo à leitura sempre um novo interesse e excluindo de vez só uma sensação: a de déja vu. [Myriam Ávila] 13. O triunfo de Sosígenes Costa (estudos, depoimentos e antologia) [org. Cyro de Mattos & Aleilton Fonseca]. Editora UEFS/Editora da EUSC. Bahia. 2004. Guardar na memória a lembrança dos grandes nomes que já não mais fazem parte do inventário dos vivos é um modo de preservar a seiva que os nutriu, na esperança de também servir de alimento às novas gerações. No ano de 2001, nós, baianos, fizemos questão de comemorar os cem anos de nascimento do poeta de Belmonte, o mago das imagens feéricas, o inventor de castelos e paisagens multicromáticas, o vate das origens míticas de sua terra, Sosígenes Costa. Esta comemoração, embora praticamente limitada à sua Bahia natal, se reveste de maior significado, por ter sido o poeta pouco reconhecido enquanto viveu e longamente esquecido após a morte, em 1967. Em boa hora os escritores Cyro de Mattos e Aleilton Fonseca, ligados à mesma zona cacaueira do poeta, decidiram organizar O Triunfo de Sosígenes Costa que, por certo, contribuirá para a divulgação de um dos maiores nomes da literatura brasileira de todos os tempos. As autoras e os autores desses bem elaborados ensaios são reconhecidos escritores e/ou professores baianos, cujos mini-currículos precedem os respectivos textos. Entre os indiscutíveis méritos do volume, avulta o de integrar o movimento de resgate da grandeza de um verdadeiro artista da palavra que, até o seu centenário, em 2001, possuía apenas dois livros de estudo sobre sua riquíssima produção, o de José Paulo Paes, Pavão parlenda paraíso (1977) e o de Gerana Damulakis, Sosígenes Costa - o poeta grego da Bahia (1996). Em 2001, ano do centenário do poeta, novos esforços foram desenvolvidos para trazer sua obra à tona. A Fundação Cultural de Ilhéus, então dirigida pelo escritor Hélio Pólvora, fez-lhe várias homenagens, organizou um seminário na Associação Comercial de Ilhéus e apoiou edições importantes, como Crônicas & poemas recolhidos, organizado por Gilfrancisco Santos, e o CD Antologia Poética de Sosígenes Costa, com 28 poemas selecionados por Gerana Damulakis e Hélio Pólvora, com introdução deste último. A Fundaci apoiou também a edição da Obra poética completa do autor belmontino, realizada através do Conselho Estadual de Cultura/Secretaria de Cultura e Turismo da Bahia, sob a direção de Waldir Freitas Oliveira. Pólvora organizou ainda o livro A Sosígenes, com Afeto, com textos de vários ensaístas e poetas. Na ocasião, a Academia de Letras da Bahia promoveu um curso em homenagem ao poeta, e a revista Iararana dedicou inteiramente a ele a sua ediçãon° 7. Mais recentemente, em 2004, Florisvaldo Mattos publicou o ensaio Travessia de oásis. A sensualidade na poesia de Sosígenes Costa, ampliando as abordagens temáticas. Agora, esta coletânea reúne vários estudos que fizeram parte das comemorações do centenário do poeta, contribuindo para a divulgação de parte de sua fortuna crítica. O Triunfo de Sosígenes Costa está dividido em três partes distintas, das quais farei um breve resumo: os ensaios críticos, os depoimentos e a antologia. Heitor Brasileiro Filho fala de vários dados biográficos do poeta de Belmonte, como sua chegada a Ilhéus em 1926, onde foi aprovado em concurso para telegrafista e, paralelamente, passou a exercer a função de escriturário da Associação Comercial de Ilhéus, da qual só saiu aposentado, em 1953. Há também referências aos companheiros de juventude de Sosígenes que pertenciam à "antiacademia" dos Rebeldes, fundada a fim de criar uma nova era literária. Entre os Rebeldes, figuram Jorge Amado, Édison Carneiro, Dias da Costa, com quem Sosígenes, apesar do temperamento reservado, manteve correspondência. Hélio Pólvora enfatiza aspectos referentes à Academia dos Rebeldes que, apesar de ter surgido com idéias demolidoras, reagiu contra os exageros inovadores da turma de São Paulo e Rio de Janeiro. Recentemente descobriram-se crônicas de Sosígenes, entre as quais as que, em 1928, criticam ou ridicularizam as tendências futuristas, como a de 21 de março: “A poesia moderna é toda assim, disparatada. Escangalhase a métrica sem dó, remete-se ao bom-senso uma patada e compara-se a lua ao pão-de-ló”. Todavia, entre as citações de crônicas arroladas neste ensaio, verifica-se que SC nem sempre é radical: “Do futurismo de quem tem talento, eu gosto”, afirma em 1 de outubro de 1928. Gerana Damulakis se refere aos vários caminhos de uma obra de pluralidade reconhecida. É a autora de um dos dois mencionados livros básicos dos estudos sobre o poeta, Sosígenes Costa - o poeta grego da Bahia, bastante citado pelos autores do presente volume. Gerana optou por conjugar dois de seus trabalhos, “Castelão de mitos” (presente em cada poema) e “Sosígenes Costa e o Barroco”. A ensaísta menciona também a presença dos heróis e dos episódios da Bíblia, da mitologia antiga, da História, do recurso aos arquétipos para a elaboração de metáforas onde se envolvem reis e deuses. As misturas de temas diversos, até mesmo os disparates provocados pelas rimas difíceis ou despropositadas, também atuam para manter ou aumentar o interesse pelo processo mental do poeta que associa, por exemplo, o pavão vermelho do soneto homônimo, com um correspondente como o sentimento de alegria. Cyro de Mattos destaca “nesse poeta de pavões e dragões, vinho e aroma, a vertente negra” expressa em vários poemas, alguns deles mais longos, como “Iemanjá”, de 769 versos. É oportuno lembrar que o elegante sonetista de gosto clássico e classicizante e de rica imagética suntuosa, com explícita preferência pela metrificação e pela rima, também sabe instrumentalizar-se com registro popular na saga cacaueira glorificadora do índio e nos poemas de inspiração afro-brasileira, em que recorre ao verso-livre e à linguagem coloquial pontilhada de expressões típicas. Cyro associa a vertente afro-brasileira de Sosígenes às criações de Castro Alves, Jorge de Lima e Ascenço Ferreira e defende a questão da legitimidade do tema abordado por escritores de diversa origem étnica, desde que exista uma real “fusão afetiva que é transposta pela imaginação e/ou vivência para o significante e significado do discurso”. Ruy Póvoas faz uma apreciação do estudo realizado por Cyro de Mattos, a propósito do filão afro-brasileiro da poesia de Sosígenes Costa, concentrando-se na linguagem herdada dos escravos e que o poeta soube utilizar com tanta maestria. Póvoas destaca a exploração da musicalidade, “da sonoridade através de arranjos lexemáticos e sintáticos” e revela como Sosígenes manuseava com desenvoltura e segundo as exigências estilísticas do poema, o nagô ou a língua de Angola, o que atesta a familiaridade do poeta com a vida e as práticas religiosas dos terreiros de candomblé. A partir da explicação dos vocábulos e da análise de versos e fragmentos escritos nesses dialetos, o autor enfatiza os recursos sonoros e musicais explorados por SC, além de fazer referências aos cultos, rituais e costumes do povo africano. No final, ele acrescenta um glossário que servirá de subsídio para possíveis esclarecimentos. Aleilton Fonseca trata inicialmente de questões relativas ao caráter reducionista do cânone literário, procurando explicar o lugar discreto ocupado pelo poeta em relação ao panorama da poesia brasileira do seu tempo. Provavelmente o culto excessivo de SC pelos modelos clássicos, superados na época áurea do nosso modernismo, teria contribuído para que seu nome não figurasse entre os astros de primeira grandeza seus contemporâneos. Aleilton, através da fundamentação teórica baseada na categoria da visibilidade, via Ítalo Calvino, volta sua atenção principalmente para a poética visual e condena as classificações que pretendem enquadrar SC na estreiteza de algum ismo, ora como parnasiano ou simbolista, ora modernista. “Estes rótulos só se aplicam adjetivamente a procedimentos parciais de sua poética, mas não têm força substantiva quando aplicados unitariamente”. Em resumo, graças à obra multifacetada e à inventividade, SC é um moderno, em toda a extensão da palavra. Florisvaldo Mattos focaliza sobretudo a dimensão cromática de SC que “lhe confere singularidade capaz de se tornar um diferencial no seu processo criativo”. Apesar dessa ênfase nas cores e na “apoteose visual” em Sosígenes, Florisvaldo chama a atenção para os demais sentidos, tantas vezes recaindo no jogo sinestésico ou no privilegiar das sensações olfativas. Para o ensaísta, o requintado gosto do poeta de Belmonte e algumas de suas referências irônicas poderiam levar a supor que ele fosse contrário às novas tendências poéticas, mas, na verdade, o que ele não aceitava eram os exageros da vertente futurista. Basta que se recorde o nacionalismo da “epopéia cabocla” Iararana. “O modernismo em Sosígenes Costa, de brilhante, tornou-se fosfóreo”. Jorge de Souza Araújo, em alusão à variedade de tons de SC, comenta sobre a ourivesaria de sua dicção metrificada e rimada, sobre seus ataques às modernosidades da Semana de 22, o que não impediu o tom prosaico de composições despojadas dos luxos imagéticos. Araújo, a propósito do romance surrealista de Jorge de Lima, O Anjo, aponta como o poeta baiano aceitava a recomendação do poeta alagoano no tocante ao destino do homem que nasceu para contemplar e, só por castigo, luta e trabalha, mostrando-se Sosígenes avaro dessa contemplação. Seu fabulário e expressionismo verbais fundem o tosco da fala corriqueira com o refinamento aristocrático e classista, a opulência verbal com a singularidade do mito, o ocidente e o oriente, o contingente e o estelar, a mitologia cabocla/mestiça/afro-nordestina, mais o universalismo de impressões temáticas absolutamente originais. Tudo é Sosígenes como o Jorge de Lima de Invenção de Orfeu. Maria de Fátima Berenice da Cruz comenta o poema “Case comigo, Mariá”, reacendendo “a discussão em torno do conceito de poesia e da função desta como difusora da cultura de um povo”. Todavia, faz-se necessário analisar o referido poema, enfocando o escritor como aquele que soube, em seu tempo, articular elementos da cultura popular com os mitos da criação do universo, com a teoria dos nomes, e até com conceitos contemporâneos que nos falam de ausência de fronteiras entre as culturas. O poema institui o mito da criação poética, contextualizando-o no imaginário popular brasileiro, povoado de reis e rainhas: Não sabes que o mar é casado / com a filha do rei? Comparecem no poema outros mitos, como o das Sereias, o do peixe que, mais tarde, casa-se com Maria. Segundo a autora, SC revive e reatualiza sempre o mito do texto literário que se “caracteriza por sua incompletude no instante em que a leitura se renova”. Cid Seixas focaliza outros aspectos de Iararana, poema que inaugura a temática cacaueira e que, apesar de figurar ao lado das outras obras nativistas, ainda não recebeu o destaque reivindicado pelos mais recentes estudos revisionistas do poeta. Cid Seixas discute a diferença entre os ideais do grupo modernista de São Paulo e Rio de Janeiro impregnados das ressonâncias europeizantes que haviam importado, em contraste com os jovens baianos da Academia dos Rebeldes em defesa das tradições nacionais e locais vistas e sentidas de dentro, ao invés do olhar que buscava o lado exótico do primitivo e que já havia encantado os viajantes. Cid também discute a posição de José Paulo Paes que, em 1979, apresentou ao público o poema de Sosígenes e seu estudo, sustentando a “idéia recorrente de que o texto do poeta da roça está marcado por um caráter anacrônico”, uma vez que foi concluído só em 1933. Embora Iararana e Cobra Norato sejam consideradas epopéias modernas, o poema de Raul Bopp continua sendo alvo de maiores deferências, enquanto estudiosos baianos procuram fazer justiça ao criador do mito mestiço em meio às matas primitivas do Brasil. Celina Scheinowitz dedica-se a uma análise minuciosa do longo poema épico Iararana, que apresenta um mito de origem para o cacau e alegoriza a formação étnico-cultural da região, ao sul da Bahia. Acusado de se manter alheio ao movimento modernista, com esse poema Sosígenes adere às novas tendências nacionalistas, através da glorificação do herói indígena em detrimento do invasor português e do escravo africano. Celina chama a atenção para o uso de inúmeros termos relacionados à terra dos índios, com seus costumes, lendas, mitos, crendices, fala, o que contribui para a criação do clima nativista. Celina realiza exaustivo e paciente levantamento dos termos relacionados com a flora e a fauna regionais, expressões idiomáticas, conectivos marcadores da conversação, interjeições, além de aspectos ligados à pronúncia e à morfossintaxe, destacando ainda traços estilísticos. O ensaio se conclui com a reafirmação de Iararana “em posição de destaque no panteão do Modernismo brasileiro, ao lado de Macunaíma, de Cobra Norato, ou de Martim Cererê”. Marcos Aurélio Souza concentra sua análise na visão anticolonialista de Iararana, flagrando o lado violento da ação colonizadora presente no poema. Para Marcos Aurélio, a crítica ao colonizador feita por SC, não deve ser entendida nos moldes de ingênua xenofobia ou tentativa de retornar a uma pureza racial cabocla, conforme sugerira José Paulo Paes. O longo poema acena, simbolicamente, para o (re)estabelecimento daquilo que pode ser chamado de uma época áurea, o que não é, todavia, uma tentativa de retorno ao período pré-colonial. Isso porque a defesa do discurso sosigenesiano é pelo hibridismo e não pela crença ingênua de reconstrução de um mundo puramente indígena. Sob essa ótica, ao invés de epígono do modernismo, SC deve ser considerado precursor de uma nova visão da história, bem diversa das magnanimidades oficialmente narradas, segundo a ideologia do colonizador. A segunda parte de O Triunfo de Sosígenes Costa consta de depoimentos: do amigo de sempre, Jorge Amado, no ensejo da publicação da nova edição revista e ampliada da Obra poética e do livro de José Paulo Paes, Pavão parlenda paraíso, primeiro estudo de conjunto da obra do poeta baiano. O segundo depoimento é de Waldir Freitas Oliveira que lamenta o pouco conhecimento que se tem do poeta, de sua vida, seus estudos, sua correspondência e publica uma carta que SC havia dirigido a Clóvis Moura. A carta demonstra que Sosígenes não concordara com a crítica que Clóvis Moura lhe fizera, a respeito de sua “falta de experiência de luta ou de um passado revolucionário”. O poeta argumenta que “a intenção, nesse caso, redimiria a insuficiência”. Também discorda da afirmação de que só se pode fazer literatura revolucionária através de uma visão marxista dos fatos: “Não me considero possuidor desta qualidade eminente. E por isso lhe envio um exemplo de minha poesia e nela poderá V. constatar o que afirmo”. Em seu depoimento, James Amado, referindo-se à poesia como destino, narra poeticamente a versão mítica de SC sobre as origens do cacau, transformado em riqueza para os recém-criados grapiúnas, gente nova e “livre de crimes antigos”. James fala da atividade do poeta como telegrafista e do seu gosto pela vida solitária, mas preenchida de flores raras e pássaros, que recebiam seus cuidados. Neste depoimento também temos notícia de seu desempenho de pianista que executava músicas no piano de meia-cauda, alternando peças clássicas e populares. James transcreve um poema de Sosígenes, em que ele revela sua simpatia por Freud e Marx e pela quebra das hierarquias. Zélia Gattai declara sua admiração pelo poeta, amigo de Jorge e depois também dela. E assim o define: “Pessoa discreta, calado, sempre bem posto, Sosígenes preferia ouvir, prestar atenção e sorrir em vez de participar de grandes papos e gargalhadas”. Zélia transcreve o “Bilhete começado pelo boa-noite”, enviado por SC a uma dona de pensão. Um dia eu contei a Sosígenes que o líamos em voz alta, nos momentos de lazer. Na terceira parte, os organizadores incluíram uma antologia, onde os leitores podem deleitar-se com os poemas mais representativos da obra sosigenesiana. Cyro de Mattos e Aleilton Fonseca estão de parabéns pela iniciativa de homenagear Sosígenes Costa, o mago que transformava a pálida realidade corriqueira em suntuosidades principescas, mas também sabia trocar os requintes do vocabulário áulico pela simplicidade dos falares regionais, os faustos da realeza pelos fascínios dos mitos afro-brasileiros ou indígenas. De parabéns estamos todos nós, brasileiras e brasileiros, por termos cada vez mais acesso às revelações do poeta sabedor de fulgores estelares e dureza de chão, conhecedor de espinhos do mato e cintilares de pavões. [Helena Parente Cunha] 14. Versos Comunicantes II (Poetas entrevistan a poetas iberoamericanos) [org. José Ángel Leyva]. Ediciones Alforja y UAM. México. 2005. “No hay muerte posible para la poesía”, afirmaba Eugenio Montale en su discurso ante la Academia Sueca, en diciembre de 1975, cuando ya los anuncios milenaristas campeaban sobre el ocaso del siglo XX y la caída de paradigmas era tan estrepitosa como la sucesión de acontecimientos mundiales inesperados y asombrosos. No habrá muerte para la poesía al menos mientras el hombre viva y se interrogue, indague, cuestione a sus semejantes y descrea de la eternidad. No habrá defunción en tanto haya razones para dudar de las certezas y la palabra se renueve y crezca, renazca de los vestigios de su propia naturaleza, asuma la caducidad de sus formas y mantenga fidelidad al cambio, al origen, al sentimiento. La poesía, al fin y al cabo, no existe sin la emoción del nombre, no de lo que se encuentra, sino de lo que se busca. Cada hallazgo es el inicio de una nueva exploración en el tiempo. Sed y deseo, rebelión y sosiego, orden y caos, fuego y cenizas, conocimiento e ignorancia empujan la palabra hacia la poesía, hacia la alteridad de lo banal y lo divino. ¿Cómo puede acabar entonces lo que denomina el misterio, lo que significa, lo que da vida al vacío, aquello que hace tan íntima como universal la vivencia de una persona, el despertar y el sueño de la humanidad, de nuestra humanidad? Pero la amenaza de extinción tiene un movimiento pendular sobre la poesía en la medida que la estupidez y la banalidad avanzan sobre la historia y la cultura. La demencia del poder cobra víctimas sin calcular el precio letal no sólo para las víctimas sino para los opresores, los invasores, los verdugos, los magnates. Nadie escapa a las consecuencias de la barbarie tecnológica ni al saqueo de la memoria. Nadie queda exento de las furias de la naturaleza, de los efectos radiactivos, de la contaminación, de la capacidad destructiva de la llamada civilización moderna. El fin del hombre es el fin de la poesía, de la conciencia, de la palabra, del significado. Y hay momentos en que esos fines del mundo son visibles, al menos de una forma parcial. Se viven desde dentro o desde fuera y quedan como testimonios de esa posibilidad de lo absoluto. Para mucha gente el mundo y la poesía terminaron cuando, por ejemplo, los nazis intentaron podar el árbol de la vida para obtener un fruto ario y ser los dueños del planeta, o cuando Stalin se dio a la tarea de purgar al mundo de ideas diferentes a las suyas, o cuando los militares en América Latina torturaron y desaparecieron a quienes nombraban el futuro de manera distinta. No pueden quedar sin palabras las imágenes del ejército invasor con su utilería de poder y sus consignas de libertad y democracia sobre las ruinas de la vieja Bagdad, en el saqueo de su pasado. ¿Tendrían porvenir Las mil y una noches? Si la poesía aún nos conmueve, entonces su lugar en el mundo está asegurado, porque el dolor y el gozo, la belleza y la vida son motivos y motores para intentar nombrar el ser, para aspirar a ser. La poesía aún trae, como los ángeles, mensajes de un ayer remoto o inmediato. No son quizás los hombres reales, los individuos específicos, quienes trascienden los siglos, sino los personajes envueltos en su aspecto mítico representando el paso de su gente por la historia, los sucesos, la fuerza del acontecimiento, su marca indeleble en la conciencia. Arquetipos, diría Mircea Eliade para referirse a la presencia de una memoria colectiva, popular, imaginativa, mitológica, ahistórica. La muerte suele ser el inicio del mito. Tal vez por ello Dante Alighieri incorporó su nombre en La Divina Comedia, sabiendo que el autor, el hombre real, histórico, es pasto del olvido. En cambio el Dante que desciende a los infiernos guiado por la claridad del ingenio y el saber de sus maestros, de las luminarias del tiempo, de la palabra, se vacuna contra la caducidad y la amnesia. De otro modo lo argumenta Fernando Pessoa --y lo pone en función con sus heterónimos-- cuando señala en su Erostratus que son muy escasos los libros que resisten la acumulación de los siglos y representan la urdimbre emocional y mental de una sociedad determinada o de un momento. La poesía da cuenta de esa intimidad, del peso de la tragedia, del significado de la felicidad, del canto de los deseos. El escritor a menudo se reduce al papel de testigo, al de cronista de la imaginación, a la expresión profunda del sentimiento o a la desnudez formal de la palabra, al hecho del espanto, a la ocurrencia de lo imprevisto, pero pocas veces habla de sus reflexiones, de sus hallazgos, de su viaje, de su historia personal y sus contextos. Quizás porque teme ser desvirtuado, descolocado de su espejo. Como decía Borges, inventado por un interlocutor que no es él mismo. Tampoco por un crítico que no conversa con la obra sino que la clasifica y la interpreta, más bien por un lector que pregunta y escribe, al tiempo que edita las respuestas, y sin proponérselo da lugar a un personaje, a un relato donde se filtra el mito. José Saramago ha hecho su gran novela, La muerte de Ricardo Reis, a partir de la muerte física de Fernando Pessoa y el arribo a Lisboa de su heterónimo Ricardo Reis, quien regresa de Brasil, como los elefantes blancos, a vivir el final de su existencia en su tierra de origen. Ambos personajes, ambos heterónimos, se interrogan y se descubren ante un lector que no ignora que se halla frente a dos fantasmas, uno que permanece activo durante los nueve meses que tiene después de fallecer y otro que vive los últimos nueve meses antes de desaparecer de la realidad. Ese, me parece, es el gran descubrimiento del novelista y la clave para recrear la esencia de un poeta como Pessoa, pero es quizás la misma o semejante dualidad que vive el poeta común, cuando escribe y cuando sale a las calles o retorna a la rutina familiar. José Ribamar Ferreira, por ejemplo, no es el mismo que el poeta brasileño Ferreira Gullar, no obstante que ambos ocupan el mismo cuerpo. Para José Ribamar la banalidad no necesariamente se convierte en poesía, pero Ferreira tiene la capacidad de hacer que lo banal ascienda por el lenguaje al nivel de la poesía. La clave está entonces en ese diálogo de dualidades, porque el poeta entrevistador no es en ese momento un poeta, sino simplemente un hombre que interroga, indaga, explora en los terrenos de otro hombre poeta que no habla como poeta, sino como representante de la obra y quizás a ratos como declarante y responsable de una biografía. Ambos ocupan sus lugares y asumen sus papeles, uno pregunta y el otro contesta asumiendo que es el poeta el que habla, pero bajo el entendido de que el poeta lo es sólo cuando escribe, cuando crea, repitiendo sin cesar las mismas preocupaciones humanas de la historia, más comprometido a decirlo de formas diferentes, o como nos recuerda Rubén Bonifaz Nuño, De otro modo lo mismo. Así, el que responde lo hace desde su perspectiva de primer crítico de su obra y conocedor del proceso escritural, pero lo hace también como poseedor de una memoria, testigo y actor de un periodo de la historia, relator de las causas y los efectos que empujan al hombre a transformar la banalidad en materia poética, a verbalizar el tiempo y a inventar la eternidad que, bien lo sabemos, no existe. Un libro de entrevistas con poetas no es un volumen de creación, es simplemente una caja de curiosidades que vuelca sus contenidos en el momento que la abrimos. Una caja de Pandora si se quiere. Versos conversos en el momento de la transferencia y juego de deseos, reconocimiento de los tramos que anda el individuo y fases de su realidad y su mitología, de su vida y de su obra. Bien lo dice el poeta Marco Antonio Campos, quien posee larga experiencia en el oficio de entrevistar, no se trata de un género literario, ni de una pieza crítica, basta con conocer la obra antes de interrogar, de enterarse un poco sobre la trayectoria del poeta, de conocer algo sobre su vida, trazar una guía para el cuestionario y estar alerta, desde un segundo plano, a cualquier pista que ofrezca el entrevistado para conducirlo a ciertos espacios de reflexión y memoria que nos lleven al descubrimiento del autor frente a su propio asombro. Entre poetas, a veces nos leemos las manos. El lector mismo percibirá cuándo una pregunta es la señal de un hallazgo, o por lo menos de feliz extrañeza para el entrevistado. El poeta que entrevista en realidad está persiguiendo y es perseguido por su propia curiosidad, atiende a un anhelo, a una necesidad de escuchar la afirmación o la negación de sus conjeturas sobre la obra o, quizás, en el mejor de los casos pero no el más frecuente, hallar que la persona es congruente con sus palabras, sobre todo con las escritas. Lo dice mejor Ezra Pound en El arte de la poesía: “Las artes nos dan los mejores datos para determinar qué clase de criatura es el hombre. Como nuestro tratamiento del hombre se debe determinar por nuestro conocimiento o nuestra concepción de lo que es el hombre, las artes proporcionan datos para la ética.” No se trata de curarse en salud, pero cada entrevista pretende sobre todo acercar al lector a la obra poética. Estas conversaciones ofrecen vías de acceso más amplias, más despejadas hacia el poema. La anécdota y la reflexión son útiles en la medida en que señalizan el camino, pero de ninguna manera sustituyen el criterio del lector, su encuentro con los versos. La poesía habla por sí sola. En este segundo volumen de Versos Comunicantes reunimos a grupos de poetas pertenecientes a las generaciones que irrumpieron en Iberomérica en la segunda mitad del siglo XX, con sus voces anhelantes de cambios, en una centuria caracterizada justamente por eso, por la convulsiva rapidez de las transformaciones. Tributarios de las vanguardias son, muchos de ellos, iniciadores de búsquedas o miembros de fenómenos literarios en sus respectivos países, eruditos o traductores, difusores de la poesía escrita en lenguas y geografías distantes en tiempo y en espacio, promotores de lectura y el arte editorial, luchadores incansables o sosegados rebeldes en tiempos de “paz”, reconocidos por sus premios o desconocidos por sus obras, cada cual va respondiendo al conocimiento o la ignorancia del otro. Lo que en definitiva estaba planeado para cerrarse en dos volúmenes se ha extendido imperiosamente a tres. Sabemos, y lo repetimos, hay grandes poetas no incluidos en esta muestra, algunos por las dificultades para conseguir una entrevista hecha por un poeta que sea lo suficientemente interesante para ser incorporada, otras por la dificultad para entrevistar a personajes que tiene por principio no conceder entrevistas. Nada nos justifica, eso es definitivo. Ni siquiera la respuesta de algún escritor inflamado por la pedantería que, luego de insinuar su ausencia en el primer volumen, se niega a ser entrevistado porque afirma está ahíto de responder a cuestionarios sobre su trabajo poético, “algunos de verdadera profundidad”. En México, tales reacciones pueden resultar extrañas mas no inexplicables y comunes. La herencia de nuestra relación con el poder, la de los intelectuales en general, y la de esa perniciosa cerrazón en capillas y círculos autorreferenciales nos condenan a la escasa generosidad con nuestro entorno, y a la apertura servil con lo de fuera. Nada bueno nos deja ignorar o ningunear la voluntad doméstica, la dignidad de casa. No obstante, este segundo volumen muestra la voluntad de ofrecer acercamientos a la poesía iberoamericana a través del oficio periodístico y editorial, a través de las propias versiones de sus protagonistas y sus poemas. Países y poetas quedarán sin representación en este esfuerzo por saber algo más de la poesía escrita en español y en portugués en los últimos cincuenta o sesenta años, sobre todo con entrevistas a escritores aún vivos en el momento de publicarlas o recientemente fallecidos. Esos vacíos deberán ser cubiertos de uno u otro modo. El tercer volumen intentará algo en ese sentido, pero de antemano reconozco su insuficiencia. No sólo en México, sino en el resto de los países hay grandes ausencias. En México, porque los poetas nacidos en los años cuarenta conforman un amplio grupo de vigorosas propuestas y en esta serie decidí privilegiar a los poetas vivos nacidos en los años treinta --no ocurre lo mismo cuando se trata de otros países, pues incluyo poetas menores de cincuenta años--. Del primer grupo ya figuran algunos; otros que estaban considerados, como lo dije, están exhaustos de preguntas. Del segundo grupo, el de los años treinta, lamento sobre todo no contar con entrevistas a José Emilio Pacheco y Gabriel Zaid. Con José Emilio, debo confesarlo, tengo entrevistas que son largas conversaciones directas o telefónicas, pero en un plano informal, no autorizado. La conversación es un arte de Pacheco, con su prodigiosa memoria y su insistente humildad que de tanto justificarse despliega fascinantes caminos a su persona y a su mundo borboteante de erudición. Sé que el joven escritor Ricardo Venegas prepara una antología de entrevistas con poetas mexicanos nacidos en los años cincuenta. En cuanto al panorama latinoamericano se nos escapan algunas regiones de Centroamérica y de Sudamérica, como es el caso de Costa Rica y Paraguay. Hacia Portugal hemos hecho una aproximación y contamos con la enorme presencia de António Ramos Rosa, Nuno Júdice, Rosa Alice Branco (volumen tres) y Manuel António Pina, mas extrañamos a una figura como Herberto Helder. Brasil queda bien representado, pero es un país con una larga y rica tradición poética que inevitablemente nos deja un vasto territorio literario por descubrir. Insisto, no justifico las ausencias, las lamento. ¿Cómo puede entonces pensarse en la muerte de la poesía justamente cuando visualizamos un campo tan ignorado como difícil de abarcar? En estos enfoques panorámicos de la poesía iberoamericana podemos constatar la inutilidad de las banderas vanguardistas, el silencio de movimientos emergentes que pregonen rupturas o anuncien estéticas inaugurales, al tiempo que escuchamos las palpitaciones contundentes de una poesía madura, de búsqueda, sí, pero sin la escandalosa rigidez del pensamiento, sin la pretensión excluyente del pasado o el anuncio de una sola vía para la novedad y el misterio, sin dejar de lado la herencia iluminadora de un siglo que marcó pautas, destruyó y construyó discursos con técnicas y herramientas capaces de abrir la mente y hacer visible lo que se mira pero no se ve, sin minimizar el inconsciente ni entronizar su automatismo, sin regatear un ápice a la inconformidad y sus aportes. Textos y contextos que transcurren entre afanes de libertad y rebeldía, entre manifestaciones y apego a las razones que apartan a la poesía y a los poetas más allá de la consigna, más allá de la premonición y el augurio, del anuncio, del futuro, de la represión y la causa, más allá, como deseaba Pound, de toda babosa emoción. La poesía conversa. [José Ángel Leyva] 15. Canções da Inocência e da Experiência de William Blake [tradução, prefácio e notas de Mário Alves Coutinho e Leonardo Gonçalves]. Crisálida. Belo Horizonte. 2005. Desde o pioneiro Escritos de William Blake, preparado por Alberto Marsicano para a L&PM, apareceram outras edições brasileiras de sua obra. Mas ainda é pouco, diante da riqueza e complexidade desse poeta-profeta, messiânico, arcaico, e ao mesmo tempo atual, um precursor do Romantismo que passou a ser efetivamente lido a partir do Simbolismo. Por isso, é oportuna esta tradução dos seus Songs, ocasião para leitura ou releitura do Tigre e tantas outras de suas peças famosas. Discípulo notório de Swedenborg e Jacob Boehme, Blake acrescentou-lhes um panteísmo e uma visão pagã de mundo. Para Elaine Pagels, em seu livro sobre evangelhos gnósticos, William Blake, observando esses retratos distintos de Jesus que aparecem no Novo Testamento, tomou o partido daquele que os gnósticos preferiam, no lugar da “visão de Cristo que vêem todos os homens”. Em apoio, cita trechos de The Everlasting Gospel, com sua relativização da percepção do Cristo: Ambos lemos a Bíblia noite e dia,/ Mas tu lês negro onde eu leio branco. Mas Blake foi, mais que gnóstico, um criador de mitologias pessoais. Povoou o universo de divindades. Todas, é claro, alegorias. Demiurgos ou arcontes não faltam, em sua crítica à religião patriarcal. Um deles é Nobodaddy, o Pai-Ninguém, chamado de Pai do Ciúme que, silencioso e invisível, se esconde entre as nuvens, e cujas palavras e leis, interditando o fruto proibido, são escuridão e obscuridade. (cito da edição da The Oxford University Press dos poemas de Blake – tradução minha) Outro, Urizen, homófono de Your reason, You reason, ou Our reason. Em O Livro de Urizen, é o Demônio que engendrou a Eternidade descrita como Estranha, estéril, escura e execrável. É como se O Livro de Urizen fosse uma combinação do Gênesis com o Apocalipse, na descrição dos embates do ensandecido Urizen com outros princípios criadores, o Eterno Profeta e Los, divindade primeira, derrotada, não antes de gerar Orc, o ser humano, de Enitharmon. Urizen por sua vez engendra contínuas aberrações: Thirel, Utha, Godna, Fuzon. Do pranto de Urizen nasce uma rede de lágrimas, a Rede da Religião, que por sua vez gera o esquecimento, a separação entre a esfera humana e divina. A visão de mundo desse poema é terrível: a vida transcorre sob a égide da morte:/ O Boi geme no matadouro/ O cão no frio umbral. (O Livro de Urizen foi traduzido por Alberto Marsicano em Escritos de William Blake, L&PM). Há mais personagens equivalentes aos arcontes do gnosticismo. Por exemplo, em Milton: Tudo tem seu Guardião, cada Momento, Minuto, Hora, Dia, Mês & Ano. […] Os Guardiões são Anjos da Providência em perpétua Vigília. E, em uma proliferação apocalíptica, em The Book of Los e The Four Zoas, entre outros de seus livros. Contudo, há um limite para a associação do gnosticismo pessimista a Blake; e esse limite é traçado por aquela parte da sua obra que o tornou um autor cultuado por místicos modernos, pelos beat e pela contracultura: O Casamento do Céu e do Inferno, as Canções da Inocência e Experiência e um de seus textos especificamente teológicos, All Religions are One. Nelas, proclama a alegria de viver. Expressa a crença em uma síntese – o casamento do céu e do inferno, a reconciliação de Deus e Satanás, da razão e do prazer – através da experiência poética. Declara expressamente o monismo ao afirmar a unidade de corpo e espírito: o Corpo ou Forma Exterior do Homem é derivado do Gênio Poético, em All Religions are One. Argumenta na direção contrária à negação gnóstica do corpo, nas passagens famosas de O Casamento do Céu e do Inferno: Energia é a única força vital e emana do Corpo. A Razão é a fronteira ou o perímetro circunférico da Energia./ Energia é a Eterna Delícia. Panteísta, em O Casamento do Céu e do Inferno celebrou o mundo como coisa sagrada, e não como criação equivocada de um demiurgo rancoroso. Adamita, proclamou a inocência original da Humanidade e, ainda, a regência do mundo e da própria religião pelo Gênio Poético, equivalente ao Espírito da Profecia e ao pneuma, à energia primeira. Uma interpretação para essa aparente oscilação em Blake, de um gnosticismo pessimista para um panteísmo otimista, pode ser dada à luz do seu pensamento político. Nesta nova edição brasileira das Canções, seus tradutores e prefaciadores, Mário Alves Coutinho e Leonardo Gonçalves, acentuam essa dimensão política e sugerem o Blake repórter, pela crítica social expressa em poemas como aqueles sobre os meninos limpadores de chaminés, explorados por seus empregadores: Ingênuo, místico, romântico (Blake é tido como um dos precursores do Romantismo): não seria mais apropriado dizer que Blake era um observador (talvez um repórter) extremamente realista, testemunhando e anotando as conseqüências e práticas da revolução industrial? Não seria ele, ao contrário de um louco, um narrador extremamente confiável dos horrores da implantação do capitalismo no primeiro país capitalista, a Inglaterra? Por isso, afirmam, Blake …realizou poesia de altíssimo nível, mas foi também um magnífico repórter e historiador de sua importantíssima época histórica. Todas as mudanças, horrores e belezas estão lá registradas. […] Além do mais, Blake foi um ardente republicano, apoiando as revoluções francesa e americana (foi processado por seus “escritos sediciosos”, mas não chegou a ser penalizado devido a eles): na verdade, seu comportamento era anarquista e revolucionário, e confrontou em quase todos os momentos e quase todas as circunstâncias o crescente império inglês, como mostra David E. Erdman em Blake, Prophet Against Empire. Ainda observam que… Seus escritos [de Blake] são anteriores a qualquer ideologia surgida na modernidade (anarquismo, socialismo, comunismo), seus livros proféticos têm muito a ver com aqueles deixados pelos profetas do Velho Testamento, que lutavam e esbravejavam contra a corrupção dos costumes do povo. De fato, Blake precede, cronologicamente, até mesmo fundadores do socialismo utópico como Godwin e Fourier. Portanto, faltando-lhe um vocabulário propriamente político, de doutrinas que viram a ser formuladas ou que ainda estavam em preparação, utilizou categorias teológicas para fazer crítica social. Politizou liricamente o gnosticismo e o hermetismo, e os projetou na descrição da realidade que o cercava. Tomou emprestadas categorias e vocabulário dessas doutrinas, para descrever o mundo. Por isso, foi simultaneamente arcaico, homem de seu tempo e inovador. Canções da Inocência e da Experiência é onde se encontram essas três dimensões. Pela qualidade da tradução e da edição, o leitor terá uma boa oportunidade para acompanhar o percurso desse repórter místico, e perceber o alcance e atualidade da sua rebeldia e aguda sensibilidade. [Claudio Willer] Livros para Agulha deverão ser enviados aos editores, nos endereços a seguir: Floriano Martins - Caixa Postal 52874 Ag. Aldeota - Fortaleza CE 60150-970 Brasil Claudio Willer - Rua Peixoto Gomide 326/124 - São Paulo SP 01409-000 revista de cultura # 46 fortaleza, são paulo - julho de 2005 discos da agulha 1. Trégua do absurdo, de Ataualba Meirelles. Produzido, arranjado e dirigido por Ataualba Meirelles. Pelourinho Discos. Salvador, Bahia. Contato: [email protected]. 2004. Depois de 23 anos de carreira como músico, Ataualba Meirelles lança pelo selo Pelourinho Discos, um disco de música instrumental bastante original, que mostra algo diferenciado no mercado de jazz e música instrumental brasileira. O CD levou dois anos sendo gravado no Virtual Studio em Salvador, conferindo a cada faixa um tratamento especial, tanto na composição quanto no arranjo. As músicas misturam ritmos brasileiros e jazz, com música indefinível trazendo um pouco do serialismo da música contemporânea, para o universo da música instrumental brasileira, o que torna o CD algo único no mercado. Todas as músicas são de autoria de Ataualba, que também assina os arranjos. Atuando profissionalmente como músico desde 1982 (baixista, arranjador e compositor), Ataualba foi um dos compositores mais originais durante os anos 80 e 90, dirigindo e arranjando diversos CDs de artistas locais e nacionais como Margareth Menezes, Gerônimo, Nana Meirelles, Xangai, Fábio Paes, Edil Pacheco, Batatinha. Recebeu vários prêmios da imprensa como arranjador e compositor, além de criar trilhas para cinema, Teatro e TV, inclusive em Luanda (Angola). 2. Carlos Malta & Pife Muderno, de Carlos Malta. Rob Digital. Rio de Janeiro. Contato: [email protected]. O segundo CD do multi-instrumentista carioca Carlos Malta vem despertando reações apaixonadas desde sua apresentação no Free Jazz Festival de 97. Carlos Malta, o virtuoso dos sopros,faz uma releitura contemporanea das bandas de pifano, viajando pelas raizes nordestinas com uma fluência que entusiasmou músicos de peso como Alceu Valença. O grupo conta ainda com a flautista Andrea Ernst-Dias e a percussão de Marcos Suzano, Oscar Bolão e Durval Pereira, e executa um repertório que tem Luiz Gonzaga, João do Vale, Edu Lobo, Caetano Veloso e Hermeto Pascoal, além do próprio Malta. Na faixa "O Canto da Ema", Lenine participa com um vocal inspirado e o grupo Pedro Luis e a Parede dá o toque de modernidade em Barrigada. 3. Do bom e do melhor, de Fernando Moura. Rob Digital. Rio de Janeiro. 2003. Contato: [email protected]. O nome do CD é Do Bom e do Melhor. A capa, que ostenta um prosaico caroço de feijão e as cores verde e amarelo, sugere um bocado sobre a receita brasileira e saborosa guardada na caixinha. Lá dentro tem Aquarela do Brasil, tem a jobiniana Chovendo na Roseira, tem o clarinete bem temperado de Paulo Moura. Mexendo as panelas (e o piano, os teclados, os arranjos...) está o músico Fernando Moura. Do Bom e do Melhor, seu novo trabalho solo, leva a tradição da música brasileira àquela viagem sem fronteiras que só a mais nova tecnologia pode proporcionar. Ao disco. Compositor, músico e arranjador requisitado, Fernando Moura volta e meia troca a rotina de trabalho duro em seu estúdio para tocar um projeto bem pessoal. Foi assim com o ótimo Cinema Tocado, de 1992. É assim, agora, com Do Bom e do Melhor. São 10 faixas, a começar por Aquarela do Brasil, do centenário Ary Barroso. ?É o nosso hino nacional?, explica. Na versão de Fernando Moura, o hino ganha intervenções deliciosas de Armandinho (bandolim) e Roberto Marques (trombone) ? além do dono da festa, ao piano. Paulo, de Fernando e Paulo Moura, traz o mestre dos sopros num vôo jazzístico sobre a empolgante linha de baixo de Jamil Joanes. A terceira faixa do disco, King?s Cross, é composição dele. Começa só com piano, sem pressa, e vai sendo puxada para o alto pelos sopros de Nilton Rodrigues (trompete e flueglhorn), Juarez Araújo (sax tenor), Roberto Marques (trombone) e Humberto Araújo (sax tenor). Chega lá em cima mesmo, e lá fica, para a alegria de quem está ouvindo, quando entra em cena a percussão de Marcos Suzano, Jovi e Beto Cazes. Aqui cabem parênteses. Fernando Moura deu-se à pachorra de convocar uma turma de amigos talentosos, nomes freqüentes nos créditos dos bons discos e shows do ramo, por uma causa nobre. ?Tudo, hoje, caminha para a tecnologia, a música inclusive. Mas tecnologia não substitui talento. Com os dois juntos chega-se a lugares inesperados?, acredita o músico. Fecha parênteses e lá vem música. O disco segue rodando com o samba que pulsa ao fundo da linguagem eletrônica de Batam (Fernando Moura e Nilo Romero). Depois, com os climas sugeridos por Jardim das Delícias e Alegria do Amor, criações de origens bem distintas. A primeira gravação de Jardim das Delícias, lá se vão 17 anos, marcou o início de uma fértil parceria musical entre Fernando e o percussionista Marcos Suzano. Alegria do Amor, que aqui ganhou um belo piano, foi composta para a trilha de uma novela japonesa ? um dos muitos trabalhos da usina sonora em que Fernando Moura transformou seu estúdio. A seção dos clássicos, que começou com Aquarela do Brasil, continua. Chovendo na Roseira, de São Tom Jobim, ganha arranjo novo e lindo, além da surpresa dos versos cantados em japonês por Miyazawa Kazufumi. A versão de Oração ao Tempo, criada para a peça Mais Uma Vez Amor, com Marcos Palmeira e Luana Piovani, foi aprovada pelo autor do original, Caetano Veloso. O CD ainda abriga Saudades de Bangu, tributo a Hermeto Pascoal com um pé na tradição de Radamés Gnatalli. Nela, o piano de Fernando Moura ganha a companhia de Carlos Malta (sopros), Henrique Cazes (cavaquinho), Ronaldo Diamante (baixo), João Castilho (violão) e um conjunto de cordas. Mais cordas eruditas, as do renomado Quarteto Bessler, se juntam ao arranjo sacolejante de Lapa Tonight, música que chamou a atenção do DJ americano Smash. ?Ele quer gravar um remix de Lapa Tonight para o selo Blue Note. Disse que é ?obviamente um hit dançante ?, conta. Os que não ligam o nome à música devem estranhar. Quem é esse cara? Por que tanta gente boa foi até o estúdio tocar com ele? Bom, Fernando Moura exercita há 20 anos o dom da onipresença musical. Já fez trilha sonora para filme do trapalhão Didi, programas de rádio e TV, tocou com Chuck Berry, quando o pai do rock esteve por aqui no Free Jazz Festival, com George Martin, em uma histórica visita do produtor dos Beatles ao Rio, e acompanhou uma constelação de artistas nacionais. Para responder com simplicidade, pode-se dizer que ele é o músico dos músicos. Aquele colega respeitado entre seus pares que, quando decidiu mostrar a cara mais uma vez, ganhou a pronta solidariedade de muitas feras, algumas citadas acima. Agora, com Do Bom e do Melhor, ele é nosso também. [Pedro Tinoco] 4. Camera Pop, de Iso Fischer. Produção Musical de Vicente Ribeiro. Curitiba, Paraná. 1999. Contato: [email protected]. Iso Fischer estudou piano desde os 11 anos de idade, mas se considera um autodidata em música, pois desde muito cedo tendeu a eleger seus próprios caminhos. Compõe sem parar, milita, conquista espaços para a classe dos músicos. Com seu grupo “Iso Fischer e amigos”, divide palco com significativos nomes: Almir Satter, Geraldo Espíndola, Paulo Simões, Guilherme Rondon. Em 1984, Nana Caymmi grava “Isso e Aquilo”, parceria sua com Guilherme Rondon, considerada, por júri de notáveis da Revista Playboy, a melhor canção popular brasileira daquele ano. Comprometido com a música popular brasileira, inspirado arranjador de vozes, tem uma participação de ponta no movimento que resulta em uma mudança na linguagem do canto coral popular brasileiro (seu arranjo para “Trem do Pantanal”, de Paulo Simões/Geraldo Roca é, ainda hoje, um “hit” do canto coral). Por estas e outras, é presença constante na imprensa de Campo Grande. Fala em canto cênico, em dança e voz em espaços abertos. Da música que nasce – brasileiramente – do corpo e do movimento. Música, dança e vida. Em 1999, com 47 anos de vida, cerca de duzentas canções compostas, Iso Fischer lança seu CD Camera Pop. Seu primeiro disco, apenas uma pontinha visível desse iceberg musical. Gravado no estúdio Trilhas Urbanas, entre janeiro e junho deste ano, com um repertório de treze canções que fluem, com admirável precisão e leveza, entre o camerístico e o pop, transitando pela melhor música popular brasileira, este disco é uma celebração ao talento, à diversidade e à maturidade artística do compositor. Uma verdadeira festa da colheita. Iso define assim este trabalho: “... um projeto que pretende expor, num pequeno espaço, a idéia do que possa ter sido um trabalho de composição de 30 anos. Não é fácil, principalmente se se levar em conta que meu jeito de compor escolhe várias direções.... O que interessa mesmo, é que você ouça, curta e absorva essa pluralidade da forma mais harmônica que puder. Espero que possa se divertir e se encantar...” Encanta-se quem ouve as canções de Iso. Seguimos nos encantando todos nós, os participantes desse parto. Vicente Ribeiro, que fez direção de estúdio e produção musical. Beto Meira, o produtor executivo. Jubal Sérgio Dohms, com seu encarte “o encontro das artes”, um belíssimo projeto gráfico, um capítulo à parte nesta benfazeja história. E toda a troupe de músicos, parceiros, cantores e amigos de Iso, que aceitaram, sem pestanejar, o seu convite para essa celebração. Afinal,... ...essa é a festa, malandro! [Etel Frota] 5. Duos II, de Luciana Souza. Nossoestúdio. São Paulo. 2005. Contato: [email protected]. Neste instante em que está lançando Duos II, a paulistana Luciana Souza acaba de ganhar numa categoria e participar em outra o prêmio mais cobiçado entre os músicos de jazz no mundo: foi escolhida como a melhor cantora e ainda teve relevante participação no album Concert in garden, de sua colega e amiga Maria Schneider. A importância desse prêmio não deve ser avaliada pela recompensa financeira nem pelo brilho do troféu, mas por ser outorgado por um colegiado formado pelos 450 membros da Associação dos Jornalistas de Jazz dos EUA. Ser premiada em Nova York, onde mora, não é uma novidade para a paulistana de 38 anos, filha do baiano Walter Santos e da carioca Tereza Sousa. Seu CD The poems of Elizabeth Bishop and other songs, pelo selo alternativo Sunny Side, ficou em quinto lugar no ranking de melhores lançamentos jazz e pop do crítico Ben Ratliff, do New York Times, em 2000. No ano seguinte, ela voltou a comparecer na prestigiosa lista com o primeiro desta série, o Brazilian Duos, no qual interpretou, acompanhada por violonistas de primeiro time, entre os quais o pai, clássicos da MPB, principalmente da Bossa Nova. E chegou à final do Grammy por Brazilian Duos e pelo penúltimo CD, North & South. Entre os dois Duos, Luciana deu vazão à paixão à primeira vista que experimentou pelo poeta chileno Pablo Neruda, de que musicou poemas vertidos para o inglês. Gravado em São Paulo no Nossoestúdio, de propriedade de seus pais, que hoje produzem principalmente jingles, Luciana retomou em seu sexto CD a fórmula do primeiro Duos. Acompanhada por dois dos quatro violonistas do projeto anterior, Romero Lubambo e Marco Pereira, ela introduziu outros dois virtuoses do instrumento, Swami Júnior e Guilherme Monteiro. Com o timbre, o balanço e a afinação privilegiados com que presenteou o público que lotou a Sala São Paulo no fim do ano, na companhia da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (regida por Roberto Minczuk) e da Banda Mantiqueira, num espetáculo inesquecível, ela passeia com intimidade incrível da dolência de clássicos como Modinha (da dupla Tom Jobim e Vinicius de Moraes) à brejeirice moleca de Chorinho pra ele (de seu padrinho, o multiinstrumentista alagoano Hermeto Paschoal). Duos, o primeiro, já era uma pérola sem jaça. Este segundo vai além, pois ao extraordinário domínio técnico adquirido na Unicamp, onde lecionou, e lapidado no Berklee College of Music, e no Conservatório New England (em Boston), nos quais estudou, e à sensibilidade aperfeiçoada da genética, ela acrescentou a dura vivência de uma profissional da música nos palcos e estúdios. Abrindo o CD com Sai dessa (de Nathan Marques e Ana Terra) e o encerrando com Você (de Walter Santos e Teresa Souza), ela passa por Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, Francis Hime, Chico Buarque, Caetano Veloso e por uma canção dela, entre outros autores, com intimidade, mas sem displicência. Como os craques da bola, ela trata o tímpano do ouvinte com intimidade, mas sem displicência, com humildade, mas também com noção da própria grandeza. [José Nêumanne Pinto] 6. Maogani, de Maogani – Quarteto de Violões. Rob Digital. Rio de Janeiro. 1997. Contato: [email protected]. Integrado por Carlos Chaves, Marcos Alves, Paulo Aragão e Sérgio Valdeos, músicos de formação erudita e popular, o Quarteto de Violões Maogani concilia várias tendências musicais com sonoridade, técnica e sensibilidade. Após se apresentar em vários espaços cariocas como Rio Jazz Club, Casa de Cultura Laura Alvim, Sérgio Porto, MIS e Teatro Rival (convidado de Leila Pinheiro), o grupo sentiu-se maduro para lançar seu primeiro disco. O CD espelha a forte influência da música brasileira, jazzística e latino-americana no quarteto, que explora ao máximo as riquezas do violão. Participam do disco: Guinga (que os descobriu em uma escola de música), Leila Pinheiro, Zé Nogueira, Jane Duboc e Célia Vaz. O repertório abrange autores brasileiros consagrados como Garoto, Baden Powell e P.C. Pinheiro, Edu Lobo e Egberto Gismonti, inclui inéditas de Guinga, Mario Adnet, Marco Pereira e faixas de Carlos Zaire, Piana e Manzi. 7. Tente descobrir, de Marimbanda. Estúdio Ararena. Fortaleza, Ceartá. 2005. Contato: [email protected]. Em sua estréia em disco (2001), o quarteto Marimbanda já apresentava uma tal integridade sonora em seus arranjos e composições que punham em dúvida essa condição de estreante. A rigor, seus integrantes seguiam a trilha de uma substanciosa formação musical e, ali reunidos, davam provas de uma afinidade mágica entre si. Dar continuidade a essa magia costuma ser desafio maior, e agora temos este segundo CD, de sugestivo título – Tente descobrir – que é ao mesmo tempo descoberta e reencontro. A exemplo do primeiro, tanto cultivam uma tradição musical quanto lhe imprimem uma leitura particularíssima que confirma sua vibrante atualidade. Ainda que prefiram o epíteto de música instrumental brasileira, o que fazem é jazz do mais intenso, considerando os desdobramentos dessa música. A criação artística é um processo perene de incorporação de gêneros, técnicas, estilos etc., onde não cabem reducionismos de espécie alguma, incluindo as mais sutis manifestações regionalistas e/ou nacionalistas. Em meio a isto a Marimbanda chama para si uma atenção em especial: o fato de ter em seu baterista, Luizinho Duarte, o principal compositor. Faz afluir uma tradição onde se destacam nomes como o estadunidense Max Roach, o finlandês Edward Vesala e o brasileiro Pascoal Meirelles, músicos onde a versatilidade criadora extrapola um âmbito apenas rítmico e alcança verdadeira sofisticação melódica. Composições como Momento difícil, Manhã e Pra te dizer algo assim, seguramente incluem a Luizinho Duarte entre seus pares mais talentosos. Apesar dessa destacada peculiaridade da Marimbanda, não se trata de grupo centrado em seu baterista, mas antes de um afortunado quarteto em que dialogam com intensa musicalidade seus integrantes. O flautista Heriberto Porto tem uma trajetória fascinante, pela ponte que traça entre música erudita e popular, com acento na improvisação – em face de seus estudos na Bélgica que resultaram na gravação de dois Cd’s neste país. Pianista e acordeonista, Ítalo Almeida é também compositor e neste Tente descobrir comparece com três peças importantes, Babi, Panorâmica e Frevo agoniado. E coube a Miquéias dos Santos a delicada tarefa de substituir o baixista Jr. Primata na formação original do quarteto, aspecto que possui de delicado apenas essa inevitável observação, uma vez que também ele é um músico extraordinário e – o mais importante – completamente afinado com o ambicioso projeto da Marimbanda. São todos músicos que atuam em áreas distintas e complementares, mas cujo encontro revela um acento especial que não se trata, como disse a crítica – entre entusiástica e irresponsável - quando da aparição do CD de estréia do grupo, de algo impressionante na música instrumental brasileira. Evidente que atravessamos um período conturbado onde a técnica não está a serviço da originalidade, mas antes de uma pasteurização de conceitos e estilos, ocasião em que afloram de maneira bastante sedutora os jargões nacionalistas nos moldes de uma macumba para turista. Muito da música instrumental que se faz no Brasil está valiosamente fora desse circuito levianamente atrativo, e poderíamos aqui fazer referência a músicos como Paulo Gusmão, Humberto Araújo e Henrique Cazes. Desnecessário seria remeter a uma tradição que conta com gente como Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal e Paulo Moura. Contudo, é de tamanho interesse a manutenção da ignorância que a todo instante um crítico tem que gesticular didaticamente. Marimbanda inclui-se já em um universo bastante sólido e lamentavelmente pouco difundido entre nós. Este Tente descobrir é quando menos sinal de uma tal integridade sonora que nos incita mesmo a tentar descobrir o que se passa conosco, ou seja, por que essa música nos toca tanto e ao mesmo tempo não a compreendemos como parte ativa de nossa vida. Reconhecê-la como nossa não seria dar seqüência a nacionalismos tacanhos, mas antes se decidir a fazer parte do mundo. Marimbanda faz parte do mundo. Cabe a nós tentar descobrir como entrar nesse mundo. [Floriano Martins] 8. Encontro das águas, de Mário Checchetto e Alexandre Zamith. Zabumba Records. São Paulo. 2002. Contato: [email protected]. Mário Checchetto no saxofone e Alexandre Zamith ao piano interpretam um repertório formado prioritariamente por composições próprias, que se harmonizam com a proposta musical do duo: conciliar algumas características idiomáticas da música popular brasileira com a improvisação jazzística e explorar possibilidades oferecidas pela música erudita contemporânea. Os dois intérpretes combinam sólidas formações teóricas, com passagem pelo erudito, com uma grande vivência musical, para exibir um trabalho elaborado e maduro.As exceções ao repertório autoral são as composições Maracatu de Egberto Gismonti e Retrato em Branco e Preto de Tom Jobim e Chico Buarque. 9. PUTUMAYO WORLD MUSIC Eleita pela revista Downbeat como o selo número 1 do gênero, a Putumayo World Music sabe como ninguém fazer da música o maior veículo de integração cultural do mundo. Combinando o tradicional ao contemporâneo e acolhendo a diversidade musical dos diferentes cantos do globo, a Putumayo inova e faz jus ao termo World Music, oferecendo a você a genuína música do mundo. Não há fronteiras que resistam às melodias e à variedade de ritmos da Putumayo World Music. Do blues norte-americano até os sons exóticos do Oriente Médio e da África, passando por toda a riqueza da música latina e pelos diferentes povos da Europa, a Putumayo World Music é a estrada certa para quem quer participar de uma jornada sobre os trilhos da música do mundo. Apresentamos a seguir três discos do selo: I. MALI . 1. Moussa Diallo Maninda 2. Habib Koité and Bamada Kanawa 3. Idrissa Soumaoro Ouili Ka Bo 4. Tinariwen Amassakoul ‘N’ Ténéré 5. Ramatou Diakité Gembi 6. Kélétigui Diabaté Koulandian 7. Tom Diakité Fala 8. Boubacar Traoré Kanou II. SOUTH PACIFIC ISLANDS 1. Te Vaka Luliana 2. Matato’a Mana Ma’Ohi 3. Te Vaka Sei Ma Le Losa 4. Telek Abebe 5. Te Vaka Haloa Olohega 6. OK! Ryos Nengone Nodegu 7. Whirimako Black Wahine Whakairo 8. Te Vaka Nukukehe 9. O-shen Siasi 10. OK! Ryos Co Era So III. SAHARA LOUNGE . 1. Sharif Shiraz 2. Nabiha Yazbeck Astahel 3. Bahia El Idrissi Arhil 4. Maya Nasri Khallini Biljao 5. Dahmane El Harrachi Ya Rayah 6. Soap Kills Dub4me 7. Nickodemus feat. Carol C. Cleopatra in New York 8. Yasser Habeeb Elama 9. Ilhan Ersahin Fly 10. Jasmon feat. 9. Issa Bagayogo Bana 10. Mamou Sidibé Bassa Kele 11. Habib Koité and Bamada Saramaya (Live) 11. Gurejele Watolea Mohammed Mounir Hanina 11. Justin Adams Desert Road 12. Toufic Farroukh feat. Yasmine Hamdam Lili S’en Fout Discos para Agulha deverão ser enviados aos editores, nos endereços a seguir: Floriano Martins - Caixa Postal 52874 Ag. Aldeota - Fortaleza CE 60150-970 Brasil Claudio Willer - Rua Peixoto Gomide 326/124 - São Paulo SP 01409-000 . galeria de revistas . exégesis (Porto Rico) [Floriano Martins] três revistas hispano-americanas: Archipiélago (México), Maga (Panamá), Matérika (Costa Rica) [F.M.] revistas hispano-americanas, I: um olho no passado recente [F.M.] revistas hispano-americanas, II: um encontro de duas linguagens [F.M.] triplov (Portugal): diálogo com Maria Estela Guedes [F.M.] rascunho (Brasil): diálogo com Rogério Pereira [Claudio Willer] blanco móvil 1 (México): diálogo com Eduardo Mosches [F.M.] jornal de poesia (Brasil): diálogo com Soares Feitosa [F.M.] digestivo cultural (Brasil): diálogo com Julio Daio Borges [C.W.] el artefacto literario (Suécia): diálogo com Mónica Saldías [F.M.] Jornal da ABCA (Brasil): diálogo com Alberto Beuttenmüller [F.M.] O Escritor (Brasil): diálogo com Erorci Santana [F.M.] Fokus in Arte (Brasil): diálogo com André Lamounier [F.M.] Storm (Portugal): diálogo com Helena Vasconcelos [Maria João Cantinho] Punto Seguido (Colombia): depoimento de Oscar Jairo González Babel (Brasil): diálogo com Ademir Damarchi [C.W.] Corner (Estados Unidos): diálogo com Carlota Caulfield [Maria Esther Maciel] Arquitrave (Colombia): diálogo com Harold Alvarado Tenorio [F.M.] Fronteras (Costa Rica): depoimento de Adriano Corrales Arias Salamandra (Espanha): apresentação de Lurdes Martínez Tropel de Luces (Venezuela): diálogo entre Pedro Salima & amigos (Antonio Guerra, Luis Aníbal Velasquez, Mirimarit Parada, Jesús Cedeño y Eduardo Gasca) Iararana (Brasil): diálogo com Aleilton Fonseca [F.M.] Amauta (Peru): ensaio de Carlos Arroyo Reyes Portal de Poesía Contemporánea (Espanha): depoimento de maría martín arévalo Alforja (México): diálogo com José Vicente Anaya & José Ángel Leyva [F.M.] Capitu (Brasil): diálogo com Edson Cruz [F.M.] Común Presencia (Colombia): diálogo com Gonzalo Márquez Cristo & Amparo Osorio [F.M.] Cult (Brasil): diálogo com marcelo rezende [C.W.] Malabia (Espanha): diálogo com Federico Nogara [F.M.] Vaso Comunicante (México): diálogo com Ludwig Zeller & Susana Wald [F.M.] Matérika (Costa Rica): diálogo com Alfonso Peña & Tomás Saraví [F.M.] Palavreiros (Brasil): diálogo com José Geraldo Neres [C.W.] Piel de Leopardo (Argentina): diálogo com Jorje Lagos Nilsson [F.M.] Blanco Móvil 2 (México): diálogo com Eduardo Mosches [F.M.] Literatura on line (Brasil): diálogo com Laudemir Guedes Fragoso [Edson Cruz] Suplemento Literário Minas Gerais (Brasil): artigo de José Aloyse Bahia Telescópio (Brasil): diálogo com Everi Rudinei Carrara [C.W.] Alpha (Chile): depoimento de Eduardo Barraza editores da agulha . revistas em destaque . .. exégesis (porto rico) Ao traduzir alguns ensaios de José Luis Vega (Três entradas para Porto Rico, Fund. Memorial da América Latina, São Paulo, 2000), observei que a realidade política e cultural de Porto Rico possui um radical de violência, cujo marco é o despejar de forças militares estadunidenses em suas praias, em 1898. Até hoje o país não existe como tal, e sofre as adversidades da colonização em seu cotidiano – imposição de cidadania estadunidense, recrutamento militar, ameaça de distorção do próprio idioma nas escolas, cerceamento dos direitos políticos etc. Em meio a tudo isto, impressiona a condição de resistência cultural daquele povo. Talvez tenhamos perversamente nos acostumado àquela situação, sendo raro que uma voz de eco internacional repercuta sua indignação. No entanto, as principais vozes internas, em Porto Rico, estão sempre alertas e atuantes, e graças a elas uma cultura se produz e se individua, ao longo dos tempos, quando menos intrigando aqueles que pensem o contrário. O próprio José Luis Vega, ao fundar a revista Ventana, nos anos 70, logo em seu segundo número alertava: "Os artistas e escritores porto-riquenhos de hoje devem ter um compromisso moral, um pacto digital, com a libertação de nosso povo", ao mesmo tempo em que lembrava que "esse pacto não pode nem deve significar a míngua da qualidade artística de sua obra; pelo contrário, deve significar a superação constante de sua obra e de si mesmo como indivíduo". Politicamente Porto Rico é um fantasma. Não existindo como nação, tampouco existe como célula estadunidense. Sua cultura, no entanto, firmou-se e afirmou-se, podendo contar com uma leitura consistente no tocante aos inúmeros desdobramentos desde o Modernismo até os dias de hoje. Em cada uma das etapas vencidas por essas instâncias estéticas, encontramos vozes importantes (sobretudo na literatura e nas artes plásticas) destacando-se naquela região. Como costuma ocorrer em diversas instâncias, é de suma importância a presença de revistas de cultura, que calibram as relações entre criação e produção. Dentre as que alcançaram destaque na trajetória cultural portoriquenha, cito Ventana, Guajana, Mester e Zona: carga y descarga, que desempenham destacado papel nos anos 60 e 70. Nas duas últimas décadas, podemos pensar tanto em Mairena quanto em Exégesis. A primeira, criada e dirigida por Manuel de la Puebla, há poucos meses encerrou um ciclo de 20 anos de existência, fechando suas páginas e propiciando o surgimento de outra publicação, Julia –homenagem a Julia de Burgos, uma das máximas expressões literárias daquele país. Já Exégesis, surgiu em 1986, animada por um grupo de intelectuais vinculados ao Colégio Universitário de Humacao, tendo à frente Andrés Candelario. Desde o princípio, havia entre eles o poeta Marcos Reyes Dávila, que viria a dirigir a revista em 1990, mantendo-se no cargo até hoje, exceto por uma curta passagem de Carmen Alverio e Rogelio Ruiz Gómez, no período de 1994/95. Tendo sido concebida como veículo de expressão pública das atividades intelectuais da referida intelectualidade, Exégesis, no entanto, não se fechou àquele mundo acadêmico, desde cedo compreendendo que "o crescimento intelectual só é alcançado no plano bidirecional do diálogo" – no dizer justamente de Marcos Reyes Dávila –, ao mesmo tempo em que seu corpo editorial buscava uma perspectiva de expansão editorial que não se viabilizaria caso reflexão e investigação de cunho científico não se aliassem à criatividade intelectual e artística. Assim é que Exégesis, desde o princípio, mostrou-se visceralmente comprometida em romper o muro que separa academia e cultura. E o fez com base em um rígido critério tripartido, que permite igualdade de espaço para autores da instituição que a publica, do país e do exterior, em momento algum limitada essa participação a vínculo acadêmico. Logo nos perguntamos como se viabiliza um projeto desses, e seu diretor nos informa que Exégesis tem recebido "o auxílio espontâneo de toda a comunidade acadêmica". Compreendida como um bem comum, deve ser zelada por todos. A este respeito, segue afirmando Reyes Dávila que "as revistas são tanto instrumentos de expressão e divulgação como o são de projeção e promoção", de maneira que "estão sempre articuladas a partir de circunstâncias invariavelmente diferentes que as definem". Partindo inicialmente para ousada aposta em manter correspondência com outros países, logo Exégesis teria suas páginas marradas pela presença de nomes como Elvio Romero, Ernesto Cardenal, Floriano Martins, Isabel Allende, Jorge Rodríguez Padrón, José Donoso, José Roberto Cea, Manuel del Cabral, ao mesmo tempo em que aí estabelecia um diálogo que viria a propiciar a difusão, no exterior, daqueles nomes essenciais da cultura porto-riquenha. Compreensão bidirecional do diálogo, algo bem distante do mero jogo de troca de favores que se enraizou na cultura brasileira. Graças a essa atitude despojada – admirável lição para o resto da América Latina –, uma pequena comunidade acadêmica tem conseguido dialogar com o mundo. Exégesis hoje se encontra inteiramente disponível na Internet, ao mesmo tempo em que segue recebendo pedidos de assinaturas de vários países, o que prova, além do mais, que as mídias são conjuntivas e não disjuntivas. Vale ainda citar as lúcidas palavras de seu diretor, Marcos Reyes Dávila: "Cremos em Exégesis que o peso posto sobre uma noção fátua e flatulenta da incerteza é um lastre, uma rémora, um freio e um retrocesso histórico a formas análogas à da torre de marfim modernista de finais do século XIX. Cremos que a reflexão e compreensão da realidade não se robustece em um meio inativo, porque a reflexão resulta fenomenologia, elucubração de imagens vácuas, placebo inerte e desnutridor – como o observou Marinello –, além de galã ou vedete – conforme seja o caso – que se esgota na figuração retórica." As revistas chegam à nossa mesa de maneira diversa. É possível que não percebamos além daquele número que folheamos. No entanto, carregam em si toda uma história, espelhos preciosos da cultura de um país. Nos habituamos, por alguma perversão quase irreversível, a estabelecer padrões de cultura. A telenovela no Brasil, nos Estados Unidos e no México, por exemplo, é um recorte magnífico de uma aparentemente distinta forma de decadência cultural nos três países. Outro exemplo: o Uruguai vive hoje, em sua imprensa diária, o fantasma da contenção de despesas, que rouba fôlego da área menos importante à vida útil de uma empresa. Qual? A cultura. A imprensa no Brasil já se curvou a todas as exigências de mercado – na verdade, ajudou a fundar todas elas. Por que misturo os assuntos? Porque o fluxo de capital, de alguma maneira, acabou nos convencendo que o homem não é mais o lobo do homem, mas sim o agiota do homem. Floriano Martins Exégesis. Revista del Colegio Universitario de Humacao, UPR. Diretor: Marcos Reyes Dávila ([email protected]). Acesso virtual: http://cuhwww.upr.clu.edu/exégesis. 2.000 exemplares, formato 21,5x28 cm, 100 páginas, periodicidade quadrimestral. Matéria gentilmente cedida pelo jornal O Escritor, da UBE - União Brasileira de Escritores. . revistas em destaque . .. três revistas hispanoamericanas: archipiélago, maga, matérika 1 Investimentos na produção cultural tendem a crescer ou diminuir de acordo com o influxo de nomes envolvidos ou com a solidez das propostas apresentadas? Predileção por aquelas produções com maior potencial de visibilidade definiria o assunto? A questão giraria unicamente em torno do estratégico lobby? Essas indagações me vêm à tona quando penso nas razões da rara circulação de revistas de cultura no Brasil. Rigorosamente não temos tradição alguma nessa área de produção cultural. Se penso no aspecto da credibilidade, logo me pergunto o que leva o Banco Santander Mexicano a investir em uma publicação naquele país. O próprio estado mexicano, através do IMSS – equivalente de nosso INSS –, com alguma freqüência patrocina revistas de cultura. Igualmente contribuem as universidades, privadas ou não. Caberia então pensar no impedimento de circulação de informação e reflexão cultural, no Brasil, através desse veículo de comunicação. Em 1997 a UNESCO deu respaldo cultural à revista Archipiélago, do México, considerando-a importante instrumento de integração cultural latino-americana. O fato coincidia com o segundo aniversário da publicação, e seu diretor, Carlos Véjar Pérez-Rubio, sentia orgulho ao dizer que Archipiélago se trata de "uma publicação nascida no México em 1995 como expressão de um vasto projeto cultural que tem o propósito de contribuir para a unidade dos povos da América Latina e do Caribe, incluindo as comunidades de origem hispana residentes em países como Estados Unidos e Canadá". É bem verdade que a revista surgiu em 1992, quando teve o número zero publicado, e desde aquele momento buscou articulação entre os vários países estabelecidos como meta, até finalmente definir uma política de ação e conta hoje com 31 números publicados, rigorosamente dentro de uma circulação bimestral. Carlos Véjar nos informa um pouco mais: "O projeto Archipiélago e sua revista tem se apresentado até aqui em importantes eventos culturais realizados em Barbados, Bolívia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, França, México, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela. Sua proposta de articular uma rede de centros culturais onde se possa desenvolver o movimento cultural integrador, intitulada Casas de Nossa América, tem sido recebida com grande interesse e várias instituições se manifestaram dispostas a apoiá-la." Archipiélago surge não isoladamente como uma revista de cultura, mas antes como um sólido projeto de integração cultural, que envolve tanto a criação de um programa editorial como o fluxo de navegação, a circulação pelos vários países, troca de idéias etc. A revista em si tem desempenhado um duplo e importante papel, o de informar acerca de produções culturais em praticamente toda a América e discutir mais detidamente aspectos essenciais à compreensão dessa realidade. Tanto encontramos abordagens genéricas – a dimensão cultural da globalização, a cosmovisão centro-americana – como específicas – estudos sobre a obra de inúmeros artistas, ao lado de ensaios fotográficos, poemas, entrevistas etc., abrangendo um universo amplo de criação e crítica. Some-se a isso a realização de encontros que propiciam a discussão em torno de perspectivas culturais envolvendo o continente de fala hispânica e suas relações complexas. Naturalmente que o Brasil poderia participar desse importante projeto não fosse tão leviana a concepção de si mesma que define nossa cultura. A complexa leitura que nos cabe acerca de uma unidade latino-americana é assunto tratado com diversidade e freqüência em Archipiélago, o que permite compreender melhor a trama que envolve matizes culturais que se aproximam e se distanciam entre si. Haverá aspectos de ordem política ou econômica separando o Brasil da América Hispânica? Como aplicar a estatística em nossa condição irmanada de terceiro mundo? O idioma definirá o panorama cultural? Naturalmente não se pode aqui falar em unidade perdida. Quando menos o assunto seria da ordem de uma falha estratégica, de uma veleidade cultural. As páginas de Archipiélago estão tomadas de discussão dessa ordem, buscando elucidações e ambientação prática para o tema. Ao mesmo tempo, em momento algum se deixa de considerar a criação artística, reproduzindo obras plásticas e versos, sempre cuidando de não se tornar refém dos nomes recorrentes, buscando uma cumplicidade de pauta entre o conhecido e o desconhecido, papel fundamental que deve desempenhar um editor em qualquer circunstância. Archipiélago bem poderia encontrar entre nós uma correlação de interesses com a revista Nossa América, da Fundação Memorial da América Latina. Não resta dúvida que há um aspecto aproximativo, quase confluente, na leitura de pauta de ambas publicações. E logo ressurgem as inquietações: por que não abraçamos uma causa – qualquer uma – com veemência? Com que gratuita indiferença ou superioridade observamos os hispano-americanos? E o que impede uma produção consistente que permita a circulação sistemática de Nossa América? Romper isolamentos provocados pela presunção talvez seja um bom estopim. 2 Ao contrário do México, onde se pode contar com uma larga tradição na circulação de revistas culturais, no Panamá o que encontramos é um território bastante inóspito, onde a atividade intelectual carece de condições diversas de produção e difusão, não havendo editoras e sendo bastante reduzido o número de livrarias. Em meio a este quadro, torna-se ainda mais abnegado o esforço do poeta e prosador Enrique Jaramillo Levi em manter funcionando a revista Maga, criada por ele há quase duas décadas. Em conversa com ele, revela-se a origem da revista: "Maga nasce em fevereiro de 1984, o mês em que morre esse grande escritor argentino, Julio Cortázar. Seu nome tem dois significados: é uma homenagem a ele pelo personagem de La Maga em seu famoso romance Rayuela; mas também esta revista é, e tem sido desde o princípio, uma verdadeira maga da cultura literária no Panamá, pela dificuldade que significa fazer cultura neste país, ter estímulos, receber apoio econômico, inclusive ter leitores fiéis ou permanentes… é como tirar coelhos de cartola e lenços das mangas, embora seja muito mais difícil, porque vivemos ainda a fazer malabarismos e aparentes mágicas para seguir adiante sem cair o nível de qualidade gráfica e de conteúdos, sem deixar-se vencer pelos numerosos obstáculos." Maga tem representado um papel fundamental na cultura panamenha, sobretudo no que diz respeito à literatura e à reflexão crítica sobre cultura e sociedade. "Espaço aberto à criatividade literária e à análise crítica", como ressalta Jaramillo Levi, em sua página receberam acolhida generosa tanto escritores já conhecidos como também tem sido palco de estréia de muitos deles, mostrando-se igualmente aberta ao dialogar com a cultura de outros países. Pergunto-lhe então como tem funcionado Maga durante tantos anos: "Maga já morreu duas vezes, e por duas vezes ressuscitou. Sempre por motivos econômicos. Suas três etapas são: 1984-1987; 1990-1993; 1996 até o presente. Agora é uma co-edição entre a Fundação Cultural Signos, que presido, e a Universidade Tecnológica do Panamá, onde sou coordenador de difusão cultural. Mas estamos entrando uma vez mais em uma etapa difícil. Há uma forte contração econômica no país e os empresários estão fechados no apoio à cultura (nunca fizeram muito por ela), de maneira que no momento estamos circulando sem anunciantes." - O que representa esta Fundação no âmbito da cultura panamenha? "A Fundação Cultural Signos nasce em abril de 1997 como uma alternativa à indiferença e incapacidade dos governos de turno para implementar uma política editorial coerente e sólida que contribua para tirar do anonimato um número considerável e crescente de novos escritores panamenhos que, já a princípio da década de 90, têm material literário de uma qualidade mais que decorosa e, além do mais, desejos de dá-la a conhecer como um primeiro passo para seu desenvolvimento intelectual e humano." - Além da função editorial e da co-produção da revista Maga, o que mais tem realizado? "Como complemento às iniciativas editoriais desta Fundação, também propusemos, desde o princípio, duas outras, igualmente importantes para a formação de novos escritores de talento: a docência – criação de seminários, oficinas literárias, conferências e mesas-redondas com temas afins à literatura, organização de encontros de escritores e lançamento de livros – e a criação de incentivos literários específicos." Nos 45 números até aqui publicados, a revista Maga é o mais sólido veículo de difusão da literatura no Panamá. Deveria haver um esforço conjunto de toda a parcela da sociedade panamenha que lida com cultura, no sentido de não se permitir a extinção desse empenho estóico de Jaramillo Levi, pelo notável estímulo à criação literária em que se converteu. Fato é que as duas entidades que a mantêm hoje são responsáveis pela produção majoritária de livros no país. E Maga é a câmara de eco de toda essa produção. Eventuais discrepâncias devem ser consideradas em aberto, e levadas a público, o que só reforçará o panorama cultural no Panamá. 3 Quaisquer dificuldades apontadas até aqui em nada justificam a inação e a má aplicação de recursos. Em muitos países a condição é quase inteiramente nula no que diz respeito à produção de uma revista de cultura. Em outros simplesmente o obstáculo radica em uma sutil manifestação da usura, o inconciliável ego daqueles que detêm situações decisivas de poder (qualquer poder). Vem da Costa Rica um exemplo de desprendimento e compreensão da realidade dada. O contista Alfonso Peña, hoje ao lado do poeta Guillermo Fernández, edita a revista Matérika. Com apenas três números publicados, a revista já afirma uma ousadia estética, ao somar obra gráfica e literária em um objeto que se destaca pela contundência plástica e intelectual. A cada edição é convidado um artista plástico, que a ilustra completamente. Os dois primeiros números foram ilustrados pelos artistas costarriquenhos Mario Maffioli e Hernán Arévalo, enquanto que o terceiro esteve a cargo do brasileiro Eduardo Eloy. Em suas páginas já foram publicados escritores como Saúl Ibargoyen, Alfonso Chase, Mario Camacho, e inclusive uma larga apresentação de poetas brasileiros, incluindo Claudio Willer, Dora Ferreira da Silva e José Santiago Naud, dentre outros. Contudo, o que importa aqui destacar é a antecedência deste projeto, cujo primeiro momento encontramos ainda nos anos 80, quando o mesmo Alfonso Peña cria a revista Andrómeda, aventura originária que circulou em duas dezenas de números e propiciou um diálogo entranhável entre escritores e artistas na Costa Rica e diversos outros países. Diante de impedimentos corriqueiros, a revista acabou deixando de existir. Nos anos 90 surgiria um segundo momento, desta vez em forma de jornal, cujo nome era International Graphiti, também com circulação de mais de 10 números. Em todos estes momentos esteve sempre presente a determinação de Alfonso Peña pelo estímulo ao diálogo como maneira decisiva de se fazer uma determinada cultura compreender-se a si mesma, vindo então a afirmar-se como tal. O registro de marca Andrómeda hoje foi convertido em uma galeria de arte que igualmente desempenha funções editoriais, por onde se publica a revista Matérika. O que melhor caracteriza uma defesa estética de Matérika é a abertura para um diálogo internacional, talvez medida de um cosmopolitismo que encontramos em San José, mas sobretudo uma compreensão de que os governos em nossos países, na América Latina, já são suficientemente responsáveis por toda forma de isolamento. Sendo uma afirmação de pluralidade, Matérika é igualmente uma afirmação da cultura costarriquenha. Ao lado da revista, confirmando o projeto inaugural de Alfonso Peña, que reúne nomes de peso na cultura daquele país, consolida-se galeria de arte, produtora de vídeos e editora, permitindo um raio de ação mais amplo e consequentemente um diálogo mais consistente. Floriano Martins Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América. Diretor general: Carlos Véjar Pérez-Rubio. Av. Baja California 349, Colonia Condesa, México DF 06170 México. Acesso virtual: http://www.archipielago.com.mx. Endereço eletrônico: [email protected]. 4.000 exemplares, 90 páginas, periodicidade bimestral. Maga. Revista Panameña de Cultura. Editor: Enrique Jaramillo Levi. Apartado Postal 10276 Panamá, 4 Panamá. Acesso virtual: http://www.utp.ac.pa/revistas/maga_actual.htm. Endereço eletrônico: [email protected]. 1.000 exemplares, 80 páginas, periodicidade quadrimestral. Matérika. Editores: Alfonso Peña e Guillermo Fernández. Apartado Postal # 159-1002, Paseo de los Estudiantes, San José, Costa Rica. Acesso virtual: http://www.zurqui.com/crinfocus/and/art.html. Endereço eletrônico: [email protected]. 2.000 exemplares, 80 páginas, periodicidade trimestral. Matéria gentilmente cedida pelo jornal O Escritor, da UBE - União Brasileiras de Escritores. . . revistas em destaque . .. revistas hispanoamericanas, I: um olho no passado recente São duas as circunstâncias básicas que norteiam a criação de uma revista literária: concentram em suas páginas os postulados estéticos de um determinado movimento ou escola, ou então se realizam na simples difusão eclética de textos. Os dois casos são perfeitamente corretos desde que o editorial defina e assuma a tendência escolhida. Mais recentemente as revistas se inclinam pela segunda opção, o que nos leva a uma aparente digressão: o que há por trás da reduzida ocorrência de movimentos literários ao longo das últimas décadas, hoje praticamente extintos? Entre os muitos valores que perdemos encontram-se o da palavra dada e o de compartilhar interesses. De todas as formas o homem foi levado a isolar-se em si mesmo e a não encontrar mais significado em honrar princípios e compromissos. Isto se deu de maneira tão simples que é um absurdo que tenhamos caído em artifício tão pouco engenhoso. E qual foi este astuto mecanismo? Isolar imagens, conceitos, significados, ecos. Tudo passa a ter sentido isoladamente, esdrúxula falácia, como se tivéssemos um homem aqui, uma cadeira ali e uma revista mais à frente. À medida em que ganha terreno esta falácia, deixamos de nos ver. Desacreditamos na idéia compartilhada e nos tornamos vassalos de uma auto-suficiência inóspita. Muitas vezes sem que nos apercebamos, comemoramos mais o surgimento de uma nova revista do que o marco de uma outra haver chegado a seu número 100. Este número para nós soa como um escândalo. Como algo pode durar tanto? Esta é a heresia pós-moderna: que algo dure mais que um instante. Então deveríamos queimar na fogueira do esquecimento um equatoriano chamado Fredo Arias de la Canal, por haver publicado no mês passado o número 424 da revista Norte, que edita no México desde 1929. Trata-se verdadeiramente de um escândalo e não pode aqui ser tomado como base para a nossa conversa. Contudo, podemos pensar no esforço do paraguaio Marcos Reyes Dávila que há mais de uma década edita em Porto Rico a revista Exégesis, mesmo país em que Manuel de la Puebla dirigiu, por 18 anos, a revista Mairena. E quase duas décadas levou Octavio Paz envolvido com a direção da revista Vuelta, por ele fundada. Há mais de dez anos o argentino Eduardo Mosches edita no México a revista Blanco Móvil e também há mais de um decênio Luis Alberto Crespo dirige na Venezuela a revista Imagen. Quando se fala hoje no nome do venezuelano Juan Liscano fatalmente o vinculamos ao largo período em que esteve à frente da revista Zona Franca, uma das mais importantes de seu país. Mais recentemente não se pode deixar de mencionar os esforços de Juan Riquelme ou Gonzalo Márquez Cristo, que se encontram à frente da venezuelana Babel e da colombiana Común Presencia. São muitos países e a referência a todos seria obviamente infrutífera, quando menos cansativa. Tenho me referido antes ao diretor do que à revista em si. Isto se dá porque intencionalmente citei revistas que pertencem àquela segunda instância inicialmente tratada, ou seja, que não se encontram diretamente vinculadas a um movimento ou a uma escola literária. Não quer dizer que não tenham um conselho executivo, a compartilhar idéias. Mas sabemos que é forte e decisiva a presença do diretor, ao mesmo tempo em que ali estão definidas linhas editoriais desvinculadas desta ou aquela tendência estética. São revistas que buscam uma medula a partir da abrangência. E o fazem por uma razão muito simples: entendem que representam, cada uma para seu país e seu tempo, o importante papel de catalisador de tudo o que se passa à volta delas, em todo o mundo, em termos de valores literários. Nenhuma das revistas até aqui mencionadas pôs em confronto aspectos regionais, políticos, etnográficos ou quaisquer outras formas de eventual reducionismo cultural. Isto quer dizer que souberam reconhecer igual importância a uma expressão local e outra oriunda do exterior. Encontro em algumas revistas hispano-americanas uma relevância do texto e uma despreocupação com a insustentável contagem de páginas, linhas ou caracteres exigida em outras instâncias. Não raro encontramos edições inteiras dedicadas a um único autor, ou mesmo um largo espaço destinado ao diálogo sobre determinada circunstância literária. Exemplos temos na venezuelana Babel, que ocasionalmente surge com edição inteira destinada à revisão crítica de alguns dos principais movimentos ou grupos decisivos à história da literatura em seu país; assim como as revistas Auditorium, da República Dominicana, ou Lotería, do Panamá, costumam realizar homenagens, que tomam toda uma edição, a seus principais escritores. Surge aqui um outro aspecto a ser destacado. Estas duas últimas revistas pertencem ao Estado, a exemplo da mexicana Fronteras e tantas outras mais, ou seja, são iniciativas de uma instância governamental. Mesmo assim, alcançam isenção suficiente para avaliar a trajetória estética de determinado autor sem prejuízo de ordem alguma. O aspecto a destacar seria a propriedade do Estado entender que não pode interferir no substrato da cultura que orienta a tradição de uma zona por ele administrada apenas circunstancialmente. Em outras palavras: nenhum governo, qualquer que seja a apetência política do mesmo, deve interferir no desdobramento estético de uma cultura. Mas não nos esqueçamos daquela outra circunstância que norteia a criação de uma revista literária: o vínculo a movimentos, escolas, tendências. Em nome desta ligadura importantes revistas foram criadas na América Hispânica. Vou me referir a cinco delas em particular apenas para não tornar-me mais impertinente ou enjoativo que o devido. A cubana Orígenes, a mexicana Contemporáneos, a argentina Poesía Buenos Aires, a colombiana Mito e a chilena Mandrágora. Exceção feita a esta última, que trazia manifesta uma defesa do Surrealismo, as demais foram súmulas da efervescência cultural que lhes demarcava a existência. Todas estiveram vinculadas a um grupo. E surgiram como um ideal comum, ou seja, como a fonte possível de um diálogo, o que se pode fazer brotar a partir da convivência de idéias. Neste sentido, creio que são as mais importantes revistas surgidas na América Hispânica. É curioso que nenhum historiador se deteve a estudá-las conjuntamente. Mais grave ainda: a fortuna crítica de algumas delas foi arregimentada pelos próprios diretores, não despertando até hoje a merecida atenção por parte de estudiosos do assunto. A mexicana Contemporáneos foi fundada em 1929 graças a um frutífero diálogo entre poetas como Jaime Torres Bodet e Xavier Villaurrutia. Jaime havia viajado a Cuba, onde tomara conhecimento de uma outra publicação, a polêmica Revista de Avance (1927-1930). Entendiam então que o prestígio internacional alcançado por algumas publicações européias poderiam se repetir a partir do México, desde que a aventura possuísse uma definição estética e fosse bem apresentada. Surgia assim revista e grupo, definindo uma das mais consistentes gerações em toda a América Hispânica. No Chile, dez anos depois, quando já surgira o grupo Mandrágora, que tinha entre seus articuladores Braulio Arenas e Enrique Gómez-Correa, ao final de 1938 resolveram criar a revista homônima, dando seqüência a um projeto editorial proposto pelo grupo. Por sete números editaram então a revista Mandrágora. Em 1944, o cubano José Lezama Lima funda a revista Orígenes, juntamente com o crítico José Rodríguez Feo. A inquietude de Lezama já o levara a fundar três outras revistas: Verbum, em 1937, da qual saíram três números; Espuela de plata, em 1939, que alcançaria a marca de seis números editados; e Nadie parecía, com Angel Gaztelu, em 1942, que chegaria ao décimo número. Segundo o próprio Lezama, a raiz dessas publicações foi a amizade, o diálogo freqüente e o respeito mútuo pelas opiniões peculiares. O nome da revista acabou confundindose com o de toda uma geração de escritores e artistas plásticos. Orígenes alcançou a marca de 40 números, durando até 1955. O grupo de intelectuais arregimentado por Raúl Gustavo Aguirre na Buenos Aires de 1950 insurgia-se contra toda forma de ortodoxia, ao mesmo tempo em que refutava ingerências acadêmicas no mundo da criação literária. Assim surgia Poesía-Buenos Aires, que por dez anos se manteve em franca atividade. A revista possuía textos programáticos, o que lhe dava um caráter de movimento. Em seu decorrer, ali próximo, em Bogotá, Jorge Gaitán Durán e Hernando Valencia Goelkel propunham um arrojado plano de desdobramento cultural. Pode-se dizer que a formação do grupo Mito, que logo sustentaria a publicação de uma revista homônima que atingiria a circulação de 25 números, foi o acontecimento mais marcante em toda a cultura colombiana, tanto pela dimensão estética quanto pela interferência no plano político. Esta é a geração de Alvaro Mutis e Gabriel García Márquez, os dois mais conhecidos dos brasileiros. Estas revistas tinham uma raiz comum: o entendimento de que cabe ao poeta zelar pela firmeza da cultura. A partir desta frase tão simples surge uma curiosidade: qual o limite de uma cultura? Até onde a minha orelha supura por má influência da cultura alheia ou me embriago glorioso sobre os restos de uma cultura dizimada por mim? Parece que não entendemos mais a ação da rosa dos ventos sobre o território da cultura. A defesa de uma expressão artística não pode estar vinculada a uma ramificação estética, mas o contrário jamais será dispensável. Não importa o quanto Velázquez era barroco, mas sim o quanto que o barroco espanhol foi expresso a partir da obra de Velázquez. Este deslocamento indevido tem sido a raiz de grande parte do prejuízo que hoje resulta de um inventário da produção artística em nosso tempo. De volta às revistas, hoje raridades só encontradas em coleções especializadas, como vimos, à frente delas estiveram alguns dos mais destacados poetas hispano-americanos deste século: José Lezama Lima, Xavier Villaurrutia, Raúl Gustavo Aguirre, Jorge Gaitán Durán e Enrique Gómez-Correa. Mas não as tenhamos aqui como casos isolados. No áureo período das vanguardas surgiu um verdadeiro enxame de revistas, algumas das quais com amplo destaque, a exemplo da peruana Las Moradas, dirigida por César Moro e Emilio Adolfo Westphalen, ou a argentina Ciclo, que trazia Enrique Molina e Aldo Pellegrini à frente. O que nos cabe aqui, além do informe geral, é compreender que as revistas literárias não se apartam de um leque de plumas sagradas da atividade humana na terra. O que isto quer dizer? Que não fazemos revistas e fazemos cadeiras e fazemos amor, como aspectos isolados de uma mesma natureza humana. Somente a estultice crê em uma gaveta desorganizada combinando com paz de espírito. O que isto quer dizer? Que revistas literárias não são anfetaminas ou jogos de guerra. Como somos dados à fraude, sempre levamos o meio para cama e o tratamos como fim. O que isto quer dizer? Que o empecilho real na edição de uma revista não é seu aspecto financeiro, mas antes o caráter da iniciativa. Mesmo diante da dificuldade financeira, o que se tem que discutir é como validar meios. Embora seja imenso o abismo procriado pelo equívoco entre os valores da fé e a fé em valores, a verdade é que o homem não é nada senão aquilo em que acredita. As revistas literárias nada são a não ser uma das formas de crença do homem nos valores humanos. Floriano Martins Matéria gentilmente cedida pelo jornal O Escritor, da UBE - União Brasileiras de Escritores. . . revistas em destaque . .. revistas hispanoamericanas, II: um encontro de duas linguagens Já por três números seguidos tenho comentado aqui em O Escritor a respeito de importantes revistas literárias e de cultura existentes na América Hispânica. Reitero que o trabalho que seguem realizando os diretores dessas publicações assume um peso extraordinário - e talvez único quando o assunto em pauta é o relacionamento das inúmeras culturas que constituem o continente americano. Mais curioso ainda é observar que, em grande parte, esses editores são poetas, ou seja, uma vez mais a poesia situada como uma ponte erguida acima de todas as eventuais dispersões, impedindo o homem de realizar-se em sua plenitude. Já havia comentado aqui nestas páginas sobre a revista mexicana Alforja, mas agora devo mencioná-la uma vez mais, apenas para registrar que a edição # 19 desta notável publicação dedicou a totalidade de suas 170 páginas à poesia brasileira, ali incluindo mais de 40 poetas de distintas gerações e tendências. Também uma outra revista já destacada nesta série de artigos, Archipiélago, prepara-se agora para a circulação de uma edição especial dedicada à cultura brasileira. Em função do lançamento de Alforja, em maio passado, estive no México, e ali pude conversar com os editores de ambas publicações, o que naturalmente reforçou nossa cumplicidade no sentido de se buscar uma interação entre nossas culturas. Nessa ocasião, pude ainda encontrar-me com Eduardo Mosches, editor de uma terceira revista, Blanco Móvil que, por duas vezes (anos 80 e 90) dedicou números especiais à poesia e à prosa no Brasil. Com todos eles conversei e pude sentir o carinho imenso que têm por nossa cultura, um profundo e, por vezes, excessivo respeito. E justifica-se o excessivo justamente pelo que nos falta de perceber a própria importância do que fazemos, sem falar no fato de que o empenho dos mexicanos, por exemplo, em buscar um diálogo com a cultura brasileira não é compensado por nós em momento algum. A partir da conversa que tive com Eduardo Mosches, de Blanco Móvil, surgiu-me a idéia de sistematizar uma enquete para as páginas de O Escritor, algo que nos permitisse uma leitura mais dinâmica desse jogo mútuo de conquistas e obstáculos que temos que enfrentar os editores de revistas. Parti de quatro indagações básicas, a respeito da origem, concepção editorial, relações com publicações similares e com a imprensa de uma maneira geral. Uma outra perspectiva a ser acrescentada aqui é o surgimento de revistas virtuais ou de publicações que circulam, utilizando os dois meios, impresso e virtual. O Brasil tem uma dificuldade, bastante coerente com nossa política de alheamento, de perceber a importância crucial de fazer circular bens de cultura pela Web. Esta é uma etapa da contemporaneidade em que apenas a marginalidade cultural lhe há compreendido os mecanismos de ação. Nem mesmo as agências de publicidade ou os godmakers que comandam as campanhas eleitorais perceberam ainda a importância do veículo. Observemos, por exemplo, em uma Argentina que vive hoje uma situação bastante reveladora dessa ausência de diálogo entre culturas latino-americanas, como funciona o grupo Paginadigital, de circulação apenas virtual, mas com uma penetração extraordinária dentro e fora do país. Ao conversar com seu diretor, Pablo Castro, me disse que "o crescimento de Paginadigital superou nossas expectativas e tem se diversificado bem além do que havíamos planejado no princípio, estando atualmente com um volume de 3.500 visitas diárias e um total superior a um milhão de visitas desde a data de criação do site, ao final de 1999". Paginadigital é um veículo de circulação de textos que lhes são remetidos por outras publicações. Me disse ainda Pablo que o site foi criado "basicamente como um meio solidário para unir idéias e forças para resistir à desumanização do sistema capitalista e liberal atual". Esta compreensão de uma atuação política, sem descaracterizar o conteúdo estético veiculado, lhe dá uma solidez extraordinária. Paginadigital tem sido um valioso veículo de informação acerca das atividades culturais dentro e fora da Argentina. Penso nisto quando, na conversa com Eduardo Mosches, da mexicana Blanco Móvil, ele me diz que "as relações com as revistas do continente, lamentavelmente, são poucas, e espero que através de vocês possamos abrir nossa comunicação e participação em outras revistas". Ora, esse isolamento deve ser rompido em suas duas margens. É curioso que Mosches me diga isto, porque justamente a Blanco Móvil tem sido revista a dedicar seguidamente edições especiais à literatura de vários países, incluindo os latino-americanos. Conheçamos um pouco mais de Blanco Móvil. Nos diz Mosches: "A revista nasce em 1985, como publicação de uma livraria foro, que é a Gandhi. Logo no princípio é de um tamanho pequeno, como um folheto teatral, de 24 páginas, com uma seção central dedicada a um escritor. A relação com a livraria durou até 1988, momento em que nos separamos dessa empresa e nos tornamos independentes. Já havíamos modificado o formato, já se encontrava no tamanho carta. A partir da independência realizamos uma mudança de capa e ampliação do volume, chegando a 56 páginas. A capa passava a ser a cores. Foi difícil esse processo de independência, mas pouco a pouco obtivemos certa estabilidade econômica, que tornou possível, nos melhores momentos, uma circulação de quatro números por ano." Em seguida lhe indaguei a respeito de um balanço possível entre o buscado e o alcançado, ao que me respondeu: "A concepção editorial era a de apresentar o afazer literário de setores menos conhecidos, seja em âmbito nacional ou internacional. Com isto se quer dizer que a intenção era a de apresentar escritores de qualquer parte, que não necessariamente formem parte do aparato e presença editorial internacional. Não há excessivo interesse em mostrar os que já são conhecidos, mas sim aqueles que vão concretizando suas apostas literárias em cada país, inclusive o México. Por outro lado, buscamos temas que não são tão recorrentes. A partir daí podemos dar exemplo nos números dedicados a Utopia e Literatura, Poetas e Narradores Catalãos, Literatura Danesa, Boliviana, Filosofia e Literatura, Literatura Indígena no México e na América Latina. Angola, Israel, enfim, nos aproximamos de múltiplos segmentos e aspectos da literatura, sem nos tornarmos seguidores dos boom literários. Além do que há um marcado interesse em apresentar a produção poéticas das gerações mais jovens." E logo falamos sobre as recepções na imprensa do trabalho magnífico que vem realizado: "Ao longo dos 17 anos de existência de Blanco Móvil, tivemos, no geral, uma boa acolhida da imprensa e diversos meios de comunicação. A primeira etapa era de enviar a revista aos jornalistas relacionados com o meio literário e cultural, mas percebemos que isto não era suficiente. Portanto, se decidiu realizar uma ou duas apresentações públicas com a aparição de cada novo número. Esses lançamentos eram realizados com um caráter interdisciplinário, uma vez que deles participavam, além de alguns autores incluídos na edição, um par de atores que lêem os textos literários, poemas e contos, e a noite se completa com a apresentação de algum músico. Isto há gerado um apoio maior por parte da imprensa, rádio e televisão, através de crônicas, entrevistas ou simplesmente notas de informação." Como disse anteriormente, esse primeiro diálogo com Eduardo Mosches me levou a sistematizar uma conversa mais detida com editores de várias revistas. Algumas delas são frutos de um convívio pessoal, cujo componente mais importante é a realização de projetos comuns. Exemplo disto foi a maneira com que me recebeu na Costa Rica o editor de Fronteras, Adriano Corrales. Ali podemos planejar umas tantas ações que começamos a concretizar em termos de aproximação de nossas culturas. Porém ladeio aqui seu depoimento do que me enviou por meio eletrônico o chileno Omar Lara, editor da revista Trilce. Julgo importante destacar o trabalho de ambas, a costarriquenha inteiramente patrocinada por uma universidade, enquanto que a chilena sem apoio institucional de espécie alguma. Não as situo aqui como ações contrapostas, mas antes como uma referência a distintas maneiras de se produzir algo consistente. Vejamos o que nos diz primeiramente Adriano Corrales: "A revista Fronteras nasceu como um projeto de extensão cultural de um departamento do Instituto Tecnológico da Costa Rica (ITCR), no ano de 1994. Seu primeiro objetivo foi converter-se em um espaço editorial para dar a conhecer as distintas investigações que vinham realizando nossos professores no que respeita ao âmbito das culturas populares. Até o presente foram publicados 9 números semestrais. Porém, na medida em que se foi desenvolvendo o projeto (a partir do terceiro número), fomos nos inteirando da existência de um vazio em relação a revistas culturais que mantivessem um perfil intermediário entre a revista especializada e a revista popular, formato que perseguíamos desde o princípio. Assim é que, além da ênfase antropológica, histórica e sociológica, fomos abrindo espaço para outros aspectos, tais como a literatura e a arte em geral. Por outro lado, começamos a receber colaborações de distintos países latino-americanos onde, imprevisivelmente, a revista foi chegando graças à ação de amigos e colaboradores." Indaguei a Adriano como a revista sobrevive: "Fronteras hoje se financia basicamente com a verba do ITCR e com a venda de exemplares, mas estamos abrindo a venda de publicidade como uma colaboração e apoio a este projeto editorial. Ela é distribuída em várias livrarias de San José, Heredia, Ciudad Quesada e Cartago. Mas também pode ser encontrada em Bibliotecas, Centros Culturais e Salas de Teatro. E as assinaturas estão franqueadas segundo anúncio no próprio expediente da revista." E agora nos fala o chileno Omar Lara, editor de Trilce: " A revista nasceu paralelamente ao grupo de poesia Trilce, em março de 1964, em Valdivia (Chile). Até 1973, quando praticamente toda a nossa geração desapareceu do mapa literário chileno, a revista publicou 16 números, com uma regularidade muito irregular. Ocorre que a revista era um de nossos afãs, não o único. Nos anos 1965 e 1967 organizamos os primeiros encontros da Jovem Poesia Chilena, em Valdivia. Também foram publicados alguns livros individuais de membros do grupo e nos sentíamos bem envolvidos com os movimentos sócio-políticos daquele momento." E como seguiu a revista, que novos rumos tomou? "Depois, no exílio em Madrid, publicamos três números, entre 1981 e 1983. De volta ao Chile, já em Concepción, reiniciamos a publicação dentro do que chamamos de uma Terceira Época. E nisto seguimos empenhados até hoje. Uma vez que não temos auspício institucional nossa freqüência é imprevisível. Quis torná-la quadrimestral, mas a realidade nos impõe uma circulação semestral. Mesmo ciente de que defenderei até onde possa essa periodicidade, não tenho nenhuma garantia quanto a isto. Trilce tem sido apresentada diretamente em países como Peru, Equador, Espanha, Alemanha, Argentina, e através de amigos em vários outros: Estados Unidos, México, Uruguai, Portugal. A rigor, a revista é uma revista de amigos, o que não está mal, certamente. Temos muitos leais entusiastas, generosos amigos. Sempre pensei em Trilce como uma publicação propiciadora de diálogos. Tenho consciência de que em vários momentos fomos uma janela através das qual muitos poetas e leitores em geral puderam conferir as ocorrências poéticas de outros lugares, através de entrevistas, poemas, traduções, correspondência etc." As duas possibilidades de condução de um processo editorial permitem aclarar que em nada se justifica a inércia encontrada no Brasil. Dentro ou fora do que nos habituamos a chamar de "sistema", apenas reagimos e mesmo assim com um ar paranóico (presunçoso) que pouco ou nada constrói. A seguir incluímos a montagem em dez blocos de um auto-retrato da revista Lote, argentina, desenhado por seu editor, Fernando Peirone: "1 - Tipo de material que publica. - Em traços gerais se poderia dizer que é uma revista de crítica cultural e política. 2 O rol das revistas culturais na Argentina. - O papel das revistas culturais, que na Argentina têm uma grande tradição, é o de dar circulação a um saber e um agir que não se movem no mundo oficial, o papel de introduzir debates e traduções que habitualmente não são manuseados nos círculos comerciais, o de proporcionar ferramentas alternativas para a abordagem do público (e do privado), o de dar a conhecer as expressões artísticas e culturais novas, diferentes. 3 A qual público se dirige? - Dirige-se a um público heterogêneo. A invenção dos convênios revistas para repartir entre sócios, clientes etc. - como forma de distribuição, nos possibilitou que a revista não dependa das vendas e que em menos de dez dias esteja completamente distribuída, em mãos de jovens, velhos, empresários, professores, intelectuais etc., obrigando àqueles que participam conosco a rever sua linguagem e suas maneiras de dizer; o mesmo ocorre com os leitores que, ao recebêla, se dão conta que é uma revista que - no pólo oposto do videoclip demanda tempo daquele que se disponha a lê-la. Este sistema de distribuição ingressa na revista em uma paisagem que de outra maneira - se dependesse exclusivamente da venda - não chegaria. 4 Como se relacionam com a realidade? - Não nos relacionamos com a atual nos tempos de imediatismo que exiege um diário, mas sim com a distância e a implicação necessária para discorrer criticamente sobre a época que nos tocou viver. 5 Lote é lida por gente jovem? - Sim. A revista tem um suplemento jovem de educação cooperativa que chega gratuitamente (subvencionado por distintas cooperativas do sul de Santa Fe) aos terceiros e quartos anos das escolas secundárias, provocando debates e sendo utilizado como material complementar de estudo. 6 Busca consagrados ou busca descobrir vozes novas? - Em Lote participam consagrados em meio a um coro de vozes anônimas - como a daqueles que fazemos a revista - e politonais que lhe dão um perfil diferente, do interior, não dando ouvidos aos mandatos portenhos de correção cultural. 7 E esses jovens buscam algo distinto do que procuram os de gerações passadas? - Sim, há um conceito diferente do que é cultura. Não lhes interessa tanto a praxis social do pensamento quanto a possibilidade de aplicá-lo a uma qualidade de vida mais digna. Embora menos comprometida politicamente - no sentido tradicional do termo -, a juventude edifica seus entornos com modelos políticos explícitos, tolerantes, abertos, à medida de um mundo que sonham e não conseguem trasladar além de seus grupos de origem. Este é um pouco o padecimento que lhes obriga a pos-modernidade. 8 Lote promove polêmicas, debate, intercâmbio de idéias? - Permanentemente. Em cada número se questiona o status quo e são liberadas salvas de pensamento crítico. 9 Em um passado não muito para trás, os escritores reconhecidos colaboravam neste tipo de publicações. Com reagem hoje? - São reticentes, estão em seu lugar e pouco lhes dá que as revistas culturais dediquem-se à difusão de seus trabalhos. Menos ainda lhes importam ler manuscritos de novos escritores. Existe, no entanto, uma tradição que se conserva viva e ativa, participando em cada um desses empreendimentos. Grande parte dos colaboradores de Lote pertencem a essa casta de descastados. 10 Há uma disputa entre as versões impressa e virtual? - Até o momento não. Nossa revista tem uma página web desde o número inaugural, onde são publicadas as matérias mais importantes de cada número e, se temos uma acentuada visita diária ela quase sempre corresponde a leitores estrangeiros - porque lhes resulta mais fácil e menos custoso visitar a revista na tela do que assinar a versão impressa. Mas são, até o momento, públicos diferentes." Esta conversa com Fernando Peirone, editor de Lote, é bastante revelador de uma série de aspectos que seguiremos tocando nos próximos artigos. O que estamos propondo aqui, nas páginas de O Escritor, não tem caráter conclusivo, mas antes arregimentador de um diálogo essencial entre editores de revistas em âmbito continental. Fujamos das relações de bairro ou quadrilhas, e busquemos a representação mais substanciosa de uma cultura. A realidade constituída de uma nação não se encontra definida por seus políticos ou economistas, mas antes por aquela fatia empenhada, sob diversos enfoques, na formação e identificação de um caráter cultural. Floriano Martins Lote. Diretor: Fernando Peirone ([email protected]). Pellegrini 560 - Benado Tuerto - Santa Fe (2600) Argentina Trilce. Diretor: Omar Lara ([email protected]). Casilla 2501 Concepción, Chile Blanco Móvil. Diretor: Eduardo Mosches ([email protected]). Apartado Postal 21-063 México DF (04000) México Página Digital. Diretor: Pablo Castro ([email protected]). http://www.paginadigital.org (Buenos Aires, Argentina) Fronteras. Diretor: Adriano Corrales ([email protected]). Apartado Postal 223-4400 - Ciudad Quesada - Costa Rica Matéria gentilmente cedida pelo jornal O Escritor, da UBE - União Brasileiras de Escritores. . . revistas em destaque . .. triplov (portugal) diálogo entre editores: maria estela guedes & floriano martins A revista TriploV é hoje, ao lado de duas outras, Ciberkioski e Storm Magazine, os veículos virtuais mais substanciosos na imprensa cultural portuguesa. É projeto da Agulha firmar cumplicidade com revistas em vários países, diálogo que já se estabelece de outras maneiras, a exemplo da seção «Resto do Mundo», que assino para o jornal O Escritor, da União Brasileira de Escritores. Neste encontro de dois editores, com a portuguesa Maria Estela Guedes, damos a conhecer os meandros de nossa aventura editorial, permitindo ao leitor conhecer um pouco mais de ambas publicações. [F.M.] - Como nasceu o TriploV, perguntas tu? Tinha obrigatoriamente de sair do ovo, dada a crise da edição em papel: em Portugal há só meia dúzia de escritores que vivem da escrita. Eu nem pretendia viver da escrita, queria apenas ter um editor que não cobrasse pela edição… De outra parte, o livro e as revistas em papel têm tiragem limitadíssima. O TriploV, num ano, criou-nos um público ávido, e isso é reconfortante, é bom saber que a leitura não morreu, as pessoas querem mesmo ler, enriquecer-se, partilhar conhecimentos, trocar colaborações, e isso um pouco em toda a parte do mundo, mas em especial no Brasil. Esse foi o meu desafio aos outros responsáveis pelo site, José Augusto Mourão, Maria Alzira Brum Lemos e Magno Urbano: «Vamos reconquistar o Brasil!» E acho que estamos a conseguir… É claro que tive de aprender a lidar com o PC de outro modo, mas ESTELA felizmente o Magno Urbano, nosso operador de sistema, tem tido a paciência de me ensinar. E tirei uns cursos on-line. Mas ainda falta muito para estar apta. Sabes tu, Floriano, aqui só eu é que mexo no site, tenho de fazer tudo, desde compôr o texto até pô-lo no ar. Como é com a Agulha? Tens alguns conhecimentos avançados de informática e criação de webpage ou a revista é entregue a profissionais? - A Agulha é dirigida por mim e o Claudio Willer, isto em termos de definição de pauta. Mesmo residindo a 3 mil quilômetros de distância um do outro (São Paulo e Fortaleza), nos falamos diariamente e assim afinamos este e outros projetos nossos. Em termos de designer, a revista é toda feita por mim, da idealização ao acabamento. Ao final, no momento de atualização de sistema junto ao provedor, contamos com a terceira fatia de nossa cumplicidade, o Soares Feitosa, que dirige o Jornal de Poesia, onde a Agulha está ancorada. Os três somos escritores e tivemos que aprender todos os meandros dessa complexa atividade de editor, o que inclui ainda a parte de contatos e difusão. Evidente que a circulação virtual tem maior abrangência que a impressa, mesmo considerando o reduzido percentual de utilização de Internet em um país como o Brasil. Contudo, é ainda impossível se pensar em um veículo como a Agulha em termos empresariais, alcançando condições básicas como o pagamento de matérias. Somos todos, incluindo nossos colaboradores, uns abnegados dispostos ao trabalho intelectual sem remuneração, o que seria impossível em uma publicação impressa. Mas veja: quando começamos a fazer a Agulha, sentimos uma necessidade de estabelecer uma rede bem ampla de contatos, daí que criamos a «Galeria de Revistas», onde reproduzimos capa e link de revistas em várias partes do mundo. Neste sentido, como se relaciona o TriploV em Portugal? E não quero aqui restringir-me apenas a veículos virtuais. FLORIANO - Olha, Floriano, eu não tenho tempo para tudo. A difusão inicial do TriploV foi feita pelo Magno Urbano aos motores de busca, eu mando de vez em quando a newsletter do site, «Ser Espacial», a umas mil pessoas, e nada mais. O feedback em Portugal tem sido bom, saiu um artigo de João Barrento no "Público" muito favorável ao site, o «Jornal de Lamego» descobriu-me no ciberespaço, quando em tantos anos de tarimba os meus conterrâneos não me tinham descoberto em centenas de números de jornal, nem na rádio, nem na televisão. Algumas revistas virtuais e sites têm referido o TriploV, como a «Storm-Magazine», e também retribuo links, mas o principal retorno do investimento é o programa de estatística: num ano, temos vindo a subir da dezena para os milhares de visualizações de página por dia, etc.. Eu não estou interessada em ampliar muito os contactos internos; a audiência, sim. Muitos colaboradores significam muitas páginas para pôr no ar e já agora começo a não ter capacidade de resposta. A ideia é manter poucos contactos, mas escolhidos e diversificados no planisfério, e investir no ensaísmo de todo o género. A poesia, devo dizer-te, é o sector menos lido do TriploV, e no capítulo da ciberarte, que era a minha grande motivação, o desastre é total: não aparecem ESTELA colaboradores, as minhas próprias experiências ainda mal começaram porque há outras prioridades, e antes de começar eu devia ter aprendido o que ainda não sei: a trabalhar com o Photoshop e o Image Ready. Não sei o que se passa convosco, mas por aqui sinto imensa dificuldade em fazer com que os cibernautas leiam poesia, e não posso sequer chamá-los através das metatags porque não há nada específico para pôr nos campos description e keywords - a poesia não tem pontos de referência, forçar com palavras-chave do tipo «cerejas», «beijos» ou «mar» é enganar quem procura saber como cultivar cerejeiras, onde encontrar um site pornográfico ou a tabela das marés; de qualquer modo, os termos são tão extensos que o poema não apareceria nos primeiros lugares dos motores de busca, a quem pesquisa. A poesia não tem referentes, pelo menos a mais despojada, a não historicista. O dossier «Herberto Helder» é muito lido porque as pessoas já conhecem o poeta e nas caixas de pesquisa dos motores de busca escrevem «Herberto Helder». Uma estreia absoluta como a Tília Ramos não tem pesquisa possível, só será descoberta por quem entrar pela página principal, e esse público é minoritário. - Certa vez uma revista virtual no Rio de Janeiro nos procurou empenhada em fazer uma matéria sobre a Agulha. Este rigorosamente é um caso único. Temos estabelecido com outras publicações virtuais, em vários países, uma permuta de links. Além disso há uma barreira entre veículos impressos e virtuais, ao menos no Brasil. Ainda não perceberam o que há de complementaridade entre eles. Um ponto de cegueira só lhes permite entender uma inexistente condição de concorrência. Hoje a Agulha conta com um mailing de mais de 60 mil endereços, é nossa mala ativa e raramente recebemos pedido de exclusão. Nós circulamos na extensão de dois idiomas: português e espanhol, com um buscado equilíbrio entre ambos, contando ainda com um expressivo reforço de outro site que coordeno, a Banda Hispânica, este último um banco de dados sobre a poesia de língua espanhola. Isto dá à revista uma expressiva visibilidade, inclusive envolvendo uma ativa cumplicidade de correspondentes em dezenas de países. Nossa opção pelo ensaísmo em grande parte definiuse pela ausência de uma reflexão mais substanciosa sobre temas ligados à arte e à cultura no Brasil. De uma maneira geral, a poesia que se publica entre nós, nos veículos de imprensa, é um verdadeiro festim de epígonos, textos com artifícios poéticos desgastados que se repetem à exaustão. Mas independente disto, em muito me atrai essa característica de arte de exceção - ou ausência de referentes, como dizes - da poesia. Há uma lista inesgotável de grandes poetas que enfrentaram - e enfrentarão sempre - esse obstáculo de veiculação de suas obras. É natural que os estreantes comam a fatia maior desse pão amassado pelo Diabo, o que não quer dizer que não devamos, editores, estar atentos ao trabalho deles. Um outro aspecto que começa a proliferar, Estela, é o surgimento de editoras virtuais. Nós mesmos na Agulha, durante alguns meses, experimentamos a publicação de uma série de e-books, projeto com grande receptividade junto aos leitores mas que lamentavelmente foi abortado ao perdermos nosso parceiro FLORIANO em tal empresa. - Vou contar em segredo, s.f.f. não divulgues por aí: o site nasceu poeticamente falido, e eu preciso de dinheiro, a informática devora o meu ordenado. Sou eu que estou a suportar todas as despesas e são muitas. Ainda não me dispus a pedir subsídio, e agora o Governo português também está teso… Não pago direitos de autor, mas também não exijo dinheiro para editar… Já fiz uma experiência de carrinho de compras, falhou porque era preciso eu montar uma empresa de e-commerce, passar facturas… Ora eu não tenho tempo nem para escrever os meus versos, quanto mais para redigir nessa língua bárbara dos algarismos! Contar, só histórias. Uma das ideias era a dos e-books e cheguei a verter para pdf o livro Francisco Newton, que soma já muitas leituras. Outra ideia, aliás sugerida pelo Magno Urbano, é a de vender todo o site em CD. Esta ideia é fabulosa porque eu actualizo-o quase todos os dias e então podíamos vender uns 200 TriploVs diferentes por ano… Estou na disposição de alinhar numa qualquer hipótese rentável, se só tiver de dar material, meu e dos colaboradores do site… E como só dou isso, não peço metade dos lucros, apenas uma percentagem compatível… Há uns quatro ou cinco livros no TriploV, alguns inéditos, outros esgotados, e de qualquer modo tudo o que é impresso em livro é inédito à escala do planeta. Eu deixei de me ralar com ineditismos, publico o que acho instrutivo, bom e conveniente. Também deixei de me ralar com esse fantasma do roubo, os escritores não publicam na Internet porque há muitos ladrões!… Venham os ladrões, aprecio quem me rouba, é porque leu e adorou! E fora com esses vírus Nimda dos que só vêem montras e é quando saem a passear ao domingo! ESTELA - Na verdade enfrentamos os mesmos obstáculos, excetuando o fato de que a Agulha, se não gera lucro, também não gera despesa, isto do ponto de vista financeiro. Claro que há um investimento imenso de tempo. Tanto eu quanto o Willer temos outra atividade, ainda que ambientada em uma mesma perspectiva editorial. Agora, o ineditismo assume uma proporção algo falaciosa, cabendo aí observar apenas o aspecto ético da reprodução de textos já publicados, ou seja, solicitação de autorização, referência de fontes, etc.. Ensaios reproduzidos de livros ou mesmo de outras revistas habitualmente conquistam novos leitores, pois ampliamos o raio de circulação dos mesmos. O roubo é inevitável e inestimável, além do que está colado à pele do conceito de propriedade privada. Não cabe generalizar, mas antes verificar de quais inúmeras maneiras ele vem sendo praticado algumas delas bastante aceitas por nossas sociedades. Agora, como tens conduzido o TriploV em termos de orientação de pauta? Editorialmente, há algum tema ou abordagem que desperte mais interesse teu? Penso na coincidência existente entre tua revista e a «VVV» editada nos anos 40 por Breton, Duchamp e Ernst, nos Estados Unidos, ou seja, haveria aí alguma coincidência também com os ideais surrealistas? FLORIANO - Eu republico muito, com autorização, e textos de séculos transactos, porque preciso. As pessoas tratam o TriploV como revista, mas não é. Estou a fazer um depósito, e há bases de dados no site, para os meus trabalhos em História do naturalismo. Isso recorda-me que estudo a língua das gralhas, língua das aves ou língua de ponta nos textos científicos. A Agulha não é de costura… Na ponta da língua tem pimenta, pelo menos… O meu vínculo mais forte é com o modernismo português e descendentes, e mais indirectamente com o surrealismo, aliás agrada-me que estabeleçam essa relação, é legítima. Uma das pessoas mais importantes para mim, porque me rasgou horizontes e deitou por terra preconceitos, o Ernesto de Sousa, cineasta que fez o filme português dar o salto do cinema de pátio para o novo cinema, mas foi também artista de multimédia, homem que despoletou o florescimento da vanguarda em Portugal, etc., criou, comigo e com o Fernando Camecelha, um grupo, o VVV, de cuja actividade artística resultaram festas e as caixas Pipxou - há imagens e informação no directório dele. Dediquei-lhe o site, e quando tive de escolher um nome, lembrei-me do VVV, pensando: vou continuar a nossa obra, apesar de o Ernesto já ter morrido. «VVV» também quer dizer Ego sum Via et Veritas et Vita, segundo a interpretação esotérica de outro cineasta, António de Macedo. Nós pronunciamos triplov, à russa, e o meu contributo para o alargamento do campo semântico do nome foi o ovo alquímico, o «triplovo», como o Magno Urbano designa o logotipo que criou. O elo de ligação entre todos os movimentos da modernidade é a agulha, que também se exprime no Morra o Dantas, morra! Pim!, de Almada Negreiros. Sempre estive nessa onda de guerra ao convencional. Quanto a definição de pauta, ou programação, recordo que Breton fala do acaso feliz. Pois bem, a única pauta do TriploV é esse acaso luminoso, como este de estarmos agora aqui sem o termos premeditado. Nunca me envolveria em nenhum projecto editorial que implicasse programação e periodicidade rígida, porque isso é inviável no perímetro da minha acção. Parte dos nossos conteúdos, o segundo mais aliciante de todos, é constituído pelas comunicações ao Colóquio Internacional Discursos e Práticas Alquímicas. Os participantes não entregam os trabalhos. Por isso criar uma revista dentro do TriploV, como era desejo do José Augusto Mourão, por exemplo, está fora dos meus propósitos. Prefiro que o site seja tratado equivocadamente como revista, porque a classificação pode vir a ser útil para fins de patrocínio. Além disso, deixar o triplovo a chocar durante um mês ou mais, para só em data certa ver os pintos a bater as asas, não se acomoda ao meu sistema nervoso. Quando aparece um novo pinto, lanço-o imediatamente no céu. ESTELA - E está perfeito que seja assim, mais abrangente o tríplice V do que no caso de Breton, onde aliava o V da Vitória ao Voto no sentido de energia vital ou Volta «a um mundo habitável e imaginável». E cabe bem a lembrança ao Almada e seu manifesto, ele que soube ver bem o valor intrínseco da antecipação a tudo. Admirável Almada que vivia a lembrar o essencial que é a poesia fazer «nascer asas em Nós». Pode-se dizer de Agulha que seja uma revista, tem estrutura e FLORIANO perspectiva estética que atende ao objeto. Ao contrário, o que faço na Banda Hispânica deve ser visto como um banco de dados, uma fonte virtual de consultas acerca da poesia de língua espanhola. Tua referência à pimenta («pelo menos»), eu a entendo como uma aguda visão crítica que se alimenta dessa entrega ao outro, de buscar a integridade das coisas. De buscar a verdade em vida e em toda a vida. É exatamente o que estamos fazendo aqui, neste nosso breve diálogo inicial, quando aproximamos nossos projetos editoriais, Agulha e TriploV. Lisboa, Fortaleza. Outubro de 2002. Maria Estela Guedes (Lamego, 1947). Tem colaborado em quase todos os mais importantes jornais portugueses, na rádio e na televisão. Em 1987 foi levado à cena um espectáculo multimédia da sua autoria, O lagarto âmbar, na Fundação Calouste Gulbenkian. Entre os seus livros, encontram-se: Herberto Helder, poeta Obscuro (1979), Crime no Museu de Philosophia Natural (1984) e À Sombra de Orpheu (1990). Dirige a revista TriploV (www.triplov.com). Contato: [email protected]. . . revistas em destaque . .. rascunho (brasil) diálogo entre editores: rogério pereira & claudio willer Jornalismo literário pode ser apaixonante? Não, responderão os leitores de suplementos de nossos grandes jornais, frios, burocráticos, universitários em excesso. Sim, responderão os leitores de Rascunho, publicado em Curitiba, Paraná, a julgar pela seção de cartas desses leitores, estuante, prolífica, com adesões entusiásticas e protestos indignados referentes aos ensaios e resenhas nele publicadas. Rascunho já ultrapassa trinta edições em três anos de existência. Lembra bastante o que se publicava há vinte anos no Brasil, no tempo da imprensa alternativa e da assimilação da sua contribuição pela grande imprensa. Isto, lembrar o que outrora já foi feito, é uma qualidade, e não um defeito desse periódico; é um dos motivos para muita gente o considerar o melhor jornal literário brasileiro, neste momento. E, conforme pode ser entrevisto na conversa com ele, preparada para esta Agulha, o que seu editor, Rogério Pereira, tem de combativo, idiossincrático, voluntarista, está diretamente relacionado a esse bom resultado. [C. W.] - Você não veio do nada, ou de algum vazio interplanterário. Já fazia jornalismo antes, não é? Conte algo sobre suas origens e procedência. Apresente-se. CLAUDIO WILLER - Tenho 29 anos (beirando os 30), os pés rumam para o altar, com a bela Cristiane. Cheguei em Curitiba, aos 6 anos, vindo do sudoeste de Santa Catarina (meus pais eram pequenos ROGÉRIO PEREIRA agricultores). Dedico-me ao jornalismo há muito tempo. Aos 13 anos, já era office-boy da Gazeta Mercantil, em Curitiba. Antes disso, fui vendedor de flores em frente a um cemitério (muito poético, por sinal), fabriquei móveis e matei muito passarinho nos matagais de Curitiba. Trabalhei durante oito anos na Gazeta Mercantil. Cursei Filosofia e Jornalismo. Comecei a trabalhar como repórter em 1996. A partir daí, embrenhei-me por várias redações. Fiz campanhas políticas (Lerner, Taniguchi e, recentemente, Beto Richa). Ganhei algum dinheiro, fiz as malas em 1999 e fui fazer pós-graduação em jornalismo político em Madrid. Voltei a Curitiba. Dirigi um jornal popular (o Primeira Hora). E cá estou agora a matar sabiás. - E como é que surgiu essa idéia de fazer Rascunho? Você já tinha essa intenção, de fazer um suplemento literário, faz tempo, ou foi algo que aconteceu assim, de repente, num estalo, em um ímpeto de inspiração, em uma mesa de bar? CLAUDIO WILLER - Quando voltei da Espanha, no começo de 2000, fui trabalhar como assessor de imprensa na Prefeitura de Curitiba, um mausoléu repleto de teias de aranha. Lá, ficava a tecer matérias sobre ruas asfaltadas, praças inauguradas etc. Então, resolvi escrever uma coluna de resenhas/críticas literárias no Jornal do Estado, em Curitiba, todas as segundas-feiras. Ah! Esqueci de dizer que além dos sabiás, sempre me dediquei à leitura e à escrita (na escola, vendia resenhas dos livros e redações para os alunos mais vagabundos; às vezes, o pagamento era em dinheiro, outras, em lanche). Depois de algum tempo com a coluna semanal, na "tranqüilidade" do serviço público, resolvi juntar um bando de malucos e criar o Rascunho, pois nunca gostei muito dos suplementos existentes. Juntamo-nos na mesa de um bar: apresentei a idéia, fiz o projeto gráfico (em parceria com o jornalista Fabrício Binder), e apresentei ao Jornal do Estado. Depois, muitas noites de insônia e café a cada edição mensal. ROGÉRIO PEREIRA - Você partiu de alguma reflexão crítica sobre o jornalismo literário atual, uma intenção de preencher um espaço vazio, cobrir uma lacuna, algo assim? CLAUDIO WILLER ROGÉRIO PEREIRA - Isso pesou muito, mas a vontade de fazer um bom jornal literário pesou mais. Nunca concordei muito com o tom conciliatório dos suplementos literários, sempre jogando a sujeira para baixo do tapete. Considero os suplementos um grande salão de baile de confraternização, um passa a mão na cabeça do outro. Pura bajulação. Falta a discussão, o apego à polêmica. As idéias opostas são sempre bem-vindas. É claro que a responsabilidade deve estar implícita. O que se vê por aí é um bando de compadres a tomar chá no fim da tarde. Os suplementos literários dos grandes jornais são o quintal para um churrasco literário, com carne de segunda e muita lengalenga. CLAUDIO WILLER - E esses colaboradores, esse grupo tão diversificado, como você os achou? Você procurou ou escolheu a dedo gente disposta a escrever de modo passional, veementemente contra ou a favor algum texto ou autor? - Para começar o Rascunho, chamei jornalistas (todos bons amigos) em quem confiava muito: Paulo Polzonoff Jr., Adriano Koehler, Paulo Krauss, Andrea Ribeiro, Alessandro Martins, Eduardo Ferreira, Jeferson de Souza, entre outros. Precisavam ser bem amigos mesmo, pois não receberiam (e até hoje não recebem) um centavo furado para escrever resenhas/críticas/entrevistas para um jornal literário chamado Rascunho, que até agora não foi passado a limpo. Com o tempo (não sejamos modestos: o Rascunho cresceu, ganhou vida, melhorou muito. Passou de oito para 16 páginas), muitos outros nomes foram se juntando, pois acreditaram no projeto: José Castello, Fernando Monteiro, Nelson de Oliveira, Álvaro Alves de Faria, Fabrício Carpinejar, entre tantos outros. São colaboradores fiéis e de suma importância. Sem eles, o Rascunho seria apenas um sonho. Ninguém ganha nada, mas se diverte um bocado. Acho. Todos os meses, aparecem novos colaboradores. Conseguimos criar um grande canal de discussão literária, e, assim, as pessoas sentem-se motivadas a participar, apesar de o pagamento ser um "muito obrigado" por e-mail ou telefone. E nessa tropa, sempre há espaço para novos colaboradores. ROGÉRIO PEREIRA - Quem teve a idéia de cotejar matérias pró e contra algum autor ou obra? Continuarão, esses exercícios de pluralismo? CLAUDIO WILLER - Criar um jornal para ser morno e insosso como tantos outros estava fora dos planos. Sempre fui a favor da polêmica. O primeiro grande "cacete" foi no Décio Pignatari, com o texto "50 anos de enganação", escrito em parceria com o Paulo Polzonoff Jr. Aí, o Rascunho deixou claro o seu "desprezo" pela poesia concreta. Mas, mesmo assim, abrimos espaço para os amantes concretistas. O Rascunho é um barco furado que teima em não afundar. Portanto, sempre cabe mais um. Depois, veio o texto sobre o Valêncio Xavier: "Equívoco", novamente assinado por mim e pelo Paulo. Acho que somos os "grandes" polemistas: ele mandou bala no Scliar e no Loyola. Eu escrevi um texto polêmico sobre o Marcelo Mirisola, que sonhou que era escritor e até hoje continua acreditando. O Rascunho tem essa característica polêmica, mas sempre com muita dose de humor e responsabilidade. O pluralismo vai imperar até o fim, até os últimos dias. ROGÉRIO PEREIRA - Suplementos culturais e jornalismo literário têm história, grandes antecedentes - Suplemento do Estadão, o do JB, etc. É possível especificar relações de Rascunho com esses antecedentes, comentar algum que tenha influenciado ou servido como referência? CLAUDIO WILLER ROGÉRIO PEREIRA - Acho que não sofremos influência de nenhum suplemento das "antigas". Até mesmo porque não conheci nenhum deles no dia-a-dia. É claro que conheço a história dos grandes suplementos culturais, mas a minha idéia era fazer um jornal que valorizasse o texto, em contraponto à frugalidade, rapidez e concisão do jornalismo em geral. Adoro ver uma página do Rascunho cheia de letras, de idéias, de discussão. Meu lema: entre o texto e a ilustração, mate a ilustração. Questão de gosto. É claro que às vezes exagero na dose, mas a overdose rascunheira é benéfica à saúde. - E de lá de fora, publicações de outros países, mencionaria alguma? CLAUDIO WILLER - Morei na Espanha e conheço muito bem a imprensa espanhola, em especial o El País, que mantém o excelente suplemento literário Babelia. Lá, o texto é valorizado e as idéias são amplamente discutidas. Até acho que tenha me influenciado de alguma maneira. Mas não sou um grande conhecedor do jornalismo feito em outros países. Conheço-o como qualquer navegador de Internet. Clico aqui e ali e vou descobrindo coisas. ROGÉRIO PEREIRA - Com relação ao presente, ao momento atual: você faria comentários sobre os suplementos, periódicos literários e revistas atuais? CLAUDIO WILLER ROGÉRIO PEREIRA - Como te disse, não acompanho os suplementos e revistas de outros países, a não ser o El País, uma paixão irresponsável. - Que tal lhe parece o atual crescimento, quando não proliferação de revistas de poesia e periódicos literários? Teria destaques, comentário sobre algum deles? CLAUDIO WILLER - Recebo uma grande quantidade de jornais e revistas literárias/poesia. Há coisa muito boa, como o Suplemento de Minas Gerais e a revista Continente, de Pernambuco. Também gosto muito da Bravo!, apesar de seu pedantismo almofadinha. A Cult não está entre as minhas preferências, mas às vezes acerta a mão. De um modo geral, acho que há um grave problema nos projetos considerados "independentes", principalmente em relação às revistas de poesia. Aqui em Curitiba, existia uma revista, que era um emaranhado de coisas, muitas vezes sem pé nem cabeça, para agradar a certos grupinhos de amiguinhos (assim no diminutivo). Há várias publicações editadas por grupinhos. Esse tipo de iniciativa me parece a masturbação do elefante com o avestruz (Que fique bem claro, nada contra os poetas fundadores; alguns muito bons, por sinal). Mas algumas revistas servem de muralha para atacar outros grupos ou preservar "idéias" consideradas indissolúveis. São, na verdade, frágeis fortalezas. E isso acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro (com o grupinho dos cariocas da gema), em Brasília, em Garanhuns, em Jaboatão dos Guararapes, no ROGÉRIO PEREIRA fim do mundo. O problema é a falta de abertura: a quem pertence ao grupinho, loas; aos demais, pedras no sapato molhado. Assim não há discussão, não há avanço, não se dilata a consciência (como diz Fernando Monteiro). Revistas e jornais precisam ter abertura, uma janela para se respirar. Caso contrário, todos morrem asfixiados no ocre cheiro dos corpos putrefatos. - Já estava em seu projeto originário ser tão polêmico assim, ter uma seção com tantas cartas de leitor pró ou contra alguma matéria? Você tem uma vocação de incendiário, iconoclasta ou polemista? Enfurecer gaúchos, isso o agrada especialmente? CLAUDIO WILLER - Meu esporte preferido é enfurecer o vizinho, jogando pedras no telhado em dia de chuva. A polêmica é necessária. A polenta sem molho é massa sem graça. Os leitores participam porque sentem a necessidade da discussão, de expor idéias, de criticar, de reclamar. Tudo isso faz muito bem à cultura. É triste quando se vai fechar a edição e há poucas cartas nos ofendendo, falando que somos imbecis, terroristas etc. Somos terroristas para o bem de alguns e desgraça de outros. Se pudesse, faria um incêndio a cada dia. Ainda mais aqui em Curitiba que é frio à beça. Temo uma invasão gaúcha, mas os arames de Curitiba hão de agüentar. ROGÉRIO PEREIRA - Como é viver, trabalhar e publicar algo em Curitiba? Como você se relaciona com o ambiente literário local? É verdade que Curitiba é uma cidade provinciana? O mito e a realidade têm correspondência? CLAUDIO WILLER - Curitiba é a sonolência do morto. Viver em Curitiba é uma maravilha. Não acontece nada, não ocorre nada, a não ser as mortes nos botecos da periferia. Curitiba é a capital da arrogância, da classe média alta de parca visão, das meninas encostadas no muro à espera do marido, do vampiro solitário sem um pescoço para desfrutar. Não há discussão literária nessa terra. O Rascunho não é conhecido e, tampouco, reconhecido. Somos um holograma. Mesmo assim, Curitiba tem vários bons escritores: Jamil Snege, Cristovão Tezza, Roberto Gomes, Miguel Sanches Neto, Manoel Carlos Karam, José Castello, Dalton Trevisan, e mais uma meia dúzia. Mas não há vida literária, discussão etc. Cada um em sua toca. É o jeito curitibano. Eu mesmo sou assim, mas da minha toca mando alguns mísseis. ROGÉRIO PEREIRA - O que você gostou mais de publicar em Rascunho, qual matéria ou quais lhe proporcionaram especial prazer por ter podido fazê-las saírem? CLAUDIO WILLER ROGÉRIO PEREIRA - Há várias. Sou suspeito em falar, pois vivo a lamber a cria. Mas acho que as matérias polêmicas (em relação a Décio Pignatari, Valêncio Xavier, Scliar, Mirisola, Augusto de Campos, entre outras) foram as mais prazerosas, pelo liberdade com que foram escritas. É claro que grandes entrevistas também prazerosas, como a com José Saramago. Também é sempre uma alegria muito grande publicar inéditos de grandes escritores, como aconteceu com Dalton Trevisan e Lygia Fagundes Telles. O bom desse Rascunho é que sou eu quem decide o que será publicado. Até hoje, não censurei nenhuma matéria. Minha vocação para censor do DOPS está adormecida. - E o futuro? Quais serão os próximos passos? Há planos de expansão, haverá crescimento de Rascunho? Quantitativo, qualitativo ou ambos? Algo deverá ou deveria mudar? CLAUDIO WILLER - Acho que o próximo ano será decisivo para o Rascunho. Hoje, o Rascunho é enviado para 3 mil pessoas em todo o Brasil, por meio de uma parceria com a Imprensa Oficial do Paraná. Com o novo governo de Roberto Requião, não sei se tal parceria será renovada. Hoje, o jornal não tem condições de arcar com despesas de correio. Será a morte do Rascunho, caso ele circule apenas em Curitiba e região. Mas por outro lado, vamos entrar com um projeto de apoio da lei de incentivo à cultura. Aí, a sobrevida será maior. A intenção é ampliar o número de páginas de 16 para 24. E também aumentar o número de "assinantes" do jornal. Uma alternativa para capitalizar o Rascunho é criar uma carteira de assinantes pagantes. Hoje, todos recebem gratuitamente o jornal. Talvez seja a hora de pedir uma contrapartida dos leitores. De resto, é continuar ateando fogo e chateando alguns gaúchos. ROGÉRIO PEREIRA - Para terminar, faça alguns comentários interessantes e simpáticos sobre periodismo eletrônico em geral e Agulha em especial. Aliás, a propósito, conexão ibero-americana nunca o interessou especialmente? E conexão lusófona? CLAUDIO WILLER ROGÉRIO PEREIRA - O jornalismo eletrônico é importante para facilitar as discussões. Ainda não sei de sua capacidade para discussões de grande fôlego. Mas não há dúvida da importância que tem. Agulha é uma prova disso. Sempre com temas interessantes e textos com qualidade, longe da superficialidade tão característica à Internet. Nunca me interessou a conexão ibero-americana e lusófona, pois acho que o Rascunho tem muito chão a percorrer no Brasil. Ainda vamos quebrar muitas vidraças e matar muitos sabiás. São Paulo, Curitiba. Outubro de 2002. Rogério Pereira é jornalista. Rascunho é publicação mensal da Editora Letras & Livros. Rua Filastro Nunes Pires 175 Curitiba PR 82010-300 Brasil. É encartado no Jornal do Estado do Paraná, mas tem distribuição complementar e pode ser solicitado envio gratuito diretamente ao editor. Contato: [email protected] . revistas em destaque . .. blanco móvil (méxico) diálogo entre editores: eduardo mosches & floriano martins Eduardo Mosches nace en 1944, mexicano de origen argentino. Estudió Ciencias Políticas en Berlín y Cinematografìa en la Ciudad de México, en la UNAM. Trabajó varios años de obrero agrícola en un kibutz en Israel, más tarde, como impresor y en producciones cinematográficas. Fue maestro universitario en Ciencias de la Comunicación y laboró como promotor cultural en la Casa del Lago de la UNAM. Ha realizado traducciones del alemàn y del portugués. Fue director del Foro Cultural Gandhi, y editor en Folios Ediciones, Nueva Imagen y Plaza y Valdés. Es director y fundador de la revista literaria Blanco Móvil, desde 1985 y director editorial de la revista, especializada en derechos humanos, La memoria y el parteaguas. Actualmente es Coordinador del área de publicaciones de la Universidad de la Ciudad de México. Ha publicado diversos libros de poesìa, entre los que se encuentran Los lentes y Marx, Los tiempos mezquinos, Cuando las pieles riman, Viaje a través de los etcéteras y Como el mar que nos habita. Desde hace años imparte talleres literarios en diversos estados del país. Ha publicado en periódicos y revistas en México, Estados Unidos, Israel, Brasil, Chile, Argentina, entre otros. Ha recibido el premio de poesía Anita Pompa de Trujillo, Sonora, 1995. Fue premiado como editor literario por el Instituto de Bellas Artes (1993) y por el Fondo para la Cultura y las Artes (1993 y 1994). FM - Eduardo, és argentino de nascimento. Desde quando e por quais razões foste morar no México? EM - Vivo en México desde 1976. Mi llegada a la Ciudad de México fue fruto de la casualidad, una mezcla de amistad y microcontrabando. Mi pasaje fue pagado por la madre de una amiga mexicana con la condición de que trajese dos maletas llenas de ropa nueva para ser vendida en México. La calidad de la ropa era muy buena y los precios relativos para el México de esos años muy económico. Por esas razones llegué, la política de la supervivencia a la latinoamericana. El porque me quedé fue diferente. Estando todavía en México, se da el golpe de Estado en la Argentina por parte de la Junta Militar, ese hecho me hace reflexionar sobre mi regreso, puesto que en esos años militaba en la izquierda trotskista y había sido detenido dos veces. Sentí que no debía regresar en esos momentos. Así inició mi larga estancia y asentamiento en México. FM - E em que circunstâncias nasceu o projeto editorial de Blanco Móvil? EM - El proyecto de la revista nace en el ámbito de una librería, la Gandhi en la Ciudad de México, como una especie de boletín literario bibliográfico de la librería. El tamaño era como el de un libro de bolsillos. La idea era la de dedicar cada número de la misma a un escritor/ra. Aparece el número cero en julio de 1985, dedicado a Julio Cortazar. Y en los primeros 14 números los creadores que aparecieron, con todo y una somera presentación, fueron desde Augusto Roa Bastos, Camilo José Cela, Juan Rulfo, Agustín Yañez, Claude Simón, José Revueltas, Elena Poniatowska, Felisberto Hernandez, Nadine Gordimer y Luis Cardoza y Aragón. Ya en estos iniciáticos intentos ya se notaba la vena de aventurarse en los recovecos literarios, que se aventuraban mas allá de lo mexicano, pero incluyéndolo. Debo decir que esta tendencia en esos momentos en México, era diferenciadora. La mayor parte de las revistas literarias abrevaban en sus propias fuentes, se editaban a sí mismo o a los amigos y conocidos. La gran diferenciada sería Vuelta, aunque ya su perfil literario se estaba desvaneciendo, para convergir más hacia el ensayo político o filosófico. Por nuestra parte, se daba el intento de abrir ventanas poco conocidas. Quizá, mi propio periplo personal, el de ya haber vivido en cuatro países, en diferentes continentes, cierto aromilla objetivo del exilio, me hacia inclinarme por acercarme a tejidos literarios mas allá de lo nacional, tanto mexicano como argentino (esto lo digo por mis origenes) y tampoco, cerrarme al ámbito de lo latinoamericano, por esto del pensamiento bolivariano y socialista, que era fuerte su influencia en esos años… En fin, es posible decir, que desde esos muy humildes inicios la visión de relación con y hacia la creación literaria internacional siempre estuvo presente, aunque fuese inconcientemente, no conceptualizado desde su inicio, pero así se dió. Creo que así fueron los inicios en la revista Blanco Móvil. FM - Quer dizer que Blanco Móvil antecede toda essa espécie de boom de revistas literárias e de cultura surgidas no México e que viria a tornar este país possivelmente o maior celeiro de publicações dessa ordem em toda a América Latina? EM - De cierta forma sí, puesto que llevamos ya algo más de 17 años galopando en las planicies literarias. Da un gusto sobrevivir y continuar más o menos rozagante, aún a pesar de las penurias, angustias y apretones que implica llegar a conseguir el dinero para pagar la edición. Esa es otra aventura en el proceso de existencia de una revista independiente. Por otro lado, creo que es magnífico que en México se de esa presencia de varios centenares de revistas literarias y culturales a lo largo del territorio nacional. Es una muestra de la búsqueda de expresar la pluralidad y hasta el ánimo democrático, en un país que recién se está iniciando en una concepción y actitud democrática, o sea la aceptación de la pluralidad de pensamiento. FM - E fora do México, com quais outras publicações similares vocês mantinham contato? EM - Lamentablememte tenemos poco contacto con revistas en el exterior. Fuera de esta excelente relación y constante realación con Agulha, es poca y esporádica, por ejemplo, con Atlántica en España y Periódico de Poesía en Argentina. Espero que se pueda abrir un nuevo sendero y a través de esta relación con ustedes podamos llegar a contactar otras revistas. Para crear una especie de internacional de revistas alternativas y literarias. Formar un bloque activo ante la estupidez de los gobernantes en la mayor parte de los países. En nuestro continente, quiero decir la única figura de gobernante esperanzador es la de Lula en Brasil. Lo demás da lástima, por su mediocridad en parte y por inclinación al servilismo ante los Estados Unidos por otra. Bueno, adelante con la literatura y la cultura. FM - Eu acho no mínimo curioso que Blanco Móvil ressinta-se da falta de um diálogo mais amplo com publicações similares em outros países, justamente quando ela cumpre o digno papel de levar ao leitor mexicano o mais expressivo da literatura desses países. Todos deveríamos ter para contigo um largo gesto de gratidão. Crês que o assunto é pura e simples da ordem de uma ausência de reconhecimento, ou haveria aí em pauta algum outro componente? EM - Quizá, una actitud personal, cierta timidez, de ampliar mis contactos hacia el exterior. Aunque quizá, y tu pregunta me ha hecho meditar, los correspondientes representativos de otros países no han demostrado una acertada actitud solidaria, de colaboración, de participación, en fin, quizá de reconocimiento. Valdrán más los proyectos propios, los celos profesionales, que la difusión de la propia literatura, de la ampliación hacia el exterior y hacia otros lectores? Es posible que el ánimo de la propiedad privada, de la pertenencia, esté más internalizado en muchos editores y en los escritores, que una actitud socialmente abierta, gregaria. Socializante. FM - E como é o relacionamento com a imprensa, dentro e fora do México? EM - En méxico ya se ha dado un cierto reconocimiento. La persistencia de tantos años ha servido para esto, que los medios reconozcan este trabajo. En el exterior ha tenido algo de presencia, muy diminuta, en España - España, especialmente Cataluña -, en Estados Unidos, gracias a la presencia de mi padre como periodista en Washington en la prensa en español, en fin, sólo en parte se reconoce. FM - Blanco Móvil tem projetos de vir a circular também na Internet? Qual relevância este veículo de difusão virtual representa hoje para a cultura mexicana? EM - Sólo se da el deseo, estamos en proyecto de crear una pagina Web. No estoy muy empapado, inmerso en los aconteceres de difusión virtual. Siento que es importante, pero me siento en mi interior todavía muy guttenberiano. FM - Quais os planos futuros da Blanco Móvil? EM - Para el próximo año tenemos en preparación números sobre la literatura de Belice, ciencia ficción latinoamericana, literatura contemporánea de Portugal y cerrando con cuentistas canadienses, de lengua inglesa. FM - E como são possíveis essas edições? Contas com apoio financeiro de algumas instituições dos países contemplados? EM - Es parte de la aventura literario editorial. Sobre Belice, por ejemplo, una amiga escritora muy cercana, Francesca Gargallo, conoce ese país desde hace muchos años y nos dijimos: vamos a hacer un número sobre la cultura y literatura; por ahí aparece un apoyo, pero no es seguro. Sería magnífico tenerlo. En el caso de los portugueses, nuevamente se pensó primero en el proyecto y no pensamos ante todo en el apoyo, por otro lado, con los canadienses, ahí si hay una posibilidad amplia de obtener apoyo por parte del país, en fin, la aventura de navegar por, con y hacia la literatura es realmente apasionante. Es lo importante, sin desechar para la nada la necesidad, hecho sustancial de esta sociedad, que todo producto es mercancía y debe pagarse. Y también es una aventura y reto, poder encontrar el apoyo económico para que cada número de la revista pueda estar en manos del futuro lector. Además, es parte de la amistad hacia los amigos escritores, el reencuentro a través de la revista. Fortaleza, México - novembro de 2002. Blanco Móvil. Criada e dirigida por Eduardo Mosches. Apartado Postal 21063 México DF 04000 México. contato: [email protected]. . . revistas em destaque . .. jornal de poesia (brasil) diálogo entre editores: soares feitosa & floriano martins FM - O que exatamente te levou a criar o Jornal de Poesia? SF - Em 1996, a Internet aqui no Brasil era uma realidade muito distante. A surpresa de praticamente nada haver em língua portuguesa. Para suprir esse problema, é que resolvi inventar o Jornal de Poesia. Inicialmente, pensei no nome Armazém de Poesia, porque, a rigor o JP não é um jornal, no sentido estrito de notícias novas substituindo notícias velhas. Não, no JP as primeiras páginas ainda estão lá, intactas. A escolha do nome "jornal", pensamento meu na época, daria mais força de divulgação... Valeu, sim. É ponto de encontro de muitos pesquisadores, jovens, estudantes, velhos e saudosistas. Recebo muitas cartas. Respondo-as todas. FM - Como se deu todo o processo de criação? SF - Foi pei-pei!, que isto de criar, na minha cabeça, não comporta muita estrumação. Como se fora um fiat daqueles do Senhor Deus dos Exércitos... Faça-se o JP! Pronto, está feito, taqui o bichim, bem feitim, bem bonitim. Claro que deu uma trabalheira dos diabos. Equipe e dinheiro. Era uma época em que eu ainda não havia quebrado, de modo que contratei quatro operadores, comigo cinco, e metemos o pau. O sacrifício (e prazer!) de digitar tudo. Eu mesmo digitei o Navio Negreiro e muito de Pessoa. Depois veio a quebra dos açougues, comigo dentro, também quebrado. Os operadores reduziram-se a dois; depois a um, finalmente nenhum. Hoje, até já "desquebrei", mas não voltei a contratar ninguém, mesmo porque a proposta inicial do JP, com o tempo deixou de ter maior urgência. Já não há aquela "orfandade", há sites e sites na Internet afora. Digamos, a necessidade de recuperar coisas descuidadas, autores perdidos, mortos, não mais editados. Aos novos, sugiro-lhes que façam eles mesmos suas pages. Coloco link e me poupo da trabalheira. Nesse meio tempo, surgiu a Usina de Letras, com um programa interativo, o autor vai escrevendo, e o bichocomputador aprontando tudo... Encaminho o pessoal para lá; tem dado muito certo. Houve um tempo, de plena liseira, em que cogitei cobrar uma colaboração mínima. Poucos toparam, é certo, mas foi muito oportuna: ajudou a pagar os operadores. Por falar em operadores, qualquer dia destes abro-lhes uma página de agradecimento: Jurandir, Alisson, Marcone, Massa, Rosemberg e mais dois cujo nome a velhice me atrapalha agora. Não, hoje não há mais cobrança alguma. FM - A criação de um site tão amplo implica em uma manutenção algo complexa. De que maneira ela vem sendo realizada? SF - Inicialmente, a equipe. Era um tempo de Bahia, de muitas saudades até, contei com a colaboração do provedor E-net, um canadense (Christian), um japonês (Raul), uns caras finíssimos. E veja, naquele tempo, era tudo muito caro. Pois eles hospedaram o JP sem nada me cobrar. Depois, quando vim embora para Fortaleza, a Secrel, através do Messias, um cara também gente finíssima, deu-me todo o apoio. Posso dizer, resumindo a conversa, que da parte dos provedores, inicialmente a E-net, de Salvador, depois a Secrel, daqui, Fortaleza, o apoio tem sido absoluto. Hoje, eu-xozim é que faço tudo. Inclusive a atualização diária da página. Claro que tudo isto me toma um tempo danado. Aposentei-me, mas tanjo um escritório de advocacia tributária, de manhã, de tarde e de noite... Se você me perguntar de onde tiro tempo, responderei que sou um lobisomem, corro as sete partes do mundo de noite e, de manhã bem cedo, sou o primeiro que chega ao escritório, o último que sai, com escuro... a tempo só de virar lobisomem do JP outra vez. Mais nada. FM - Como deve proceder aquele poeta que queira participar do Jornal de Poesia? SF - Hoje encaminho a turma para a Usina de Letras: http://www.usinadeletras.com.br/. Como eu disse, é tudo muito fácil e gratuito. Depois, o poeta me passa o endereço e então coloco o link no JP. Mas há a estimadíssima figura do cupinchato. Claro que meus amigos não hão-de ficar na chuva. Homenageio-os, pois. Hoje mesmo coloquei a página do Dimas Macedo sobre o poeta Alcides Pinto, cupinchíssimos, meus e seus. Se deu trabalho? Mas eu é que fico devendo o favor a eles... FM - E no caso de instituições, editoras, fundações, que acaso queiram estabelecer algum tipo de parceria, ou mesmo enviar-te sugestões de novos autores a serem incluídos, como tens reagido a esse tipo de diálogo? SF - Em aberto! Estou só aguardando. Mas quem disse?! Vamos ver se aparece algum doido. Gastar dinheiro do próprio bolso para um empreendimento como o JP não é coisa fácil de encontrar. FM - Hoje o Jornal de Poesia é site indicado pelo Instituto Camões, em Portugal. Como se deu tal conexão? SF - O JP hoje é referência mundial em literatura, sobretudo na lusofonia. Faço questão de não colocar contadores na página. Os amigos, penalizados e generosos, sempre dirão que é pouco; os inimigos, de inveja, que é mentira... De modo que prefiro desconfiar que é lido, bastante lido. O pior é quando vou fazer uma pesquisa sobre um assunto qualquer; volta e meia, caio no JP. Uma chatice, uma desmoralização, claro que é, achar aqui em meus pés o que busco tão longe... Espio no espelho, tomo um gole d’água... Se fumasse acenderia um; se bebesse emborcaria goela abaixo uma lapada de aguardente. FM - Quais outras relações tem conseguido estabelecer o Jornal de Poesia, nacional e internacionalmente? SF - Ah, como tem sido gratificante! Esta semana apareceu no escritório um amigo do JP, brasileiro de Pacoti, Ceará, morando em Bufalo, Colorado, há uns 50 anos. Foi festão! Ainda nos começos, Bahia, apareceu por lá um luso-canadense, Vasco, desviando roteiro só para conhecer o editor do JP. A festa? Sou inteiramente a favor. FM - Sendo reconhecido como o site mais abrangente sobre o tema, o Jornal de Poesia chama a atenção por ser atividade privada e fruto basicamente do trabalho de uma única pessoa. Institucionalmente o país não conta com algo similar, independente da extensão ou complexidade do projeto. Alguma vez foste procurado, seja pelo MinC ou mesmo por uma secretaria de cultura local, municipal ou estadual? SF - Tenho pensando seriamente nisto. Mas, o tempo que vou gastar para correr atrás de um político, melhor corrê-lo atrás de um cliente do escritório... Assim tem sido. Não, por enquanto não vou atrás deles não. FM - Qual papel poderia acaso desempenhar a Internet no estabelecimento de laços culturais entre o Brasil e a América Hispânica? SF - Bom, a grande notícia do JP foi a chegada de Floriano Martins como responsável pelo intercâmbio hispânico. De um projeto inicialmente só luso, podemos dizer que o JP é ibérico, a ampla navegação de Espanha e Portugal. Realmente tem sido um verdadeiro absurdo darmos as costas aos hispânicos, que têm uma literatura tão rica. A escolha não poderia ter sido melhor, justamente aquele que, também sozinho, fazia, via correio, esse intercâmbio. Não há limites! Por outra, a hospedagem da Agulha dentro do JP é apenas o coroamento daquele ditado nordestino: Quanto mais cabras, mais cabritos. E bons cabritos, diga-se de passagem. FM - Como se mantém hoje o Jornal de Poesia em termos de suporte e difusão? SF - Apenas no boca-a-boca. O JP está nos buscadores de toda a orbe, desde o Cadê, Brasil, ao mundial www.google.com. Claro que quanto mais divulgado, melhor. É hora de passar um mail-geral sobre as novidades, pelo menos as do mês. Vamos pensar nisto. Fortaleza, dezembro de 2002 Jornal de Poesia. Criado e dirigido por Soares Feitosa. Endereço: http://www.jornaldepoesia.jor.br/. . . revistas em destaque . .. digestivo cultural (brasil) diálogo entre editores: julio daio borges & claudio willer Em Agulha já foi comentado, várias vezes, o risco representado pela concentração e pelo crescimento dos monopólios de comunicação, especialmente para o Brasil, país cuja legislação é frouxa, tornando-o uma preferência eletiva de aventuras irresponsáveis e empreendimentos temerários (bastando observar o que se passa, neste país, com a televisão paga, a cabo, com as redes de TV, e com a telefonia, inclusive em sua intervenção na transmissão pela Internet). Nesse contexto, é um motivo de satisfação apresentar Julio Daio Borges do Digestivo Cultural, www.digestivocultural.com e www.digestivocultural.com/blog/. É o típico free-lancer de si mesmo, capaz de levar a bom termo um projeto pessoal, em um empreendimento que conta com toda a simpatia de Agulha. CW - Depois da saída de cena de no. - entre outros projetos - o foco de uma entrevista sobre o Digestivo Cultural forçosamente acaba incidindo na questão da viabilidade. E, em uma publicação híbrida como o Digestivo, com algo de newsletter, de periódico eletrônico, e de ecommerce, também sobre sua identidade. Antes de qualquer outra coisa, um pouco de biografia: de onde emergiu Julio Daio Borges, o que fazia antes, em resumo, quem é você? Em especial, antes do Digestivo, seu campo de atuação era mais o jornalismo impresso, marketing, informática? JDB - Sou engenheiro por formação. Estou ligado aos computadores desde os onze anos de idade. E às letras, desde os dezessete. Mantive sempre essa dualidade. De 1996 até 2001, trabalhei em bancos, consultorias e empresas de telecomunicação. O lado engenheiro prevaleceu nessa época. Mas eu nunca parei de escrever. Montei um site pessoal (jdborges.com.br, em 1999) e o Digestivo Cultural (Digestivocultural.com, em 2000). No entanto, foi só em meados de 2001 que o jornalista emergiu, e subjugou o engenheiro. (Quer dizer, em termos: para estruturar o Digestivo, eu precisei muito da minha "expertise" de engenheiro.) CW - Examinando tudo o que você apresenta, fica-se com a impressão de que é simples manter à tona um periódico eletrônico. Basta trabalhar 26 horas por dia. É isso mesmo? JDB - Considero uma profissão de fé. Um verdadeiro ato de heroísmo. Trabalhar com cultura no Brasil. Ainda é aquele negócio da cereja no bolo. Quando você fala sério, é considerado chato, difícil, prolixo. Quando você faz piada, acaba atraindo um leitor ou outro, mas corre o risco de se repetir e cair no entretenimento puro e simples. Na Internet, mais ainda. Já reparou que nós somos os "filhos do jornalismo impresso" falando para os "filhos da televisão"? O diálogo parece impossível (e é), mas, ainda assim, existe (embora pouca gente queria investir nisso). CW - Dê algumas coordenadas cronológicas: quando foi que você começou a pensar em fazer um informativo, jornal ou boletim, eletrônico? Como surgiu a idéia? Digestivo? De onde saiu esse título? Anglicismo, é? De digest, um sumário ou condensação de informações? JDB - O Digestivo propriamente dito surgiu em setembro de 2000. Eu estava tentando resolver esse enigma: por um lado, o desejo de escrever e seguir carreira em jornalismo; por outro, a Internet se abrindo como um mar de possibilidades. Então pensei num formato relativamente breve, falando de cultura, num sentido utilitarista e, ao mesmo tempo, crítico. O nome vem daí. É contraditório, na verdade. Mas é também simpático e as pessoas, em geral, apreciam. Eu queria que o Digestivo - como boletim - fosse auto-sustentável e, portanto, me direcionei a um público mais amplo. Não queria apenas os iniciados, nem só os especialistas. CW - Quais as razões da escolha do segmento cultura, e não economia e/ou política, ou negócios em geral, por exemplo? Em tese, dariam mais Ibope. Aliás, é cultura, ou cultura e variedades? JDB - Por que "cultura"? É o mesmo que me perguntar por que "azul" e não "vermelho". Simplesmente porque me pareceu o caminho mais natural. Nunca me vi editando um semanário sobre economia ou política. Fora que o efêmero não me atrai. A informação, a notícia. Prefiro a análise, a reflexão. Admiro os repórteres, claro, mas sempre preferi o lado mais autoral do jornalismo. O subjetivo invés do objetivo. Sem dizer que economia e política não são assuntos que eu domino (ou que tenho pretensão de dominar). Sobre cultura dar pouco Ibope, não concordo. Basta pensar em três dos colunistas mais populares no Brasil: Diogo Mainardi, que "mexe com cultura"; José Simão, que escreve na Ilustrada; e Luis Fernando Verissimo, que escreve no Caderno 2. CW - Quanto tempo levou, entre definir as principais características do Digestivo, e pô-lo no ar? Houve modelos, veículos nos quais se inspirou? JDB - O Digestivo Cultural, como ele é hoje - falo do site como um todo , resultou de um trabalho de mais de dois anos. Como eu disse, a minha referência e a dos Colunistas era fundamentalmente a imprensa escrita. A partir disso, a idéia foi dinamizar alguns processos aproveitando as facilidades da internet. Em termos de publicação, por exemplo: cada um hoje publica, controla e modifica o seu texto automaticamente. Em termos de interatividade, outro exemplo: por meio de fóruns, e-mails, número de acessos, lista dos mais lidos, etc. Foi um grande aprendizado - e continua sendo. Algumas idéias mirabolantes se revelaram inúteis; outras, nem tanto, produziram resultados surpreendentes. CW - Quando o Digestivo Cultural foi lançado, há pouco mais de dois anos, as expectativas sobre o crescimento de veículos eletrônicos eram outras. Hoje, reverteram-se. Havia uma previsão, talvez apocalíptica, de substituição total ou parcial do jornalismo impresso pelo eletrônico, que não se cumpriu. Você não acha que está pisando em um campo minado? Você chegou a fazer uma análise crítica de outros projetos, a diagnosticar onde falharam? JDB - Quando o Digestivo apareceu, a Internet já claudicava (estamos falando do final de 2000). Quando chamei os Colunistas, e decidi implementar a revista eletrônica (início de 2001), ninguém pensava em faturar milhões. Queríamos fazer barulho, mostrar um trabalho digno de nota, provar que havia novos talentos não contemplados pela imprensa, agitar o meio, derrubar alguns paradigmas, etc. Nesse sentido, diria que conseguimos. Óbvio que, em outros tempos, o conteúdo do Digestivo seria remunerado por um portal - e, quem sabe, poderíamos viver disso (o que não acontece hoje). Sobre a análise crítica de outros sites, ela é feita constantemente e nos ensina muito. CW - Quando, nos informativos sobre o Digestivo Cultural, você declara viabilidade econômica, o que isso significa? Cobertura de custos de manutenção, ou que dá para viver bem disso? Quanto por cento da sua receita é diretamente ligada ao Digestivo (anunciantes, patrocinadores, assinantes), e às vendas ou à prestação de serviços, do tipo construção de sites? (isso, mesmo considerando a óbvia sinergia entre ambos, que um puxa o outro, que a circulação do Digestivo o fortalece em prestação de serviços e vice-versa). JDB - Quando falo em viabilidade econômica, falo em custos muito baixos se compararmos o Digestivo a uma publicação equivalente em papel. Como a estrutura já está montada, não há quase manutenção. Fora que o site e as facilidades que a internet proporciona eliminam uma porção de intermediários. Há basicamente a redação, para se remunerar - o que é, convenhamos, a parte menos onerosa de uma revista ou de um jornal. Quanto às receitas, o grosso vem do ecommerce (no entanto, muito longe daquilo que você está imaginando). Já a publicidade em internet foi praticamente banida - ficando restrita aos grandes portais (às vezes, nem isso). E a parte de serviços vai crescendo aos poucos, embora tenha sofrido um baque com a desaceleração geral da mídia. CW - O Digestivo Cultural apresenta textos e informação, mas também bastante e-commerce. Em parte, não seria um Submarino terceirizado? (ou seja, assumindo funções de que Submarino desistiu, diretamente, como sua própria revista) JDB - A pergunta é interessante. Sérgio Buarque de Holanda tentou introduzir Weber no Brasil, mas tudo indica que não foi feliz. Aqui, ganhar dinheiro ainda é pecado. Entre a intelectualidade, então, pecado mortal. Assim, se um "site de cultura" se propõe a faturar alguns trocados com os produtos que gratuitamente divulga, logo é tachado de "vendido" ou de "mercenário". O que existe entre o Digestivo Cultural e o Submarino é uma relação de parceria comum, e nada mais. Acontece que nos pareceu lógico oferecer a facilidade de se adquirir livros, CDs e DVDs via internet, através do nosso site, e receber uma comissão por isso. Os intelectuais brasileiros precisam perder esse preconceito. Quem sabe abandonando o voto de pobreza e pensando em soluções comercialmente mais viáveis. Teríamos, inclusive, publicações financeiramente mais saudáveis. CW - O que lhe deu maior prazer publicar, lhe provocou maior satisfação? Do Digestivo atual, o que lhe agrada mais? Fale um pouco mais sobre a contribuição propriamente cultural do Digestivo, o que ele acrescenta, além de possibilitar acesso a mais informações via net e, portanto, dar sua contribuição para a democratização da informação. JDB - Não vou falar de um texto ou outro, porque cometeria certamente alguma injustiça com algum colaborador. O que me orgulha mais é termos construído, a partir do zero, um periódico que hoje é referência em termos de jornalismo cultural, tanto dentro quanto fora da Internet. Veja bem: eu sou praticamente um "outsider", não venho de nenhum jornal, nunca tive ligações na grande imprensa, entrei como novato nesse negócio. A maioria dos Colunistas também (começaram como eu). De repente, recebemos elogios do Millôr Fernandes, felicitações do Mino Carta. Depois uma citação honrosa do Sérgio Augusto, uma indicação do Ruy Castro. Uma menção do Daniel Piza, uma consideração do Sérgio Dávila, um voto de confiança do Luís Antônio Giron. Por fim, as mensagens do Diogo Mainardi, da Ana Maria Bahiana, o apoio da Sonia Nolasco. Tudo isso não é mera coincidência e eu não acredito que aconteça por acaso. Em termos de reconhecimento, ninguém acreditou que chegaríamos tão longe. Nem nós mesmos. Pessoalmente, acredito que nem ninguém mais chegue. É o tipo de coisa que não acontece duas vezes. . . revistas em destaque . .. el artefacto literario (suécia) diálogo entre editores: mónica saldías & floriano martins FM - Como situar a atividade cultural de uma uruguaia que vai residir na Suécia e ali acaba projeto editorial de difusão da literatura iberoamericana? MS - Mi propia condición de poeta es sin duda y en primer lugar lo que me lleva a la concreción de un proyecto editorial como El Artefacto Literario, pero también sin temor a equivocarme puede decir que es mi propia situación de distancia geográfica y psicológica del sitio de mis origenes lo que da, o busca dar, desde el primer momento un contenido especial a El Artefacto Literario: la búsqueda de perspectivas de tiempo y espacio, la contextualización de calidades literarias independientemente de la pertenencia a tal o cual grupo, la apuesta por una trascendencia literaria que no depende de quién escribe sino de lo que se escribe. Lo que escribimos es apenas una gota en un inmenso mar, y estoy convencida de que si pudieramos de verdad comprender esto de corazón, de una forma totalizadora… si pudieramos comprender cuál es nuestro lugar en una perspectiva realmente abarcadora de tiempo y espacio podríamos también ser mejores creadores, sin estar demasiado ocupados y preocupados por la difusión y promoción de nombres, y más atentos a la difusión de calidad. Si no hay calidad entonces no hay nada para difundir. Y si como creadores tenemos la inmensa dicha de alcanzar una trascendencia literaria de tal envergadura que dentro de dos mil años las gentes integren nuestros versos en su vida cotidiana poco importa cuál ha sido nuestro nombre. Son estos al menos algunos de los ingredientes que impulsan y renuevan El Artefacto Literario, como proyecto editorial. FM - E em quais circunstâncias consegues concretizar as bases desse projeto editorial? Indago como ele se estrutura e quais as tuas condições de trabalho. MS - De ninguna forma es posible hablar de una única circunstancia o de varias circunstancias que se dan en un solo y único momento. Las circunstancias y las bases que dan nacimiento y van estructurando un proyecto editorial se van dando de a poco, paso a paso e incluso de manera intuitiva. En un primer momento y durante algunos meses El Artefacto Literario fue un espacio que incluía distintos géneros: no solo poesía sino también prosa y dramaturgia. Poco a poco el proyecto editorial se fue abriendo, concretando y limitando a la poesía. Así se han ido construyendo las bases; poco a poco, pero siempre desde la idea principal: la difusión de literatura de calidad. Y como la gran mayoría de los proyectos culturales El Artefacto Literario ha sido desde el comienzo y sigue siendo un proyecto altruista, que permanece y crece a partir del esfuerzo editorial. Esas son las "condiciones de trabajo": inversión personal en lo económico y en tiempo de trabajo. FM - Em que exatamente baseou-se a definição pela poesia, e não pela prosa ou a dramaturgia? MS - Creo que es importante apostar por un decantamiento paulatino de uno de los géneros, aunque por supuesto que en muchos casos es imposible establecer las fronteras entre uno y otro. No digo que sea imposible llevar adelante un proyecto de calidad que ampare diferentes géneros, pero sí creo que es una tarea imposible cuando una publicación no cuenta con medios ni humanos ni económicos como para enfocar en varios ámbitos y no correr el riesgo de entrar en un proceso de pérdida de calidad literaria. Mi tiempo es tremendamente reducido y en ese sentido creo que lo mejor que puedo hacer como editora es buscar focalizar, y elegir un campo, en este caso la poesía. Si la revista tuviera medios económicos entonces también podría contar con recursos humanos que permitieran una propuesta más amplia. Sin embargo, este es apenas uno de los aspectos en cuanto a por qué poesía y no prosa o dramaturgia. Si El Artefacto Literario recibiera en algún momento apoyo económico de algún tipo tampoco que implicara la posibilidad de disponer de recursos humanos creo que continuaría optando por la poesía. Dar un perfil y limitar los campos siempre es necesario e incluso deseable. FM - El Artefacto Literario possui algum apoio institucional? Como é mantido o projeto editorial? MS - Como mencioné ya en algunas de las preguntas anteriores El Artefacto Literario no cuenta con ningún apoyo económico. En Suecia muchas actividades o proyectos culturales reciben -aunque no siempreapoyo de organismos culturales estatales, pero no es así cuando se trata de medios digitales. Por otra parte está claro que por definición y por la propia característica de un medio y otro -digital y de papel-, una propuesta digital implica costos menores que una publicación de papel. Esta última debe contar con gastos de impresión, de papel, de encuadernación y ni hablar luego del costo de distribución y marketing. Los medios digitales ofrecen en ese sentido una posibilidad muy diferente: los costos se reducen en comparación enormemente y las posibilidades de difusión se multiplican. Claro que siempre de todas formas es necesario asumir costos fijos y en la medida en que la revista va creciendo se necesitan medios económicos sobre todo para el desarrollo del proyecto editorial. FM - Há intercâmbios com outras publicações similares? De que maneira vem sendo feita a difusão de El Artefacto Literario? MS - La difusión de un medio digital se realiza, en primer lugar, por vía digital. En este sentido y luego de un año y medio de vida he podido comprobar como editora que la revista ha hecho caminos impensables y ha llegado a gran cantidad de lectores. Semanalmente recibo enormidad de cartas postales y e-mails desde todo el continente latinoamericano; de países europeos como España, Portugal, Italia, Suiza, Alemania, Inglaterra, Noruega, Dinamarca y por supuesto Suecia; de Angola, Mozambique, Sudáfrica. No hay semana que no me llegue por correo postal algún libro de poesía, y de la misma forma material por vía digital. Por otra parte, y de manera natural, la conformación de un consejo editorial ha llevado también a una difusión importante de la revista. El apoyo que de manera permanente ofrecen a la revista poetas como José Kozer, Reynaldo Jiménez y Saúl Ibargoyen Islas es de gran valor para El Artefacto Literario. El aporte que el joven peruano José Ignacio Padilla también de manera permanente ha dado y da a la revista ha sido por ejemplo fundamental para la difusión de El Artefacto Literario en el Perú, entre poetas de calidad de este país y no menos entre el público lector. De alguna manera todos los miembros del consejo editorial, cada uno de manera diferente han significado un apoyo valioso para la continuación y maduración de la revista. Cuando se trata de publicaciones similares creo que aún estamos en los comienzos. Creo que un intercambio natural que se ha dado es el apoyo mutuo entre la revista cultural Agulha, de la cual tú mismo eres editor, y El Artefacto Literario. Otros intercambios y/o cooperaciones se están gestando en muchas direcciones, geográficamente en lo interno y hacia afuera. FM - Muitos leitores da Agulha indagam quando teremos uma edição em papel. Confesso que já não tenho essa possibilidade como uma meta, interessando bem mais a ampliação de circulação no meio digital. Acaso El Artefacto Literario tem planos para futuras edições impressas? MS – Creo que en el reclamo de tantos lectores siempre hay un fondo de sabiduría muy sana, porque es indudable que el medio digital ni ha sustituido ni sustituirá la magia del papel, así como los mensajes electrónicos no sustituirán la carta postal ni la tarjeta rústica. Si bien es imposible saber y predecir qué sucederá en dos mil años, lo cierto es que a esta altura probablemente el ser humano cuenta, en su relación con el papel, con una afinidad casi genética. En cuanto a El Artefacto Literario por el momento no tengo planes de ediciones impresas, pero tampoco cierro las puertas a esa posibilidad. Creo que especialmente se trata de problemas de recursos económicos y humanos para que esta tarea pueda ser posible. De todas formas pienso que ante la posibilidad de elegir alguna via impresa probablemente lo que más ayudaría a la poesía de calidad sería la opción por el libro impreso. Esta es una posibilidad que la revista viene madurando en realidad ya desde los comienzos, pero para esto es fundamental contar con una infraestructura mínima y una financiación económica que haga posible la cobertura de los gastos, cosa que al menos por el momento no resulta posible. FM - Como tens sentido a reação dos leitores? Quais os indicativos que mais se destacam nas inúmeras cartas que certamente deves receber? MS - Me resulta difícil sintetizar en pocas palabras la reacción de los lectores, porque en el mar de cartas encuentro cosas muy diferentes. Desde autores realmente de calidad pero desconocidos o muy poco conocidos que valoran enormemente la tarea editorial que El Artefacto Literario ha emprendido hasta autores ya establecidos que luego de haber visto mucho y tal vez demasiado en esto del quehacer literario, perciben este proyecto editorial como algo fuera de lo común dado el abanico de propuestas estéticas diferentes. No pocos lectores se sorprenden buenamente, por ejemplo, por la sobriedad del diseño gráfico de la revista, pero en especial se sorprenden de que yo en mi calidad de poeta no incluya en mi revista una sección mía, con mis propios poemas; es decir, aplauden y saludan el hecho de que no use mi proyecto editorial para promover mi propia poesía. Yo siempre respondo que en realidad no ha sido lo que me ha movido en lo personal a concretar un proyecto editorial. Y en este sentido vuelvo al tema que te mencionaba al principio: la perspectiva individual y colectiva, en tiempo y espacio. Creo que mi mayor preocupación como poeta y como editora (entre otras cosas) es la de intentar comprender cuál es nuestro rol como seres humanos y en nuestro quehacer, sea cual sea, en una perspectiva histórica; aquí, allí, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y estoy convencida de que esa perspectiva, o al menos el atisbo de esa perspectiva, no es posible de alcanzar desde los éxitos circunstanciales, o reconocimientos que con la mejor de las intenciones vienen de voces amigas. Los éxitos o reconocimientos circunstanciales son por supuesto estímulos humanamente necesarios, pero en el fondo no son más que espejismos de algo que puede no ser muy real en una perspectiva de tiempo y espacio. Probablemente allí nos asiste en especial la pregunta que creo todos deberíamos hacernos y responder con total sinceridad (al menos ante nosotros mismos): qué es lo que buscamos con nuestra escritura? Qué buscamos con la difusión de nuestros versos? FM - Para encerrar, qual a periodicidade de atualização de El Artefacto Literario, em que se baseia a definição de pauta da revista e quais novas perspectivas imaginas para ela neste 2003? MS - Actualmente y desde ya hace un par de meses El Artefacto Literario se ha planteado una periodicidad de tres o cuatro números al año, con ciertas variaciones dependiendo de las posibilidades. En este sentido creo que hay que ser lo más flexible posible, pero sin despistar al lector. Un medio como el digital a veces nos propone casi el vértigo de la frecuencia a extremos algo alarmantes. Es cierto que es necesaria una dinámica diferente a la que exige una publicación impresa pero pienso que de ninguna manera la frecuencia ha de estar por delante de la calidad y del rigor en el trabajo editorial. La periodicidad de tres o cuatro números al año permite una planificación y una selección más rigurosas, y una maduración de la idea detrás de cada número que ayuda enormemente a no perder de vista el objetivo principal. Es en este contexto y en este ánimo donde se definen las pautas de la revista. Este seguirá siendo en lo fundamental el camino a recorrer durante el próximo 2003, y seguramente habrá también buenas sorpresas. Entrevista realizada em dezembro de 2002. La revista digital de poesía El Artefacto Literario nace en Suecia en agosto del 2001, bajo la dirección editorial de Mónica Saldías. Consejo Editorial: José Kozer, Víctor Sosa, Reynaldo Jiménez, Saúl Ibargoyen Islas, Floriano Martins, Eduardo Espina, José Ignacio Padilla, Claudio Daniel. Dirección electrónica: http://go.to/artefacto E-mail: [email protected] . . revistas em destaque . .. jornal da abca (brasil) diálogo entre editores: alberto beuttenmüller & floriano martins FM - O Jornal da ABCA inicia atividades em setembro de 2001, após uma gestão anterior em que a entidade contava com outra publicação, o Jornal da Crítica. Quais os traços essenciais que distinguem um periódico do outro? AB - O primeiro traço foi de divergência editorial. O Jornal da Crítica não identificava a Associação Brasileira de Críticos de Arte nem demonstrava identidade com qualquer tipo de crítica. De quê crítica se tratava? De música, de teatro, de artes visuais? Além disso, todo jornalista sabe que há um formato de jornal que já é clássico. Este foi outro fator negativo do JC. Pelo formato, o JC era mais uma news letter ou um boletim do que um jornal, o JC assumiu o formato desses tipos de periódicos, com fotos pequenas, pequenas manchetes e mini-colunas. FM - Com periodicidade aparentemente semestral, é possível observar, nos três números até aqui publicados, uma melhor definição editorial, sobretudo no que diz respeito à presença de matérias e informações, que extrapolam a órbita enfadonha e viciada dos dois centros hegemônicos, Rio e São Paulo. Como tem sido possível articular uma pauta mais abrangente a partir dos diversos segmentos da ABCA em todo o país? AB - A periodicidade é fato importante em um jornal de grande circulação, mas na ABCA temos um jornal de críticos específicos, voltados para as artes visuais de seus Estados de origem. Temos críticos espalhados por todo o Brasil, não seria justo privilegiar apenas o eixo do Sul Maravilha. Temos hoje atividades no Nordeste, como a Bienal do Ceará, do Museu de Arte Moderna da Bahia, do Instituto Joaquim Nabuco do Recife, tanto quanto a Bienal do Mercosul, de Porto Alegre e a Bienal de São Paulo. Como editor, procuro cobrir todas as regiões. Um jornal deve ser democrático e o Brasil é um país continental; há enorme dificuldade de saber o que se passa longe do eixo Rio - São Paulo, que sempre recebeu cobertura total da grande imprensa. Somos um jornal alternativo em todos os sentidos, um periódico mais de ensaios que de notícias e de reportagem, mas gosto de sempre editar entrevistas com personalidades do setor de arte visual. O Jornal da Crítica privilegiava notas internacionais, o Jornal da ABCA quer ver o país unido e respeitado como um todo, só depois olhamos para os fatos internacionais de importância. O editor desenha o jornal durante meses, a colher aqui e ali os fatos mais relevantes e variados. Como não é um jornal feito somente por jornalistas, ele tem mesmo um aspecto incomum, talvez insólito, mas já tem uma diagramação própria, tem um rosto. FM - Por outro lado, dada a conexão existente entre ABCA e AICA, de que maneira a publicação de um jornal que represente a entidade brasileira tem encontrado chances de um diálogo mais intenso com seus pares em outros países? AB - A AICA está dividida. Antes, o presidente ficava em Paris, sede da entidade; agora a presidência permanece em seu país de origem, ou pelo menos era assim até bem pouco tempo. Nós temos correspondentes na França, Itália, Alemanha, atentos aos fatos mais importantes da Europa. Prefiro um texto vindo de lá a copiar notas de jornais estrangeiros. Nós da América Latina somos vistos com restrições pela inteligência européia da mesma forma que pelos Estados Unidos. Entretanto, elogiaram o jornal. Nós temos de provar que somos superiores a essas questiúnculas. Por outro lado, eu não elogiaria a news letter da AICA, falta-lhe um caráter próprio, para dizer o mínimo. FM - Não me parece que tenhamos que provar nada exceto a nós mesmos, sendo este um dos dilemas centrais da cultura brasileira: a baixa auto-estima. Mas como se relaciona então a direção do jornal com os críticos latino-americanos de uma maneira geral? Há outras publicações desta natureza na América Latina ou, a exemplo, da AICA, tudo se resume a mera circulação de news letter? AB - A América Latina é formada de países que sofrem a História e não de países que fazem a História. A globalização serviu, pelo menos, para que isso ficasse claro. Eu criei a Bienal Latino-Americana em 1978, para unir a AL muito antes do atual Mercosul, mas os doutores da USP Aracy Amaral e Walter Zanini convidaram os críticos e historiadores da AL para um conclave cuja decisão já estava tomada, ou seja, acabar com a Bienal Latino-Americana. Não perceberam que os demais países não queriam reforçar a liderança do Brasil. A primeira edição tinha caráter antropológico, daí o tema Mitos e Magia, um dos cernes da Arte na AL. Era para melhor nos conhecermos e partir para projetos exclusivos e sair dos vícios da Bienal Internacional, na qual havia uma espécie de acordo, no qual só os grandes venciam. Para ter-se uma idéia, de 1951 até 1977, ou seja, em 25 anos de existência da Bienal de São Paulo, só a Argentina ganhou o Grande Prêmio, em 1977, quando eu era curador; ano em que o Conselho de Arte e Cultura resolveu terminar com os prêmios, já que não se tratava de atletismo, mas, sim, de cultura. Não há como discutir um prêmio entre pintura e escultura, são coisas distintas. Como saber o que é melhor entre vídeo e instalação? Os críticos da América Latina sobrevivem a duras penas, não recebem os altos salários dos países que fazem a História. Por isso, o interesse pessoal é maior do que o interesse cultural. Há muito pouco intercâmbio entre as Nações da AL. Os críticos da América Espanhola, quando escrevem livros, deixam o Brasil de fora, porque desconhecem a arte que se faz aqui. Com tantas bienais no Brasil isso talvez mude. Nós estamos dando exemplo: a AICA devia ter um jornal e uma revista on-line, mas não fazem nem um nem outro. A divisão da AICA na AL, criada há cerca de cinco anos, sumiu como por encanto, sob a presidência de Horacio Saffons, da Argentina. O nosso representante nessa Divisão Latino-Americana nem fez um relatório sobre as atividades dessa entidade fantasmática. Há muito que fazer e poucos que querem realizar algo nos nossos Tristes Trópicos, como dizia Levy Strauss. FM - Como se dá a circulação/distribuição do Jornal da ABCA, nacional e internacionalmente? AB - Infelizmente, de forma aleatória. Não há ainda uma distribuição correta e muita gente, por isso, nem sabe da existência do jornal. A ABCA tem problemas de verbas e de verbo. Não há dinheiro e somos poucos colaboradores no jornal. FM - No editorial do número 3 do Jornal da ABCA mencionas certa dificuldade no envio de matérias para o fechamento de pauta no sentido de uma maior abrangência dos críticos vinculados à entidade em todo o território nacional. A que atribuis essa participação ainda reduzida dos críticos em todo o país? AB - Falta de interesse. Quando há interesse na matéria, o texto chega rápido. Se não há interesse pessoal, jamais virá. Há certo pessimismo de minha parte, mas é uma avaliação correta. Há associados que enviam pesquisa em andamento, para mostrar que estão a pesquisar, assim, recebem créditos junto aos seus amigos. Outros reaproveitam matérias que já saíram em jornal, não têm amor pela associação. Nesses casos eu não edito. Vou criar normas de redação e enviar para todos. A primeira regra é a de que a matéria deve ter interesse nacional, caso contrário não sai. Aumentou o número de colaboradores. Os associados estão interessados no Jornal da ABCA porque ele vem sendo elogiado. Eu agradeço, pois faço tudo sozinho, sem a ajuda de nenhum associado, apesar de que há uma comissão editorial. Assim é a América Latina, assim é o Brasil. FM - Como entendes a importância da Internet na reflexão e difusão de bens culturais e artísticos? Acaso a ABCA já não começa a ressentir-se de uma ausência de circulação através da Internet? Há planos para a criação de um site da entidade? Quais fatores determinam a inexistência de atuação nesse veículo? AB - Quando assumi a editoria do jornal, chamei a atenção para este fato: o jornal escrito depende de uma boa circulação e esta de verba. Propus, de início, uma revista on-line, pois a circulação já não seria problema, mas a diretoria, da qual não faço parte, entendeu que não poderíamos ficar sem o jornal impresso, pois já era uma conquista da ABCA. Eu insisti que deveríamos, então, fazer ambos. A revista on-line ainda vai demorar, mas creio que sairá em 2003. FM - Por último te deixo a tribuna livre, para o comentário de algo que acaso tenhamos esquecido de abordar. AB - Gostaria de pedir aos colegas da ABCA cooperação. Sei que fazer cultura em um país que não se importa com ela, é difícil, mas temos de acreditar no futuro do país. A ABCA precisa fazer algo pela comunidade, já que foi esta mesma comunidade que pagou os estudos universitários da maioria dos associados. Este jornal precisa percorrer escolas, universidades, museus e bienais. Precisamos crer na ABCA e, principalmente, em nós próprios. Entrevista realizada em dezembro de 2002. O Jornal da ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte) surge em São Paulo em setembro de 2001, dirigido pelo crítico Alberto Beuttenmüller. E-mail: [email protected] . . revistas em destaque . .. o escritor (brasil) diálogo entre editores: erorci santana & floriano martins O poeta e jornalista mineiro Erorci Santana tem se destacado sobremaneira pela direção do jornal O Escritor, da União Brasileira de Escritores, tarefa que divide com Ieda Estergilda de Abreu e que requer um tato especial considerando que as entidades de classe costumam ser lugares onde todos se sentem no direito de reclamar de algo enquanto que praticamente ninguém se dispõe a ajudar. Erorci tem publicado alguns livros de poesia, dentre os quais Carnavras (1986), Concertos para Rancor (1993) e Maravilta e outros cantares (2002). A seguir, uma conversa rápida em que nos conta algo a respeito dos meandros editoriais no tocante ao jornal O Escritor. [F. M.] FM - Desde quando se publica O Escritor? ES - O Escritor foi criado em janeiro de 1980, quando o número zero foi lançado junto com a candidatura do poeta Péricles Prade à presidência da UBE. A pauta consistiu em um debate com escritores, do qual participou Jamil Almansur Haddad. FM - O que tens acrescentado à pauta essencial do jornal desde que assumiste a direção? ES - Assumi a edição do jornal a partir do número 81, lançado em julho de 1997, após a morte de Henrique L. Alves, que o editava, com a percepção adequada de tratar-se de um jornal realizado por uma agremiação de escritores e que, portanto, mais que estender-se ao que é universal deveria espelhar o que era doméstico, minha preucupação inicial foi melhorar a projeto gráfico da publicação, cuja precariedade era evidente. Num segundo momento, procurei ampliar o corpo de colaboradores voluntários, à duras penas, pois a escassez de articulistas qualificados, que se proponham a trabalhar graciosamente, é o principal problema a ser resolvido para que existam publicações literárias no país, pois é sabido que os cofres estão fechados para o financiamento do jornalismo cultural. Em data mais recente, em ação conjunta com o diretor da publicação e presidente da UBE, o poeta Claudio Willer, logramos a formação de um Conselho Editorial ativo e a participação da escritora Ieda Estergilda de Abreu na co-edição. A ampliação do leque de pessoas envolvidas na discussão e produção do jornal (ainda que não possamos fazer isso em tempo integral, pois precisamos lidar com outros ofícios para sobreviver) viabilizará uma pauta mais consistente. FM - Há um abismo intrigante entre os associados da UBE e os colaboradores do jornal. A que atribuis isto? ES - Reflitamos sobre o gosto amargo de nossa condição. O exercício da literatura no Brasil é árduo, sem o mínimo incentivo ou apoio. Quantos escritores potenciais não se diluem nessa sociedade tecnocrática e retrógada? A maioria dos escritores (assim chamados porque comprovaram essa condição com a mínima escrita) associados à UBE são latentes, embrionários. Ingressam na entidade em busca de apoio logístico e social. Querem alguém que leia e comente seus rudimentos literários, diga-lhes que estão em bom caminho e que não estão sozinhos nessa tresloucada aventura. Há os bons escritores nas fileiras da UBE, sim, veteranos e assentados, gente que poderia, se tivesse boa vontade, agregar-se à essa plataforma de manobras coletivas em torno do fenômeno literário, serem transformados em agentes da difusão e da discussão dessa produção. Mas escritores, mercê de juízos de valor agregados ao seu ofício e à sua personalidade é um ser pouco inclinado a expandir-se à esfera coletiva, romper seu casulo. Viciamse em demarcar posição destacada e individual. Escritores fingem ouvir escritores, com freqüência fingem a condição de aprendizes quando são orgulhosos e arrogantes. De modo que a existência de agremiações de escritores fundadas na suposta necessidade da defesa de interesses comuns chega a ser uma traição de intenções individuais. O escritor vive o dilema entre o individual e o coletivo, na incerteza que se faz entre a pujança do ser e a eventual necessidade de alinhamento para sobreviver. Associa-se às UBEs e dá o assunto por resolvido. São poucos os que se lançam ao trabalho abnegado pela classe. Mas a dimensão da luta do escritor no mundo hoje é pra não morrer à míngua, é a da própria sobrevivência do prestígio da ficção, garantir o leitor do futuro num sistema que parece apostar impiedosamente na imbecilização da espécie. Respondendo à pergunta, colaboradores graciosos têm mesmo que ser capturados à laço. FM - Qual recepção crítica o jornal tem encontrado, dentro e fora dos muros da entidade? ES - Melhorou bastante. Os leitores têm elogiado o conteúdo e a apresentação. E precisamos acreditar e trabalhar pensando na progressão qualitativa, fugir sempre do engessamento diversificando os temas e os membros do corpo de colaboradores. FM - Considerando a existência de uma grande limitação de espaço para a manifestação de obra e pensamento do escritor brasileiro em nossa imprensa, não interessaria a O Escritor buscar um projeto editorial mais ousado, através de uma lei de incentivo, algo assim? ES - Interessa, sim, e é da ordem do dia esse pensamento. Precisamos trabalhar para que isso aconteça. Mas um grande jornal de debate da causa do escritor e da literatura, plural e aberto, deveria vir na esteira do fortalecimento da representação política da classe, com a criação de uma federação de escritores, ampliação de seu poder de intervenção na distribuição dos recursos, na implantação de projetos nacionais de incentivo à produção literária e de edição de obras dos autores brasileiros, de barateamento da produção e distribuição do livro, de projetos de sedução e formação de leitores. Lembra-me que a UBE recebeu do INSS um casarão em comodato na Rua Marquës de Paranaguá, 124, em São Paulo e até agora não conseguiu os recursos financeiros necessários para promover o restauro. A maior agremiação de escritores do país sequer têm uma sede social e isso é no mínimo deplorável. Jornal O Escritor. Órgão da UBE - União Brasileira de Escritores. Editores: Erorci Santana e Ieda Estergilda de Abreu. Rua Barão de Itapetininga 262 Sala 326 São Paulo SP 01042-447. Acesso eletrônico: www.ube.org.br. Contato: [email protected]. . . revistas em destaque .. fokus in arte (brasil) diálogo entre editores: andré lamounier & floriano martins André Lamounier é músico profissional, Professor, Arranjador, Produtor Musical, Compositor de um estilo próprio com mais de 400 composições, destacando-se inúmeras peças para piano popular e clássico, canto popular e lírico, ballets, oratório e peças sinfônicas. Também autor de musicais com estilo “Broadway/Hollywood” e Diretor Presidente/Fundador da Editora Fokus in Arte. FM - Como surge Fokus in Arte e o que lhe justifica o nome? AL - Fokus significa enfocar em alemão. “Enfocar a arte” é a tradução do nome de nossa revista. A Arte está em toda parte, em tudo que fazemos. Seja no dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, no cinema, estamos em constante processo de criação do mundo e de nós mesmos. Nosso propósito é levar ao leitor esta visão: Somos protagonistas de nossa história e vivemos construindo o que amanhã denominarão como Arte. Partindo do princípio de que os personagens de ontem, que criaram e recriaram nosso jeito de ver o mundo, de ler, ver as horas; inventaram a roda, o automóvel, a tecnologia; descobriram a música, a pintura, a dança e a poesia; desenharam o que viam, descobriram a fotografia; enfim, em tudo a ARTE estava presente e fora criada pelo homem que foi ontem igual a mim e a você. Hoje, somos os artistas que estamos inventando e criando o amanhã. Queremos, através da Revista Fokus in Arte, registrar estes personagens que estão criando uma nova etapa da História de nossa Humanidade, ao mesmo tempo, que levar ao leitor a possibilidade dele entender o que nos cerca e permitir que ele também registre suas conquistas, seus desejos e suas verdades. FM - No editorial do segundo número se fala em “variedade, entretenimento e muita informação” como uma preocupação básica da revista. Que tratamento é dado ali ao conceito de “entretenimento” em um projeto editorial que centra seu foco na arte? AL - Muito bom! A arte quando é vivida em seu dia-dia, transparece em tudo que fazemos. Desta forma, o entretenimento, é focado como uma vertente do “fazer a arte”. Assim como um trabalho pode ser considerado um lazer, se este for um projeto de realização e sonho profissional. Matérias como a que encabeça o segundo número, “Swing – Uma explosão de Prazer” fazem parte da editoria de Comportamento. No entanto, podem divertir além de informar o leitor para que ele compreenda melhor o mundo atual. Cada ser humano é único, próprio e individual e percebe o mundo de maneira diferente e também individual. Aí está a arte. O que para uma pessoa é informação, para outra pode ser apenas uma leitura de entretenimento. Porém, dentro deste processo, colocamos à disposição do leitor um aprendizado lúdico onde a cultura é propagada e onde a arte passa a ser vista de maneira natural e instantânea. FM - Como te parecem que se relacionam hoje no Brasil as mídias impressa e virtual? AL - A mídia impressa ao meu ver, ainda tem a possibilidade de propagar matérias mais longas e prolixas enquanto as informações dos noticiários virtuais se restringem a “pílulas” de notícias. Nestas pílulas, o leitor direciona sua pesquisa numa rede própria de conhecimento e muitas vezes ele pode até chegar a informações mais profundas do que aquela encontrada pronta na mídia impressa. Porém, vivemos em ritmo alucinado de produção onde o capital é a vedete dos dias atuais. Neste processo, o leitor ansioso por dados enxutos, vê na mídia impressa a idéia pronta e completa enquanto as pílulas da Internet se tornam superficiais a primeira vista. Mesmo que superficiais estes dados virtuais podem atender as necessidades do leitor mais afoito por tempo e capital e, sem ocasião para continuar sua pesquisa ele pare nos primeiros informes encontrados no mundo virtual e dê como finalizada sua rede de sabedoria, embora o consumo de elementos encontrados não contribua tanto para seu capital intelectual. Há assim, dois lados da moeda. De um, a informação mais profunda, porém, aquele que necessita de maior pesquisa (Internet).De outro, a mídia Impressa, a ciência completa, entretanto, sem interatividade. Neste novo mundo que se desenha, as duas mídias, em minha opinião, tem a somar e subtrair para nossos leitores. Mais uma vez depende de cada ser humano – próprio, único e individual – escolher que rede (ou redes) de conhecimento deseja escolher para seu crescimento próprio. FM - Como vocês têm sentido o retorno do trabalho que estão realizando? AL - Ainda é muito cedo, estamos firmando nossa marca neste diversificado mercado. No entanto, já pudemos perceber, nestas primeiras edições, que o público está pronto para coisas novas, feitas com carinho, independência e preocupada com o aprendizado mais intelectual, menos consumista. Nossos leitores têm encontrado um espaço para expor sua visão do mundo, sua arte, seu jeito de viver, muitas vezes vetado por publicações que se preocupam apenas por aquilo que vende, mesmo que não seja interessante para a vida de quem lê. Desta forma, estamos recebendo e-mails, cartas e telefonemas de jovens, intelectuais, artistas e universitários que vêem nosso veículo como um instrumento vanguardista, uma arma para a formação de opinião culta, artística e engajada na política do mundo atual. FM - Quando fizemos, Adriano Espínola e eu, a revista Xilo (1999) - impressa e de circulação nacional em bancas (projeto lamentavelmente abortado em seu número inaugural por ingerência do grupo empresarial que nos contratou como editores) - também constatamos, de imediato, essa expectativa do leitor por um tratamento não mais viciado em relação a arte e cultura. Sigo defendendo, desde então, que há que romper essa barreira do lugar-comum que não é determinada em isolado pelo mercado, mas sobretudo é fruto de uma conivência da parte de quem faz cultura neste país. O que pensas a respeito? AL - Penso que nosso povo - musical, inteligente, curioso e essencialmente alegre - está sempre apto a conhecer tudo que é novo e a descobrir o que aqui se cria. É obrigação de todos aqueles que possuem algum veículo de comunicação, criar espaço para a difusão de nossa cultura tão farta. A liberdade de expressão seja ela através da música, da dança, das artes plásticas ou da literatura deve ser respeitada, pois falam diretamente do coração de quem cria, seu jeito de pensar, de agir e de compor a Humanidade para aquele que o consome - parte inerente do dia-a-dia, já que caracteriza aquele que registra em sua memória a criação e sua evolução. Infelizmente, hoje em dia a aquisição da arte e sua divulgação estão acopladas ao consumo exagerado do mundo capitalista impedindo um olhar para a arte pura e simples. O giro rápido de capital e a aceleração do ritmo cotidiano fazem com que muitos veículos de comunicação prefiram a divulgação do lucro certo e rápido ao invés de propagarem quem realmente está fazendo história em nossa Cultura e em nossa Arte. FM - Gostaria ainda de observar que acho uma grande lição a que transmites aos intelectuais deste país, que seja justamente um músico a preocupar-se de maneira tão substanciosa com a difusão e reflexão em torno de nossa cultura. Nossos escritores, por exemplo, caíram no ardil da especialização, de tal forma que hoje podem melhor ser entendidos como autistas do que como artistas. A Agulha te recebe, assim, com imenso carinho e respeito. A palavra final é tua. AL - Agradeço à Agulha, mas considero vocês, merecedores de tais elogios. A Agulha sempre foi um espaço aberto para artistas de diferentes vertentes e precursor no que tange a liberdade de criação e sua propagação. Como músico, quero resgatar a beleza da música pura sem ser nostálgico ou copiar estilos. Afinal, vivemos em um novo mundo delineado pela tecnologia avançada, pela Globalização e pelo exaltar da Publicidade. No entanto, continuamos seres que pensam, que sentem, que refletem e principalmente que criam... Resgatar a criação (não me refiro à criatividade, mas a criação como algo mais profundo) aliada ao desenvolvimento da atualidade e a liberdade de expressão são, para mim, um desafio extremamente prazeroso. Em minhas composições, pretendo resgatar a sensibilidade melódica, a estrutura complexa dos grandes mestres da Música Mundial, a Tecnologia de nosso tempo, a Alegria dos musicais, a naturalidade e a liberdade em encarar o mundo como ele se desenha para nós e a leitura de nossa história. Enfim, quero mostrar ao mundo que o ‘hoje’ pode ser mais culto sem ser chato, pode ser mais sensível sem ser “piegas”, pode ser complexo, fino e bonito sem ser caro. Desejo, através da Revista Fokus in Arte propagar que, assim como eu, muitos artistas, intelectuais e pessoas comuns anseiam por escrever nossa história e assinalar para o mundo quem somos - um povo preocupado com a preservação de nossa obra e com o ambiente em que vivemos. Um povo que deseja registrar o jeito com que enfrentamos nossas angústias (naturais do ser humano), a maneira como avançamos nossas tecnologias e o modo como buscamos a felicidade para que futuramente nossos netos possam ter orgulho de seus antepassados. Revista Fokus in Arte Diretor-Presidente/Fundador André Lamounier van Lammeren Editora Chefe e Jornalista Responsável: Carla Braga - Reg. MTB no. 18.348 Direção de Arte e Diagramação: Slavisa Rupar Lamounier Colunistas: André Lamounier - Sérgio Madureira - Silvio Alvarez - Dr. Vanor Cosme da Silva Assinaturas: As assinaturas poderão ser feitas pelo tel: (22) 2523-2252 Distribuição exclusiva para todo o território Nacional pela Fernando Chinaglia Distribuidora S/A. A Revista Fokus in Arte é uma publicação da Editora Fokus in Arte Ltda. CNPJ 05.271.786/0001-03 Rua Duque de Caxias no 46 - sala 07 Centro - Nova Friburgo RJ 28.613-060 BRASIL Telefax: (22) 2523-2252 15.000 exemplares de circulação trimestral . jornal de poesia triplov alô música . revistas em destaque .. storm magazine (portugal) diálogo entre helena vasconcelos & maria joão cantinho MJC - Quase dois anos após o aparecimento da Storm Magazine, um evento cultural bem significativo no universo virtual português, qual o balanço que fazes dessa aventura? Porque sentiste a necessidade de criar um “espaço” virtual, neste meio em que o virtual é tão desvalorizado, face à imprensa? HV - A Storm Magazine tem bases totalmente idealistas o que quer dizer que são, também, em parte, irrealistas. Mas esse detalhe não me preocupa. Os factos aí estão : uma publicação que se tem mantido sempre on-line, a excelência dos textos e das imagens – não posso permitirme ser modesta – os contactos, as amizades, as cumplicidades que se estabelecem. Pode haver colapsos nas estradas virtuais, chuvas ácidas de vírus perversos, muitas horas em frente ao monitor, nenhum provento material. Mas que diabo! Ter uma revista a funcionar na Net com muitos milhares de leitores dá muito gozo. Há vinte anos que escrevo para jornais e revistas. A minha formação tem-me permitido expressar ideias sobre a cultura em geral, a literatura e as artes plásticas em particular. Já escrevi também sobre problemas sociais, sobre moda, sobre viagens a lugares distantes, sobre sexo, sobre cidades, sobre a vida, em suma. Tenho tido sorte. Mas, ao longo destes anos, também percebi que há muita gente que não tem as mesmas oportunidades que eu. Viver num local como Lisboa, que é um centro de cultura, ajuda muito. Mas... e os outros? Os que estão longe, isolados, os que não têm “contactos”, não vão às festas do momento, não conhecem esta ou aquela figura que naturalmente lhes pode “abrir portas”? Na Storm, as portas estão abertas às pessoas, em todo o mundo, que queiram participar. Imaginei a Storm assim. Eu e os meus amigos, em Portugal, no Brasil e no resto do planeta – sim, temos leitores nos cinco continentes – podemos, neste espaço virtual, publicar textos, exprimir opiniões, trocar impressões uns com os outros. Orientamonos pelos nossos gostos e interesses. Faço questão de me guiar pela ausência de preconceitos e pela busca da qualidade e de uma espécie de “iluminação” que a cultura dá de mão beijada, naturalmente. Tudo isto só é possível em clima de paz e entendimento. Na Net não há fronteiras físicas nem barreiras discriminatórias. Não creio que haja maior liberdade do que esta. Quanto à questão contida na pergunta e relacionada com a “desvalorização do virtual pela imprensa”, suponho que essa desvalorização não existe. Qualquer publicação em suporte tradicional que se preze tem, também, o seu contraponto virtual. O que quer dizer que sentem a necessidade de se “virtualizarem”. Tenho uma relação sentimental, romântica, apaixonada, com os livros, com as revistas, com os jornais. Ler em suporte papel continua a ser um prazer absoluto. Mas também acho que se publica em demasia e que, por contraste, a reflexão e a crítica são escassas e muito limitadas. Por isso, a Storm publica um pouco de tudo. Parece-me bem, não achas? MJC - A imagem da Storm, neste momento em que tu confessas um dos objectivos fundamentais, é a procura de uma cultura virada para a comunicação e para essa “iluminação” que, naturalmente, só pode nascer de uma visão despreconceituosa da realidade. Onde a cultura nasce da confluência e do confronto crítico. É essa a visão que tens da cultura? E parece-te ser essa o exemplo da cultura portuguesa? Repara que me refiro, não apenas à arte, mas também à literatura... HV - Acho que não sei bem o que é a Cultura num sentido lato, ainda continuo à procura; é uma busca incessante, como no amor, como na amizade. Só sei que é um projecto de vida. É o que nos faz sermos únicos porque dá ímpeto e vigor ao pensamento, despoleta emoções. Acho que cultura não é sabermos tudo, é procurarmos compreender. Isto pode parecer pretencioso mas não sei explicar melhor. A Cultura, como a que tento veicular através da Storm, não é uma coisa abstracta, é algo que todos construímos, (ou destruímos) a cada momento. Quanto ao que chamas cultura portuguesa só sei que o nosso país está cheio de pessoas extraordinárias em todas as áreas das artes, da literatura, do pensamento, da ciência. Temos a vantagem de sermos um país muito antigo, muito cosmopolita, simultaneamente europeu e virado para a imensidão do oceano. Só quem não quer é que não tira partido desses factores. Felizmente vejo cada vez mais intelectuais, escritores, artistas, cientistas a pensarem pela sua própria cabeça e a agirem com mais eficácia, contrariando a tendência para o queixume – que não é apanágio exclusivo do meio cultural português. Curiosamente, é nas grandes cidades, onde existem mais meios, que se concentra um maior número de “vencidos da cultura”. Tenho muito pouca simpatia por quem proclama que “tudo é muito difícil”, que este é um “país de incultos” mas não levanta um dedo para mudar o estado das coisas. MJC – A tua experiência e convívio com artistas plásticos deu-te uma visão, não apenas da literatura, como da cultura em geral, diferente? O facto de não teres sido criada em Portugal deu-te uma outra perspectiva e uma consciencialização da cultura como diversidade? Gostava que me falasses dessa experiência, da tua infãncia e adolescência e no modo como isso influiu na tua formação. Como é que era chegar a Portugal nos teus 18, 20 anos? HV - Tive a sorte de ter crescido sujeita às boas radiações, por um lado da Literatura – o meu pai deixava-me (e até me incentivava a) ler tudo – e , por outro, do efeito directo de culturas muito diversificadas. Li muito nova Homero, Platão, Montaigne, sem perceber nada. Mas alguma coisa ficou. Devorei Conrad, Melville, Dickens, Faulkner, Kafka, Mann e , naturalmente, Dostoievsky, Tolstoy. Nunca tive grande inclinação para literatura infantil e juvenil, embora tivesse passado por um ou dois anos – quando começei a interessar-me pelas incríveis mudanças que estavam a acontecer no meu corpo – em que li coisas mais “leves” (Colette, as irmãs Brontë, Somerset Maugham) porque não me concentrava nada e só pensava em namoros e coisas assim. Mas, para além dos livros e de gostar de desporto (fazia natação de competição) e de andar à pancada com rapazes vivi em lugares (na Índia e em África) onde as pessoas me comunicaram uma cultura oral e visual fortíssima. Por isso, houve sempre o lado “estudioso” ligado aos livros e um lado dos “sentidos”, ligado ao mundo e às pessoas que me rodeavam. Para mim, Portugal não existia, era o lugar onde viviam umas pessoas muito antigas, os meus avós. Vinha a Portugal regularmente, nas férias grandes para ir à praia – horrível, fria, enevoada – e passar uns dias no campo, por altura das vindimas. Quando fui obrigada a vir para ficar – para a universidade – passei um tempo sinistro. Experimentei pela primeira vez o inverno, o olhar fechado das pessoas, o cinzento chumbo do ambiente. E é preciso não esquecer que eu entrei para a Faculdade ainda com 16 anos. E vim sózinha, de África. Parecia-me que, aqui, não havia nada que me interessasse. É claro que me meti em todas as revoluções que me passaram diante do nariz: a estudantil (muito animada), a sexual (muito excitante), a política (muito empolgante); a social (muito frustrante), a cultural (muito diversificada). Não perdia sessões de cine-clubes, o cinema era o grande veículo de conhecimento e de conscencialização, antes de 1974. Portugal era um país absolutamente chato com meia dúzia de pessoas geniais. Eu fui à procura delas e deixei-me ficar, a observar. Quanto ao meu contacto com as artes plásticas foi posterior quando conheci o Julião (exactamente em 1974) e fui viver com ele. Mas, entretanto, já tinha corrido a Europa à boleia, só para ver Museus. MJC – Não metas já o Julião, porque quero pegar nessas vivências e explorarmos/avaliarmos o peso da revolução. Conta-me como influiu toda essa loucura, essas revoluções várias, ao nível da tua formação. Sentes que elas te marcaram definitivamente? Como? Que cicatrizes deixou essa época na tua geração? HV - Sex, drugs and rock n’ roll. Foi tudo muito e MUITO bom. Agora, que já se passaram uns anos, vejo tudo isso como um tempo muito breve, muito “explosivo” cujos estilhaços ainda conservo no meu corpo como pedaços de cristal ou luzes fosforecentes. Mas não me parece que tenha sido “loucura”. Louca da vida fico eu, agora, quando vejo muita gente a andar de um lado para o outro sem paixões, sem experiências, sem desejos intensos. Fico sempre espantada quando deparo com pessoas inteligentes a “guardarem-se”, a retrairem-se para não correrem o perigo de estarem vivas. Não vá o Diabo tecêlas... Fico abismada quando percebo que essas mesmas pessoas boas e inteligentes acham que podem evitar o sofrimento e atravessar este mundo sem um arranhão, agarradas aos seus carros, às suas casas, aos seus “bens”. É claro que tudo isso é muito bom, eu também gosto e defendo acerrimamente o direito à felicidade. Mas creio que não me estou a contradizer.É interessante passar por revoluções, correr perigos, sofrer, ser-se deixada por amantes, ver ideais desfeitos, ser-se traída e poder sobreviver para o contar. Ah! E fazer revistas de cultura na internet onde, curiosamente, encontro pessoas e não avatares de catálogo de jogos de computador. MJC - Achas que essas vivências deram mais responsabilidade aos intelectuais e artistas da época? HV - Não sei. Terás de perguntar aos intelectuais e aos artistas. Não sou nem uma coisa, nem outra. MJC - Depois começou a tua relação com o meio artístico. Qual foi a tua formação nesse campo e como foi a tua experiência de crítica de arte? HV - A minha relação com o meio artístico, como dizes não teve um começo. Sempre tive esse fascínio por aquilo que sai das mãos das pessoas como se viesse directamente de um lugar qualquer, misterioso e fantástico. Em criança, o meu pai mostrava-me as imagens dos grandes artistas em livros sumptuosos e à noite, quando fugia do meu quarto para me juntar a quem vivia nos anexos – os “criados” – observava o que eles faziam num pedaço de madeira com um canivete ou os “brinquedos” que construíam e me ofereciam a partir de um cordel, de um trapo, de um fio eléctrico – pássaros, bicicletas, pessoas, barcos, formas abstractas - e sentia a mesma emoção. Eu nunca soube fazer nada assim. Mais tarde, na faculdade, a Literatura não era suficiente. Quando passei a ver obras de arte “ao vivo” e não em reproduções, tive um choque. Tive ataques de choro e riso, tremuras incontroláveis e paralisias que duravam eternidades perante coisas que vi. Ainda hoje sou assim: não consigo controlar esta reacção absolutamente romântica e nada “fashionable”. E li sobre o Pater, o Ruskin, o Berenson – é claro que não tinha as obras deles, as propriamente ditas – mas arranjei o Gombrich que me ensinou muito, embora a sua “História de Arte” tivesse parado muito atrás, no tempo. (Curiosamente, estou agora a ler o livro dele sobre “Primitive Art”, que é bastante interessante).E, é claro, havia o Herbert Read e o seu “The Meaning of Art” que me parecia tão “moderno”! E depois, encontrei o Julião e tudo deu uma reviravolta estonteante... MJC - Paixão e conhecimento, tudo em simultâneo? Foram anos intensos, esses que viveste? Talvez seja bom lembrar a “revolução artística” que irrompeu nesses anos em Portugal, ainda fresquinho da revolução? HV - Sabes, acho que as revoluções são “feitas” por pessoas com motivos muito práticos – ter o que comer, receber melhores salários, fazer pagar caro aos que usaram o poder de forma abusiva – e são “seguidas” por pessoas cujo motivo principal é o sexo. Não há nada mais sexy do que uma revolução. Imagina o que é isso acontecer quando se tem vinte anos, como era o meu caso e o do Julião! Imagina o que é duas pessoas encontraremse num momento daqueles em que tudo palpitava e estava vivo e descobrirem que tinham os mesmos interesses, as mesmas paixões! É claro que, como nós havia muitas outras pessoas, mais velhas – mais receosas ou mais novas – “mais inconscientes”. É natural que, logo após o Abril de 1974 se tenham criado imediatamente movimentos e correntes, umas mais conservadoras, outras totalmente vanguardistas. Quanto a nós, não estávamos preocupados com etiquetas, como deves calcular. Conto isto muita vezes mas não me posso esquecer: conheci o Julião porque o meu namorado da altura me disse que mo ía apresentar – eram (são) muito amigos – acrescentando que eu de certeza ía ficar melhor com o Julião “porque eu era maluca demais para ele” ( o meu namorado que deixou rapidamente de o ser). É evidente que este termo “maluca” era um elogio e até hoje o sinto como tal. E ser-se doida era fazer o que eu e o Julião fazíamos: amar intensamente. Sabes, ele é que me ensinou a olhar a arte. Eu estava cheia de Literatura até aos ossos. O Julião agarrava em mim e levava-me para a zona do porto e ficávamos horas a olhar para os guindastes e principalmente para aqueles contentores enormes a brilharem como prata com aquele canelado regular, macio, despojado e imponente. E ele dizia-me. “isto é tão bom como um Donald Judd, um Walter de Maria, um Richard Serra!” E eu ficava com cara de parva: “Espera aí, e os Tiepolo, os MichelAngelo, os Rembrant, os Goya, os Grecco, os Breughel?”.E ele ria-se e dizia, “Pois, isso já está tudo feito. E agora?” Por isso, convíviamos todos em alegre fricção, os que guardavam a reverência ao passado e os que sabiam que ele, o passado, existia mas... já estavam noutra. Procurávamos o que mais nos interessava, o que nos arrebatava, onde quer que estivesse. Viajávamos, líamos, íamos a exposições, passávamos noites inteiras a discutir com os amigos. Não havia barreiras, íamos ao encontro de quem quisessemos. Ainda conheci o Almada (Negreiros) um velhinho mirrado e havia o “guru” que era o Ernesto de Sousa, um verdadeiro revolucionário, uma figura romântica que nos falava de “body –art”, “land-art” , “mailart”. Mas devo dizer que o Julião e o Fernando (Calhau) eram uma espécie de discípulos que nenhum mestre quer. Aprendiam demasiado depressa, sempre muito à frente dos acontecimentos. Já estavam, cada um à sua maneira, a anos-luz de tudo o resto. Acho que não tinhamos medo de nada. MJC – Parece-me que essa última frase te revela...Tu permaneceste uma aventureira. Porque não seguiste uma cómoda, embora laboriosa, vida académica, já que te interessava tanto a arte e a literatura? HV - A via académica nunca me seduziu, embora essa seja uma opção para muitas pessoas cujo trabalho valorizo grandemente. Para mim não dava, nunca deu. Talvez seja uma falha, no meu carácter, esta maneira de ter de estar absorvida, “arrebatada” por tudo aquilo que me proponho fazer. De contrário, mal entro na rotina – uma imagem que eu sempre associei à vida académica – sinto-me a morrer. Não estou para aqui a dizer que sou capaz de levar uma existência sempre ultra excitante mas pelo menos, evito a passividade e o conformismo. Sempre que posso. É a minha disciplina. Talvez seja interessante recordar que com o 25 de Abril de 74, deu-se em Portugal um fenómeno semelhante, talvez, ao que está a acontecer agora no Brasil. Isto é, artistas e intelectuais que eram vistos como “outcasts” pelo regime anterior, foram chamados para ocupar cargos públicos e para intervir política e socialmente. Creio que essa é que foi a verdadeira revolução. Subitamente, tinhamos os Gilberto Gil de Portugal com poder para mudar o estado de coisas. E foi o que fizeram, uns melhor e outros pior. Mas creio que o balanço possível, hoje em dia, é muitíssimo positivo. É um pormenor muito esquecido ou até mesmo ignorado. O Julião, por exemplo, foi para a Secretaria de Estado da Cultura e durante o pouco tempo que lá esteve – largou o cargo, alguns anos mais tarde, para se dedicar só à arte – organizou eventos extraordinários e trouxe a Portugal gente que nem sabia onde o nosso país ficava, no mapa. Ele tinha os conhecimentos e o instinto natural para saber quem era quem e o que era preciso fazer para dar um murro certeiro na estagnação em que viveramos. Acompanhei todo esse processo e participei activa e directamente – com muitas outras pessoas, evidentemente – em acontecimentos que marcaram a história artística de Portugal, como, por exemplo, a Alternativa Zero do Ernesto de Sousa, as Bienais de Desenho e, mais tarde o Depois do Modernismo, com o Luis Serpa. MJC – E houve também essa abertura fantástica para a introdução da arte pós-moderna, que essa geração protagonizou, talvez entre todas a mais eufórica aventura. Achas que a mentalidade dessa época mudou realmente, relativamente à arte e à cultura? Lembro-me da euforia que causaram um Lyotard, um Gianni Vattimo, trazidos a Portugal e que enchiam as salas dos auditórios... HV - Creio não ser capaz de estar à altura para dar uma visão tão panorâmica como desejas. Só gostava de lembrar que a segunda metade dos anos setenta passouse em tempo de “arte conceptual” que deve ter sido o tempo mais romântico da história da arte. Tudo porque o que contava era a ideia, a emoção criada. As “peças” eram todas efémeras, destrutíveis, lixo. As referências eram evidentemente o Joseph Beuys – com a sua história de piloto de guerra abatido e salvo da morte por ter sido recolhido e envolto em gordura e peles), Duchamp, como santo patrono. (O “Urinol” – é uma peça tão poética e sensual!) Mas imagina que havia um qualquer cataclismo e se perdiam os museus, os livros de História de Arte, as referências “intelectuais”. O urinol, os trenós do Beuys acabariam, provavelmentem numa lixeira. Este conceito de morte imediata da obra de arte será talvez a derradeira tentativa de contrariar a ideia que o artista tem da permanência , da imortalidade. Claro que houve peças de arte conceptual que ainda permanecem e permanecerão. E o mais curioso é que nos ferozes economicistas anos oitenta, estes artistas são absorvidos pelo sistema – a “arte povera” passa a ser arte rica – e acaba-se a inocência. E, é claro, houve o famoso “regresso à pintura”. Ao fim e ao cabo os museus e os coleccionadores estavam a ficar fartos de ter objectos que estavam a perder o brilho, a atravancarem as salas... MJC - Mais tarde houve a tua entrada no meio literário, com o livro de contos Não há horas para nada. Como foi essa primeira experiência, a tua recepção? HV - Não foi uma “entrada no meio literário” nem nunca pensei nisso. Sempre escrevi, o livro foi um acidente de percurso e não teve sucesso algum. Certamente não me forneceu qualquer passaporte para a “cena literária” que não estava interessada em mim. E eu nem sabia bem o que era essa “irmandade” restrita. Eu costumo dizer que falhei completamente com o meu livro: os contos eram suposto ser, por um lado, uma crítica divertida a certos tiques da sociedade de então e, ao mesmo tempo, uma tentativa séria de eu “treinar” uma determinada forma narrativa. Pois bem: os críticos riram-se do meu esforço e não acharam graça nenhuma ao que eu achava cómico. Não sei bem porquê!!! É verdade que eu passava a vida a viajar – trabalhava nos aviões – e, quando não estava a trabalhar, estava na mesma a apanhar aviões para ir a festas, a jantares, a inaugurações nos quatro cantos do mundo. Em minha casa também havia sempre gente, passavam-se semanas, meses, em que havia pelo menos uma dúzia de pessoas para jantar. Era muito divertido, muito louco, muito estimulante, muito cansativo. Eu escrevia nos intervalos, a correr, em pedaços de papel dos museus e dos hotéis. Só me lembrava do Raymond Carver – passe a comparação – que nunca escreveu um romance porque nunca teve tempo, tinha de escrever nos intervalos do trabalho. Coitado, morreu quando ficou famoso. Eu nunca fiquei famosa e ainda cá estou... por enquanto. Nessa altura não conhecia escritores e os que conhecia não me interessavam, à parte o (António) Lobo Antunes. O problema não era dos escritores, era meu. Fui criada e educada no universo da literatura anglo-saxónica. A literatura portuguesa, muito influenciada pela francesa, não conseguia prender a minha atenção. Achava tudo muito centrado no umbigo de cada um, muito discursivo, muito misógino, muito preconceituoso, muito circunscrito, muito fechado, muito bairrista. Claro que, no que diz respeito aos franceses, havia a Duras – que eu devorava – e, noutra área, o Roland Barthes, o Philippe Sollers, o Michel Foucault, cuja “Histoire de la folie à l’âge classique” me interessou muitíssimo. Mas eram leituras complementares, importantes, sim, mas não definitivas. . revistas em destaque .. punto seguido (colombia): depoimento de oscar jairo gonzález Punto Seguido se inicia en 1979, cuando concurren en una misma obsesión y en un mismo sentido, en la ciudad de Medellín -que llamamos Med-yin- los poetas John Sosa, Luis Fernando Cuartas y Jesús Rubén Pasos. Toda su visión se relaciona -cantidad relacionable, como la llama Lezama Lima- y se hace desde una mezcla de las lecturas que ellos hacen de Rimbaud, Lautreámont, Baudelaire, Vallejo, Huidobro, Genet, Gaitán Durán, Trakl, Celan; con lo que ellos conciben y realizan como una forma de hacer la revolución, de crear y causar en el mundo las formas nuevas y los nuevos ideales, por la vía entonces del sueño, lo inconsciente, lo real, lo ideal, la rebeldía y la irreverencia. Es pues, todo esto una mezcla escandalosa y crítica sobre el mundo, sobre nuestra realidad y sobre lo que se hace en la ciudad. Intentos y tentativas de dar a “conocer” lo que se estaba haciendo aquí, sin mediaciones de nada y sin apoyo de nadie, que hoy todavía se mantiene intacto para con ello mantener siempre una postura crítica y sin adhesiones inconedicionales a nada. El principio y el hilo conductor entonces es el de la libertad, de lo que Stefan Baciu, llamaba lúcidamente: “Palabras en libertad”. Entonces desde allí, la revista ha sido y será, sin duda, un medio de catharsis, de exploración y de aventura contra todo lo establecido y contra la impostura y la imposición de estilos y estéticas literarias academicisitas, retóricas, realistas y anacrónicas. Formas nuevas para mundos nuevos, por lo cual se práctica de manera totalitaria, si así podemos hablar, aquel principio baudelairiano: “Id al fondo de lo desconocido, para hallar lo nuevo”. En ese sentido y en esa perspectiva una de las inquietudes principales que se intentan resolver aquí, es también la manera de hallar y halonar hilos conductores de nuestra tradición americana, de instalarnos en una “historia de la sensibilidad”, para decirlo con Raymond Klibansky, y esta no podría hacerse sino no sabemos lo que hacemos. Entonces ella misma ha creado esos hilos de comunicación, que son más que nada de nuestra comunidad americana. Y por eso mismo entonces, no solamente da a conocer lo que se hace aquí en la ciudad, sino también lo que se hace en nuestra América y en el mundo, mucho antes de que se hablara de la Globalización y de otras mentiras, como la de “ciudadanos del mundo”, o cosas así. De allí pues, que aquí se han hecho visibles poetas y escritores de todo el mundo, se ha dado cabida a movimientos insólitos, se ha escuchado la otra voz, la de los outsider, de los “anónimos”, de los nuevos, de los que no pueden ser escuchados. O sea, que se propuso en su principio ser Internacional, cosa que hasta el momento se ha realizado y se ha concretado maravillosamente. Desde Suecia hasta Canadá, de Rumania hasta Francia, de Estados Unidos -el nuestro- hasta Chile, de México hasta Panamá, se ha construido una “red” de relaciones que le han dado una forma y una estructura muy concreta a la revista. Lo que se ha hecho también desde la contradicción y como contradictores, y lo que se ha hecho con poetas de todo el mundo y con movimientos poéticos que han alcanzado también la proyección del sol de su trayecto, de su, para decirlo con Paul Eluard: “andadura poética”. Movimientos y poetas libertarios y libertinos: Pizarnik, Orozco, Eunice Odio, Breton, Enrique Molina, Pelleqrini, Ceselli, Reznicek, Aquirre, Gilbert Lecomte, René Daumal, César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, Díaz Casanueva, Goméz-Correa, Cáceres, Braulio Arenas y así. Entonces, es demostrativo que ese trayecto se ha hecho en la tensión del temblor que proporciona y provoca el encuentro con lo desconocido, en nuestro bosque de símbolos. Lo simbólico y lo real se han hallado siempre en tensión, esa es nuestra temperatura y nuestro temperamento. Y no solamente se han incluido poetas, sino también músicos -Caqe, Hendrix, Morrison, Joplin, Satie- y lo mismo el teatro, y en el mismo orden de lo sensible y lo místico, lo hermético y lo surreal y nuestro sentido de la justicia y de la protesta contra la mediocridad y las masacres, porque la condenación, la censura y la muerte se hallan aquí, se hablan en ella. También habla de la desaparición, el exilio, el extermino y la exclusión, porque siempre ha sido este también un hilo que nos tensiona y nos reclama. O sea, hay en ella invocación y reclamo, la invocación a los dioses de nuestra tradición y a nuestros dioses -La Diosa Blanca, Robert Graves- y el reclamo a los hombres. Hay que reclamar y protestar ante los hombres e invocar a los dioses. De esa manera podemos decir, que la revista desde su principio y en sus principios ha mantenido contra cualquier intromisión, condicionamiento y coherción sea la que sea, proviniere de donde provienere, una total libertad para hacerse con lo que ha querido y con los ha querido, o sea, aquellos que hablan del sentido de su búsqueda y de su experiencia, por eso es muy ecléctica y muy heterodoxa. Ni expresionismo, ni surrealismo, ni dadaísmo, ni nadaísmo, ni estridentismo, sino que por medio de ella se exploran y se explotan, hacen para decirlo de otra manera, explosión e implosión estéticas muy diversas y muy diferentes, que como por azar y causalidad van encontrando su similitud, su semejanza en el poder incantatorio de la imaqen, de la imaqinación. El poder, es el poder de la imaqinación y la experiencia real es la experiencia de la videncia, de lo visionario, como lo llama Rosamel del Valle. Todo es pues, un comienzo, todo se halla siempre en el comienzo. Lo que continúo. Tras esta momento inicial, de mezcla del ideal-real poético y del idealreal de la rebeldía, que se lee en los números iniciales de la revista, comienzan a participar a intervenir: Raúl Henao, Carlos Bedoya, Oscar González y Wilson Franck. Y nos reunímos desde 1986, todos los Lunes a las 7 de la noche, en el bar de Don Lao, a hablar de los proyectos y de la forma que llevará un próximo número. Es en ese bar donde la soñamos, la construimos y la hacemos. Queremos decir, la revista siempre se esta haciendo en cada uno de nosotros, ella se forma en cada uno y eso es lo que te hace hablar y decir hacia donde queremos ir y con quienes queremos hacerlo. Ello provoca y suscita controversia, contradicciones y hasta imposiciones, pero se obedece cuando se ha alcanzando el consenso, si podemos llamarlo así. Yo diría más bien: cuando la contradicción se hace más tensamente irresoluble e irrenconciliable. Mientras esto ocurría yo estaba haciendo una revista que llamé “cantidad hechizada”, de la cual entre 1986 y 1989 hice solamente tres números, dadas las condiciones económicas y los problemas que en ese orden se dieron, lo cual obstaculizaron el poder continuar haciéndola y construyéndola. Quería hacer una revista más universal, con más elementos heterodoxos y eso fue importante, al menos así lo dicen aquí, a los pocos que escucho. Ahí me le medí a una cosa totalmente rara y extraña, una combinación, un intento de ars combinandi -Raimundo Lulioentre lo Uno y lo Otro, Oriente y Occidente. Y lo mismo lo que el medio académico de la ciudad daba y hacía, no porque yo lo fuera y que nunca lo he sido, no obstante lo esté en este momento de la vida -¿y de la muerte?-; entonces hubo, para mayor herejía, profesores de filosofía que no lo eran a la manera clásica y formal-, y eso hizo mayor concrección del intento de abordarlos en otra dimensión y en otras posturas, en los intersticios como los llamaba Ernst Bloch. Era buscar en ellos tesis que nos interesaban sobre Beckett, Artaud, Kafka, Dostoiveski, Kleist, etc. Después te hablaré un poco más de eso, porque lo que nos interesa es Punto Seguido. De la misma manera, ya se publicaba Prometeo, más hacia la tendencia de izquierda, pero que son promovidos a través de un libro que hizo y determino en su totalidad el poeta Juan Manuel Roca y se título: Disidencia del Limbo. Todos estos poetas, excluyendo a Eduardo Pelaéz, Carlos Bedoya continuaron en lo que hoy es Prometeo. Ya también con las disidencias de Caro y otros, que proyectaron de otra manera: Tras la sombra y no tras la boca del hambre y la necesidad, como lo han hecho otros, de los que después hablaremos, que han equivocado -¿o no? la vía que habían iniciado y de la que hablaban con incandescente intolerancia y con quemante verdad. La necesidad económica y el deseo del nombre o del éxito les han hecho cambiar de decisión y de destino. Uno no tiene sino que hacer su destino, que en esencia, lo que Heinrich von Kleist, fundía hermosamente con el carácter. Destino y carácter. Eso es otro tema, porque yo no “historiador” de nada y menos de la azarosa vida y muerte de mis contemporáneos. “Los contemporáneos” son mexicanos. Desde allí se constituyó pues, como un nuevo momento de la revista, en donde la visión se extendió y se dimensiono, ya no era tanto la rebeldía, la cantidad de irreverencia que se necesitaba y se requería, sino más bien una tensión medida y contenida de lo que se quería hacer. Entonces se llevo a cabo, con muchas contradicciones y muchas disidencias momentáneas, la realización de otros números, lo cual ocurre hacia mediados de 1998. Allí se involucran entonces con mayor visión pintores y fotográfos -Serqio González, Yamile Bedoya, Tony Pusey, Jorqe Camacho, Paul Delvaux y Juan Fernando Ospina, por no mencionarlos sino a ellos, que se van a relacionar con los “collages” que para entonces solo hacia y maravillosamente Luis Fernando Cuartas. Todo esto cambió y se llevó entonces el hilo sin Ariadna, hacia otro momentum que fortaleció lo que se llevaba hasta allí. -En este momento me acaba de llamar Luis Fernando y le he dicho que te hable un poco también él sobre esto. Es el azar objetivo, son las 9 y20 de la mañana: unas pocas tórtolas, una piscina, unos árboles, un poco de frío constituyen mi porción de paisaje: el sucederse o la vida. Recuerda el ensayo que hiciste sobre Enrique Molina, en ese devenir de este otro momentum, o instante de revelación. Eso es lo que ha movido la revista hasta aquí. Lo tenemos hoy, ya con otro momentum que es el de la intervención de Gabriel Jaime Caro y Eduardo Pelaéz, que se involucraron hacia 1976 en una experiencia también maravillosa que se llamo Siglótica, y que Caro continúo en Nueva York, cuando se instalo allí y que se llamo Realidad aparte, donde tú has participado. Ese nuevo momentum, ha comenzado ahora con el número 42, que próximamente tendrás. Observa como se dan las cosas, los que una vez no estuvieron y no pudieron estar en la comunidad y los que después de hacer sus propios viajes, viajeros de su sombra para decirlo al hilo de Nietzsche, de nuevo retornan al principio, lo cual indica que nunca abandonaron y huyeron de la verdad y de la esencia de su experiencia poética. La poesía es lo que es esencial y lo que importa, lo demás, son, sin duda los poetas. Punto Seguido, ha sido pues una experiencia y una búsqueda entre la realidad y la irrealidad, el sueño y la visión, la revolución y la rebeldía, contra el arribismo y la mediocridad, contra toda adhesión y adherencia, contra el formalismo y la vacuidad de la retórica. Esa ha sido su prueba y su condena, pero de la misma manera su liberación y su libertad.No ha cedido nunca a la extorsión ni a la mediocridad de nuestro medio. Punto Seguido Diretores: John Sosa D., Luis Fernando Cuartas, Carlos Bedoya, Óscar González Apartado Aereo 11059 - Medellín - Colombia 1.000 exemplares, formato carta, 32 páginas, periodicidade bimestral . jornal de poesia triplov alô música . revistas em destaque .. babel (brasil) diálogo entre editores: ademir demarchi & claudio willer CW - Conte algo sobre suas origens e procedência, inclusive sobre sua vida itinerante, de múltiplas residências e procedências. Apresente-se. Já havia feito periodismo literário antes de Babel? AD - Nasci em Maringá, no norte do Paraná, cidade relativamente nova pois tem apenas 56 anos de fundação – quase nasci com ela pois estou com 43 anos. Maringá foi criada de forma planejada a partir de loteamento feito por ingleses e julgo ser sua característica principal a belíssima arborização que chega a fazer túneis verdes em várias ruas ou nas amplas avenidas tomadas por ipês roxos e amarelos e sibipirunas, entre outras espécies. E há também uma catedral de 125 metros de altura, cônica, inspirada no Sputnik pelo bispo que a construiu, um símbolo fálico do poderio econômico daquela região de muita gente rude, inculta e gananciosa que, por isso, muito odiei. Vivi lá 25 anos, até me formar em letras/francês na universidade estadual local, que era paga – eu trabalhava durante o dia e estudava à noite indo de bicicleta dum lado pro outro. Foi um tempo muito interessante de formação sentimental, política e cultural. Iniciei na militância cultural fazendo cineclubismo, levando à frente um movimento iniciado por ex-militantes da esquerda, do PCBR, que caíram, alguns torturados e que encontravam nisso uma forma de resistência mantendo o silêncio quanto à política. Mas não durou muito isso pois naquele momento a militânica política era mais atraente. Sendo assim logo entrei para uma célula de uma organização trotskista, a OSI - Organização Socialista Internacionalista, mais conhecida por sua tendência estudantil, a Libelu, iniciada em Maringá pelo esforço do Luis Gushiken, atual ministro de Lula, que tinha lá um trabalho a ser feito por causa de um incipiente movimento sindical bancário de oposição. Fundamos o PT lá ao mesmo tempo em que começava a ser discutido no ABC e o legalizamos andando de porta em porta nos fins de semana, almoçando pão com mortadela e tubaína para fazer as filiações que o governo dos militares exigia como dificuldade para a criação do que então se acreditava ser um partido operário. Cheguei a ser candidato a deputado estadual nas eleições de 1982, cumprindo outra exigência para sua implantação. A candidatura era formal pois o que nos interessava era garantir o registro partidário e ganhar os diretórios estudantis da universidade, com aquelas chapas hoje impensáveis, como Solidariedade ou Outras Palavras – para marcar diferença com os estalinistas dos dois PCs. Esse movimento redundou em invasões de restaurante e reitoria e em queima de carnês, que levaram a uma conquista importante no Paraná: hoje as universidades estaduais são gratuitas e há uma alternância no poder – aqueles que se formaram nessa experiência hoje governam a cidade pela primeira vez pelo PT. Mas em 1985 me cansei da militância política e considerei esgotada por toda a vida a quota de tempo gasto em reuniões e fui-me embora da cidade. Morei um ano em Curitiba com a poupança que fizera em Maringá trabalhando seis anos em um escritório de contabilidade, onde era responsável pelo setor de pessoal de umas cem microempresas, e em outro de engenharia. Em Curitiba fiquei vagabundeando e vendo 3 filmes por dia nos espaços da Fundação Cutural e da Cinemateca. Cheguei a publicar com uma turma de alunos da Filosofia da Universidade Federal um jornalzinho escrachado, o Bundão, em que ironizávamos a mediocridade cultural de Curitiba e aquele cenário fake nacional em que se chorava a morte do Tancredo Neves. Fiquei nessa vida até arrumar emprego em Florianópolis, onde fui dirigir o setor de revisão do já finado O Estado, por 2 anos e meio, levemente interrompido para fazer uma viagem à Líbia, ainda por conta da ex-militância política – foi um passeio interessante ver os restos de fuselagem das bombas que Reagan jogou sobre a casa de Kadafi, sobre sua cama redonda que nos lembrava as de motel, o ódio que os muçulmanos já cultivavam aos norte-americanos desde criancinha, tal como vimos nas escolas com estudantes que mal sabiam escrever gritando palavras de ordem de ódio a Reagan; lá, olhando para o Mediterrâneo com um espanto admirado, de onde vinha um vento que sibilava pelas frestas do Hotel Bab El Bahar, passei o natal e o ano novo mais esquisito da minha vida. Em Floripa ainda fiz mestrado em literatura brasileira na UFSC estudando periódicos literários e depois vim morar em Santos-SP, seguindo minha mulher que veio trabalhar na prefeitura local. Tivemos um filho e concorri num concurso público a uma única e disputada vaga para a função de Redator na Câmara Municipal de São Vicente e passei, sendo desse trabalho que ganho a vida há mais de uma década. Durante esse tempo fiz doutorado em literatura brasileira na USP e experimentei dar aulas para ver se me afinava com essa atividade. Logo desisti diante da inviabilidade de ter dois desgastantes empregos e um projeto como o da Babel se iniciando e exigindo cada vez mais tempo. CW - Como é que surgiu a idéia de fazer Babel? Você já tinha essa intenção, de fazer uma revista, faz tempo, ou foi algo que aconteceu assim de repente num estalo em um ímpeto de inspiração? AD - A militância cultural de certa forma sempre esteve presente em minha vida, do cineclubismo à publicação de folhetos de poesia ou jornais estudantis, mas nada tão expressivo, foi acúmulo de experiência apenas. Na pósgraduação mantive esse interesse analisando vários periódicos ou suplementos como Letras & Artes (1947-53), Autores e Livros (1937-53), Pensamento da América (1937-53) (estes três do jornal A Manhã, do Rio); a Revista Americana (circa 1900 a 1925), e li várias das revistas dos modernistas, assim como me formei intelectualmente lendo O Pasquim, Versus, Opinião, Movimento, Revista da Civilização Brasileira e outros. Mas a Babel surgiu num dado momento em que, com a possibilidade da troca de e-mails, algumas amizades que estavam dispersas puderam se intensificar com uma troca mais viva e constante gerando discussões e a necessidade de um veículo que permitisse participar do debate de idéias e fundamentalmente estimulasse a reflexão e a escrita quebrando a sensação de isolamento e de falta de acesso aos veículos existentes. CW - Foi você, ou foram você e seus parceiros, Marco Aurélio, Mauro, Susana? Desde o início, o projeto teve caráter coletivo? Qual o papel ou função de cada um? AD - Sempre me correspondi com o Cremasco e o Mauro, em virtude da amizade que fizemos – o Cremasco foi colega na universidade e em folhetos de poesia que fazíamos, assim como o Mauro, que morava e estudava em Floripa, mas que só vim a conhecer depois que fui morar em Curitiba - ele fazia cinema, muito inspirado em Glauber Rocha, e escrevia em jornais e também em revistas que ele mesmo publicava, com uma postura constestadora que muito me agradava – chegamos, eu e Mauro, a discutir a publicação de uma revista, que teve um número apenas; passaram-se uns anos em que que todos ficamos equidistantes até que, com a possibilidade do e-mail, basicamente houve um reinício de conversa entre eu e cada um deles e logo isso se tornou um grupo e formou-se uma cozinha de discussão entre nós três, daí a idéia, incentivada por eles, de editarmos uma revista. Relutei mais de um ano porque não acreditava muito que isso fosse dar certo devido à absoluta heterogeneidade de idéias entre nós. A idéia por fim se impôs sobre as diferenças e decidimos que a revista devia ser aberta e não se caracterizar como sendo de um grupinho, como em geral é o que acontece, devendo se diferenciar por refletir a cena contemporânea com ecletismo de vozes, publicando alguns consagrados e muitos novos que julgássemos interessantes. Para viabilizar isso acertamos que, dado o caráter aberto da revista, convidaríamos várias pessoas para participar. Dos que convidamos apenas a Susana abraçou a causa e alguns outros se tornaram com o tempo colaboradores eventuais. Somouse a nós o Amir Brito Cadôr, de Santos, que agora mora em Campinas, onde estuda Artes Plásticas, e faz a edição gráfica da revista; e também o Paulo de Toledo, que mora em Santos e é redator de propaganda, tem dado apoio. Ela é deficitária, ou seja: pagamos do nosso bolso rachando as despesas, à exceção do primeiro número que foi pago graças a um patrocínio conseguido pelo Mauro, de uma rede de supermercados, e que possibilitou um arranque inicial importante. Quanto à função de cada um, dividimos tarefas conforme nossas possibilidades; em geral cada um tem suas leituras e traduções e sugere o que gostaria de ver publicado. O Mauro tem feito uma espécie de relações públicas com estrangeiros, enquanto eu dou mais atenção aos escritores locais, a Susana faz uma ponte na universidade, o Marco e o Amir são livres atiradores. Vamos discutindo uma pauta que vai se formando e fechamos a edição buscando alguns ganchos que dêem a ela um rosto. Com a falta de grana as edições têm se tornado anuais, o que dispersa demais a discussão, mas possibilita que cada um use o tempo em suas próprias reflexões, afinal editar uma revista toma um tempo danado pois há dezenas e dezenas de pessoas querendo publicar, saber o que achamos de seus textos e ler isso, selecionar, traduzir, responder... toma muito tempo, um tempo que tem que ser encontrado entre o trabalho pra ganhar a vida e a família. CW - A propósito, como é fazer revista com um corpo de editores translocal, cada um morando em um lugar diferente? Sem a informatização e a net, isso seria possível? AD - Moro em Santos, o Mauro e a Susana em Florianópolis e o Marco e o Amir em Campinas. A discussão vai se dando aos poucos por e-mail, até fechar a edição. Já nos encontramos várias vezes e eu pessoalmente os vejo com regularidade maior – já houve um debate intenso em grupo mas essa possibilidade se esgotou e creio não ser mais possível dada a diferença de pensamento entre todos; desse modo, tenho sido o fiel da balança coordenando a continuidade da revista, com 5 edições publicadas e a sexta em andamento – o que não quer dizer que não tenha tido desavenças com os outros editores – tive e as superamos, creio que porque já éramos muito amigos bem antes de começar essa cozinha que tem sido a revista. Com certeza fazer uma revista como a Babel seria muito mais difícil, talvez impossível, sem a internet e a fazemos com certa obstinação porque é uma referência importante, um estímulo que alimenta o trabalho de cada um. CW - Você partiu de alguma reflexão crítica sobre o jornalismo literário atual, uma intenção de preencher um espaço vazio, cobrir uma lacuna, algo assim? AD - Discutimos muito isso pois achávamos que lá por 1998 a 2000, quando começamos a pensar na Babel, havia creio que apenas a Inimigo Rumor, muito circunscrita a um grupo do Rio, que considerávamos fechada, e a Medusa, de outro grupo do Paraná, com pouco espaço, a Cult, sem espaço naquele momento e mais comercial; havia o SL-MG, e a Dimensão. O fato é que não era fácil ser aceito nesse clubinhos – todos enviamos poemas a vários e não deu liga; nunca fomos dados a lobby, de insistir até dar em alguma coisa. Diante disso concluímos que o cenário precisava de uma revista mais aberta, que mostrasse de forma mais ampla e crítica a riqueza da produção contemporânea, tida por nós como uma Babel multifacetada que não cabia mais em caixas de ferramentas tão específicas como era o caso da Inimigo publicando de certa forma apenas herdeiros do modernismo e a Medusa não muito interessada em novos desconhecidos. Era o que achávamos naquele momento. Há uma diversidade maior de publicações hoje - Inimigo Rumor, Sibila, Coyote, Sebastião, Rodapé, Etc, Cacto, Rascunho, Ácaro, SL-MG, Iararana, O Escritor, Salamandra/Camaleoa, Ponto Doc, Gazua, Cult além das inúmeras eletrônicas e blogs que já parecem apontar a revolução do celular, um homem, um celular – um homem, um site… CW - Admitida uma divisão de Babel em setores - inéditos de autores brasileiros, traduções, artigos e resenhas, entrevistas e depoimentos -, qual deles está mais bem resolvido? AD - Penso que a publicação de poesia brasileira contemporânea está bem resolvida e sempre abrangente, tendo alcançado um bom resultado na edição 5, a qual, somada às anteriores, dá um painel interessante do cenário nesta década 00; os depoimentos e entrevistas também têm sido pontos fortes na revista, assim como as traduções de estrangeiros contemporâneos que até poderia ser mais ampla se tivéssemos mais espaço, no que poderíamos reforçar ainda mais a idéia de Babel, pois o contato facilitado com estrangeiros hoje é algo concreto também – temos feito algum trabalho especificamente com argentinos, mas há contatos com norte-americanos, portugueses, franceses e escoceses. Há pouco espaço, porém, para resenhas e críticas, sendo impossível resenhar ou criticar tudo que sai publicado. CW - Continuarão os debates, provocações e exercícios de pluralismo em Babel? Há uma intenção deliberada de procurar matérias e entrevistados que possam gerar polêmica, de Waly Salomão a Raúl Antelo? AD - Trata-se de um diferencial interessante e temos buscado isso pois o que se vê em geral nas publicações são apenas entrevistas mornas, mais empenhadas em conhecer o escritor ou ressaltar o seu mais recente trabalho, fato que nem por isso as torna desinteressantes, mas pensamos que a revista deveria ter essa peculiaridade, provocar e abrir espaço para quem quer dizer o que normalmente não se diz. Temos tido boa receptividade pois as entrevistas ou depoimentos de Waly Salomão, Paulo Franchetti, Glauco Mattoso, Raúl Antelo e Daniel Muxica têm esse diferencial de sair do lugarcomum. Mas há também entrevistas interessantes como as de Luiz Nazário e Milton Hatoum e uma que considero histórica pela sua abrangência e objetividade, com Boris Schnaiderman. CW - O que você gostou mais de publicar em Babel, quais matérias e autores lhe proporcionaram especial prazer por ter podido fazê-los saírem? AD - O depoimento de Waly Salomão foi um, não só por ser incomum uma vez que ele nunca foi dado a entrevistas ou testemunhos como o que saiu em Babel, o que está bem evidenciado lá. Foi um momento de sinergia interessante, em que ele interagiu com as pessoas e o ambiente e falou do seu trabalho e de outros. Gosto dessa interatividade que a entrevista permite, por isso elas são algo que me deram prazer fazer na revista. Mas não é só isso. Não consegui, por exemplo, um depoimento do Sérgio Rubens Sossélla, um escritor algo obsessivo que mora no interior do Paraná e já publicou cerca de 300 livros de forma artesanal. Passei uma tarde tomando café e conversando com ele em sua biblioteca em Paranavaí enquanto ele fumava pequenos charutos e esse foi um prazer que não pude dividir com ninguém porque tive que desligar o gravador. Mas daí saiu uma amizade e uma troca e ele passou a ser uma espécie de colaborador da Babel pois seus textos têm sido publicados nela com regularidade. Ou seja: o trabalho com a revista tem possibilitado encontros, trocas, conhecimento e permitido que não se fique no isolamento que pode levar à estagnação. A publicação da revista levou também à elaboração de um outro trabalho que julgo importante, que foi o convite da Imprensa Oficial do Paraná, através do crítico Miguel Sanches Neto, para elaborar uma antologia que resultou no livro Passagens – Antologia de poetas contemporâneos do Paraná, com 28 escritores, que fiz buscando fazer um balanço da produção desses poetas e também para expor alguns problemas, não de todos, mas comum naquele Estado, como a sombra do Leminski e a praga do haicai. Fora essa interatividade, há o prazer de publicar novos autores ou que estejam subvalorizados ou desconhecidos, mas que são interessantes, como Jairo Batista Pereira, que ganhou um impulso positivo depois de sair em Passagens – publicou um livro pela Editora Medusa e teve uma seleção de poemas na Coyote, assim como Marcelo Ariel, um poeta humilde de Cubatão que saiu em Babel e depois na Cult e tem, com isso, obtido uma valorização que talvez não conseguisse facilmente. Mas há outros casos, como ter publicado poemas de Milton Hatoum, uma entrevista com Boris Schnaiderman bem interessante, e a possibilidade de fazer um mapeamento da produção contemporânea diferente das outras revistas, mas que a elas se soma. CW - E o que falta fazer, o que precisa melhorar? AD - O problema fundamental de uma revista como Babel é o de como pagá-la. Já tentamos via projeto pela Lei Rouanet mas não conseguimos captar dinheiro. Vamos tentar novamente. Outro problema é que geralmente os textos estão um tanto expremidos mas precisam sair naquele espaço e naquele orçamento. Se tivéssemos melhores condições os textos poderiam ser valorizados, respirar melhor na revista, poderíamos melhorar a apresentação gráfica com ilustrações que sempre estiveram subutilizadas porque o que mais importa é o texto e sobretudo há necessidade de aumentar o número de páginas para pelo menos umas 180 por edição, cuja regularidade ideal seria a semestral e não anual como ocorre atualmente. Em termos de conteúdo, a leitura crítica de livros e reflexões sobre poética mereceriam mais espaço. CW - Tiragem de algumas centenas de exemplares - isso é inserção na elite cultural ou contingência? Há chances de crescimento? AD - Certamente que é contingência pois simplesmente não existe um sistema de distribuição no Brasil que possibilite a existência de pequenas publicações. Ou se está ancorado numa editora que tem um catálogo e cuida disso (como Inimigo Rumor e Sibila) ou se está fora do mercado, mesmo porque é impraticável ficar enviando revistas a várias livrarias e ficar administrando isso, quando o mais importante para os poetas que se reúnem em torno de revistas é escrever, publicar e circular seu trabalho entre os leitores ou os que estão envolvidos com essa atividade. Com patrocínio, no entanto, fica mais fácil, como é o exemplo das revistas Medusa e Coyote que, sem precisar se preocupar com seu custo (financiadas por leis de patrocínio municipal respectivamente em Curitiba e Londrina, possibilitando também uma tiragem maior para distribuição), conseguiram distribuição via Editora Iluminuras. No caso de Babel, em que praticamente a custeamos com nossos recursos, não é possível uma tiragem maior que 400 exemplares. Porém, com essa tiragem atingimos nosso objetivo, que é fazer a revista circular entre um número significativo de escritores no país e fora dele. Ou seja, por falta de recursos a revista acaba confinada a essa elite que você menciona mas o que importa é que ela exista e circule pelo menos entre esse conjunto de leitores, o que já considero uma proeza neste país de triste miséria cultural em que nem com uma lei de incentivo que prevê resgate de 100% do total investido em livro se encontre empresário disposto ao patrocínio. De minha parte não me encanto com a falácia iluminista, ou populista, de “formar leitores”, de sair de porta em porta vendendo esse peixe, daí que quando decidimos fazer a revista um pré-requisito foi o compromisso de dividirmos as despesas quando não se conseguisse patrocínio e, resolvendo a questão da distribuição, enviá-la às pessoas mais atuantes na área. CW - Que lhe parece o aumento, quando não proliferação de revistas de poesia e periódicos literários? Teria destaques, positivos ou negativos, comentário sobre alguns deles ? AD - Temos hoje cerca de 10 revistas impressas dedicadas à poesia no Brasil (Inimigo Rumor, Poesia Sempre, A Cigarra, Azougue, Babel, Sebastião, Cacto, Sibila, Coyote e Etc; Lagartixa e Gazua, só de poemas, e outras como Cult, Rodapé, Teresa, Ácaro, Iararana, Calibán e Literatura, ou jornais que a ela dedicam espaço como Rascunho, SL/MG, O Escritor – e acho importante mencionar também a revista Medusa, que embora tenha se extinguido após 10 edições, de certa forma faz parte desse cenário, também ocupado em parte por Dimensão, graças à legião de um homem só que é o Guido Bilharinho), o que é um número insignificante para um país imenso como o nosso, em que a quantidade de leitores é irrisória e de compradores menor ainda. Por outro lado, essas publicações praticamente dão conta do registro do que há de significativo no país contemporaneamente e, como uma rede, umas se somando às outras, há interligações com escritores de outros países também. Logicamente, considerando-se que nessa economia sem sistema literário ter 10 revistas feitas por poetas, além dessas outras mais amplas em conteúdo, é um acontecimento, pois várias surgiram motivadas pela necessidade de ampliar o espaço sempre insuficiente para acomodar novos escritores. São publicações muito diferentes umas das outras, algumas mais importantes, outras menos - pelo conteúdo que estampam, mas prefiro lê-las no conjunto, de onde se extrai uma riqueza de leituras, traduções e experiências que vão do regionalismo desproblematizado, passando pelo esforço de continuidade da herança modernista, e até mesmo pelo impulso pop e contracultural vindo dos anos 60/70, que se atualiza pelo vigor acrescentado por novos meios como a internet, sites e blogues. Acho particularmente interessante a experiência ocorrida com Inimigo Rumor, a mais antiga, com 14 edições, que, depois de 10 edições, o que já é um fato a se comemorar, passou a ser co-editada com um grupo de Portugal, criando-se um novo influxo à sua existência, trazendo às páginas um calor de debate que antes não era comum, porque muito circunspecta. Na edição 12, por exemplo, um ensaio de Marjorie Perloff sobre como se resenha poesia nos EUA, traduzido pelos portugueses, abriu um debate muito relevante, perfeitamente apropriado ao Brasil, que repercutiu na edição seguinte e teve na Cacto também uma resposta. A herança modernista às vezes é um fardo que extrapola dos poemas e chega a dar a ela uma aparência acadêmica, universitária, no que acaba por ser um ótimo contraponto para as outras revistas, mais irreverentes, que apostam mais no risco e não estão tão preocupadas com “a obra”, “a biografia” e outras cenouras idealizantes. Poesia Sempre, além de estar presa aos humores oficialescos, tem tido uma história um tanto beletrista, de e com fiducidade na ABL, mais para uma literatura acomodada, no que Calibán se parece com ela, assim como Literatura e Iararana que, além disso, em doses diferenciadas, apresentam também características regionalistas, desproblematizadas, que as confinam. Acho muito boa também a Sibila – num primeiro momento pareceu girar demais em torno de Regis Bonvicino, mas cresceu em conteúdo e seu olhar para a literatura e arte norteamericanas, contra, por exemplo, uma Inimigo Rumor européia, é enriquecedor para nosso cenário. O investimento de Sebastião, assim como Rodapé, em análises das obras dos poetas em atuação é fundamental para quem está escrevendo agora (é importante frisar isso porque em geral faz-se isso na academia, nas universidades, mas em geral em relação a obras que chegaram ao ponto final da morte do escritor). Com duas edições, considero a experiência de Sebastião, além de inédita, interessantíssima por nos dar de forma específica os modos de se ler os poetas contemporâneos e seus métodos, por eles mesmos. A Cacto, com duas edições, parece percorrer o caminho da primeira fase da Inimigo Rumor, marcada até no formato pela circunspecção e com ótimo investimento em poemas e reflexão sobre poéticas brasileiras, com interesse pela geração que deu base para a Inimigo Rumor, afinidade afinal registrada no editorial do primeiro número. Já a Coyote, colocada ao lado dessas revistas todas, a Babel inclusive, causa um choque pelo tratamento visual dado ao texto, com o luxo de ter designers gráficos, os poetas Marcos Losnak e o também editor Joca Reiners Terron – cujo ótimo trabalho na editora Ciência do Acidente é um capítulo à parte nesse cenário; a poesia não é o único interesse na Coyote, pois o que a ordena é um conceito de cultura que expande a idéia de texto e assimila todas as manifestações artísticas, da poesia à história em quadrinhos, semioticamente; essa distinção em relação às outras publicações me parece explicável pelo fato de que seus editores são jornalistas, ou formados nessa área, possibilitando essa outra forma de fazer uma publicação, experiência que se verificou também na revista Medusa, embora lá a tônica visual fosse nas artes plásticas. É interessante nessas duas a postura contracultural e a predileção pela cultura beat. Na nova revista Etc o trato visual é também um diferencial, menos contaminado que na Coyote, e com exuberância para o texto, orientada pelo interesse em “literatura & arte”. Porém o que mais me chama a atenção em todas essas publicações, o que é comum nelas, é a atenção que têm dado a escritores latino-americanos - cubanos, mexicanos e outros, mas sobretudo argentinos, mantendo um interesse que sempre foi marcante em nossa cultura – um dos objetivos apregoados pela Etc é o de ser uma revista “do Brasil para as Américas”, ou algo assim, conforme vi num informe, tal como muitas revistas já fizeram no Brasil. Quanto à Cult, acho importante seu papel de formadora de leitores por ser uma revista distribuída em bancas, com outro formato – nesse sentido também é valioso o espaço nela chamado Radar, dividido em Gaveta de Guardados e Criação, dedicados a textos inéditos e a novos escritores, além do que eventualmente ela cobre com esforço o que se escreve e publica de interessante por muitas pequenas editoras que não existem para as grandes publicações, procurando ousar, como na recente edição dedicada a Paulo Coelho, resenhando sua obra e dedicando uma crítica demolidora ao mais recente livro dele – ou indo entrevistar um autor que ninguém quer saber, como é o caso de Mário Chamie, ainda que meio que se desculpando por o estar entrevistando. Finalmente, caberia uma nota ao Rascunho, que julgo importante pelo espaço que dedica à resenha do que se publica no mercado, variando em qualidade, mas com cobertura que nenhum jornal mais se digna fazer; é valioso o espaço que dá a poemas, traduções e a entrevistas que podem ser consideradas históricas pelo tamanho e amplitude – veja-se uma feita com Luis Vilela ou outra com Bernardo Carvalho, entre várias outras. Seu cacoete, porém, é um certo encanto com o opinionismo que teve em Paulo Francis seu modelo – aquele da “metralhadora giratória”, que parece encantar particularmente o Polzonoff. É um jornal feito por jornalistas – leitores -, ou seja, sob esse aspecto, de fora do meio, pois não fiquei sabendo ainda de pretensões literárias deles. A postura que muitos consideram belicista, de diatribe, comprovada em artigos contra o Marcelo Mirisola, o Sebastião Uchoa Leite e agora o Arnaldo Antunes, prefiro ver como irreverência e acho mesmo que eles têm a vocação de serem o Casseta & Planeta literário nesse cenário – há um senso de humor divertido naqueles comentários. Todas as publicações são sérias – ou circunspectas - demais, salvo uma ponta de ironia na Coyote e a irreverência da Ácaro – que por exemplo tem um suplemento chamado Menas! - Suplemento de Domingo, para gozar o Mais! da Folha e o Jornal do Brasil. Essa postura das publicações é uma expressão sintomática do próprio meio, que às vezes parece um pasto, tantas as vacas sagradas – ou elefantes.. – que não podem ser abatidas por nenhum tipo de crítica que logo se parte para a ignorância (Mirisola quis esmurrar o editor do Rascunho num bar) ou se motiva abaixo-assinados e movimentos em defesa da moral e dos bons costumes das letras – há uma contradição aí - ou tijolaços ensaísticos como os que se sucederam em defesa do Elefante e da poesia de Chico Alvim – que acho deliciosa (ocorridos na Folha, particularmente no Mais! e no Jornal de Resenhas, por Roberto Schwarz, assim como em outros veículos após crítica feita no Estadão por Paulo Franchetti.) Trata-se, em verdade, de um meio muito apaixonado, de aficcionados, o que é superlegal, em que o percentual de egos blindados por metro quadrado é muito alto, daí ser possível entender por que essa poesia que se diz nada valer motiva tanta raiva, como a exposta no debate circulado pela rede, havido entre os ex-editores da Medusa e agora entre os editores da Etc. Mas a poesia passa ao largo, como num poema: “Vai-se/ passa por uma coluna/ e outra/ não olha/ dobra um vidro/ a última pilastra/ desaparece” – e aí está. CW - Como é isso, reportando-me a conversas nossas e depoimentos seus, da concentração de novas publicações literárias na região Sul-Sudeste? Isso tem lógica, alguma explicação? AD - A maioria estão em São Paulo e Rio de Janeiro por serem naturalmente as grandes metrópoles do país e reunirem condições para isso. Mas é realmente um fato curioso que haja uma efervescência delas, principalmente no Paraná, onde hoje temos a Coyote (com 5 edições), a Etc (com 2), a Babel (com 5 e a sexta em preparo – embora não seja feita lá, ela tem quatro editores nascidos no PR e com fortes vínculos locais), além da recente e extinta Medusa (10 edições), do Radar (2 edições, pela Imprensa Oficial do PR) - certamente lastreadas numa tradição marcada pelas mais importantes que são: Joaquim, publicada por Dalton Trevisan nos anos 1946-8 (recentemente reeditada integralmente tal como era, pela Imprensa Oficial do PR), Nicolau, tablóide publicado nos anos 80 por Wilson Bueno, Raposa, tablóide publicado por Miran nos anos 80, Ran (publicada em Londrina pelos editores da Coyote, nos anos 80) e até mesmo a estupenda revista Gráfica, a mais importante, creio, da América Latina, na área de artes gráficas/arte (mais de 40 edições, ainda circulando, editada por Miran – há uma edição especial nas bancas, publicada pela Escala). Ou seja, pode-se sugerir que essa tradição seja disseminante pois é impossível fazer uma publicação de qualidade no Paraná desconhecendo a riqueza dessas outras que são exemplares na forma como se colocaram em seu tempo, sem se afundar no regionalismo e no bairrismo mediocratizante e dialogando com o melhor que se fazia no país e fora dele. O Paraná é um Estado de colonização recente – veja-se o caso do hoje rico norte do Estado em que há cidades como Londrina e Maringá, que têm cerca de 50 anos de fundação - a literatura produzida no Paraná esteve sempre circunscrita a Curitiba, por ser capital e por estar integrada de forma sistêmica à vida nacional, enquanto que o interior do Estado, de colonização incipiente, cujas maiores cidades têm poucas décadas de existência, somente começou a ter escritores e vida cultural muito recentemente. Muitas dessas publicações têm sido feitas por escritores oriundos desse velho oeste (o poeta Sossélla tem grande prazer em se imaginar um pistoleiro em seus poemas, tributário do cinema clássico mas também dessa vida no interior), que hoje é uma região de grandes cidades industrializadas, em que a pobreza não é tão evidente quanto em outros locais, embora exista, e que tem produzido artistas e escritores cuja obra é marcada pela crítica social e política e pela irreverência: Cambé, Arrigo Barnabé, Domingos Pellegrini Jr, Wilson Bueno, Itamar Assumpção, Laerte, entre tantos outros, aos quais se somam os das novas gerações. No Rio Grande do Sul curiosamente não têm havido – pelo menos que eu saiba – revistas como essas comentadas aqui, embora lá haja um importantíssimo e muito peculiar mercado editorial que tem vida própria, com escritores, editoras e o que é mais incrível, leitores. Há, claro, o Eduardo Sterzi, que é gaúcho, mora em São Paulo e coedita com o Tarso de Melo a Cacto, fato esse que não quer dizer nada naquela revista. Já em Santa Catarina há várias editoras que surgiram nos últimos anos ou década e têm publicado poesia, como a Semprelo, depois transformada em Letras Contemporâneas, cujo editor é o Fábio Brüggemann, ou a Letradágua, do Joel Gehlen, atualmente fazendo um trabalho mais importante que a Semprelo ao publicar poesia. No entanto lá também não têm havido revistas, embora haja um movimento no sentido de mudar isso, cuja tentativa importante foi a Linguarudos, publicada por Dennis Radünz e Joel Gehlen no final de 2000, mas que não teve continuidade, embora tenham a intenção de retomá-la este ano, o que seria um fato importante, tendo em vista que as publicações lá existentes que se dedicam à literatura e às artes, salvo uma ou outra exceção na universidade (Cadernos de Tradução, Travessia, Boletim do Nelic), são oficiais e inócuas e enterradas no bairrismo. A título de fait divers, como em Florianópolis moram dois dos editores da Babel, ela já foi chamada de catarinense nos jornais locais, segundo essa forma de pensar e apropriar das culturas locais, que é muito forte fora dos grandes centros mais urbanizados São Paulo e Rio, o que considero um problema pois é engessante do pensamento ao cair no regionalismo estéril, muitas vezes rural, sem problematização, reforçado pelas falácias da globalização. CW - Para terminar, faça comentários sobre periodismo eletrônico em geral e Agulha em especial. Aliás, a propósito, conexão ibero-americana o tem interessado? E conexão lusófona? AD - A Internet de fato proporcionou uma revolução de comunicação pois as mais diversas e impensáveis revistas estão às nossas mãos no mundo todo, o que é um problema, pois mal damos conta de lermos os livros e publicações impressas. Mas não poderia ser diferente, pois é muito mais simples e econômico fazer uma revista eletrônica que uma impressa, além do que o público que se atinge é infinitamente maior – o trabalho de contatos com o público e escritores e sua elaboração é o mesmo, a diferença fundamental está na sua finalização e circulação. Essa nova realidade exige versatilidade de leitura, seleção e compreensão de ainda mais línguas e linguagens, o que é desafiador e estimulante pois está havendo uma intensificação de criatividade com a proliferação de meios. Escreve hoje para a gaveta quem quer, não por imposição – ainda que se possa encontrar gente que escreve à mão por impossibilidade econômica, social e política de acesso a um computador, conforme vi recentemente em Cubatão. Tenho acompanhado o trabalho de alguns sites e revistas eletrônicas, muitos de forma esparsa, caso dos portugueses, de língua espanhola e outros. No Brasil leio regularmente a Agulha, na qual já tive ensaio publicado, com alguns ganchos em outras revistas amigáveis como o TriploV, acompanho a Tanto, a Weblivros e sempre dou uma olhada em outras publicações. Ou seja, tenho uma relação de leitor com esse meio uma vez que não me interessei em participar dele criando um site, um blogue ou uma revista eletrônica, ainda que temos pensado em disponibilizar as edições da Babel na rede. Sei que há aí um terreno imenso de possibilidades a se explorar, porém falta tempo para isso e tem sido divertido essa excrescência que é fazer uma revista impressa, o que, por enquanto, tem nos bastado. No caso da Agulha, gosto da interatividade que há nela, o tratamento gráfico é primoroso e as seções “galeria de revistas” ou “revistas em destaque” são de uma importância de registro histórico incomum, assim como o conteúdo, com particular destaque para o material sobre surrealismo, investindo num campo pouco valorizado no Brasil. Por fim, a porta de entrada que se abre para o mundo hispânico nela com links para outras publicações é instigante, estendendo um trabalho do Floriano Martins com essas publicações que já tive oportunidade de ver exposto. [diálogo realizado em julho de 2003] Babel Revista de poesia, tradução e crítica Editor: Ademir Demarchi Co-editores: Marco Aurélio Cremasco, Mauro Faccioni Filho e Susana Scramim Redação: Rua Almirante Barroso 54/33 Campo Grande Santos 11075-440 Brasil Contato: [email protected] . . revistas em destaque .. corner (estados unidos) diálogo entre carlota caulfield & maria esther maciel Carlota Caulfield é uma poeta afeita à diversidade. Cubana, de ascendência irlandesa, nasceu em Havana, em 1953. Viveu em várias cidades européias e norteamericanas e atualmente leciona literatura espanhola e latinoamericana no Mills College de Oakland, California. Em diálogo com as poéticas de vanguarda e com várias tradições do passado, como a arte renascentista, o barroco hispânico, a literatura greco-latina e o ocultismo medieval, ela vem construindo uma obra poética marcada pela experimentação de formas, pela ousadia temática, pela exuberância da linguagem e por uma erudição altamente criativa. É autora dos livros: Fanaim (1984), Oscuridad divina (1985 & 1987), A veces me llamo infancia/Sometimes I call myself childhood (1985), El tiempo es una mujer que espera (1986), 34th Street & other poems (1987), Angel Dust/Polvo de Angel/Polvere D'Angelo (1990), Visual Games for Words & Sounds. Hyperpoems for the Macintosh (1993), Libro de los XXXIX escalones/Libro dei XXXIX gradini (1995), Estrofas de papel, barro y tinta (1995), A las puertas del papel con amoroso fuego (1996), Book of XXXIX steps, a poetry game of discovery and imagination. Hyperpoems for the Macintosh – CDROM (1999), Quincunce (2001), Autorretrato en ojo ajeno (2001), At the Paper Gates with Burning Desire (2001) e Movimientos metálicos para juguetes abandonados (2003). Recebeu vários prêmios literários, dentre eles o Prêmio Internacional "Ultimo Novecento" (Italia, 1988), o Prêmio Internacional "Riccardo Marchi-Torre di Calafuria" (Italia, 1995) e o Primeiro Prêmio de Poesia Hispano-americana "Dulce María Loynaz" (Espanha, 2002) além de mençõs honrosas no "Premio Plural" (México, 1992), no Premio Internacional "Federico García Lorca" (Estados Unidos-España, 1994) e no “Latino Literature Prize”, do Instituto de Escritores Latino-americanos de New York, em 1997. É também editora da revista eletrônica Corner (http://www.cornermag.org), publicação inteiramente dedicada às vanguardas internacionais e latinoamericanas. Na entrevista que se segue, Carlota Caulfield fala sobre a pluralidade temática e formal de seu trabalho, seus trânsitos em várias tradições, a experiência do exílio e as vozes femininas da poesia cubana contemporânea. [M.E.M.] MEM - Pode-se dizer que a sua poesia, ao manter um diálogo criativo com diferentes campos do saber, é um convite sempre instigante ao exercício da pluralidade. Você não circunscreve sua palavra ao espaço apenas da literatura, mas busca na filosofia, nas ciências ocultas, nas artes plásticas e visuais, nas tecnologias contemporâneas e na história muitos elementos para o seu processo de criação. Você poderia falar um pouco sobre essas interseções de sua poesia com outras áreas? CC - Minha poesia é um coro de muitas vozes, uma pele com múltiplas tatuagens. Severo Sarduy definiu sua escritura como travestismo, metamorfoses contínuas, referências a outras culturas, mescla de idiomas, múltiplos registros de vozes, enfim muitos gestos. Estas idéias de Sarduy me seduzem e se aplicam perfeitamente à minha poesia. Com registros diferentes, minha poesia celebra muitos gestos. Na primavera de 1997, a revista norte-americana ANQ editou um número especial dedicado à influência da poesia norte-americana na obra de escritores hispânicos. Edward Stanton, o editor desse número, convidou-me para colaborar. Eu não queria escrever um ensaio tradicional, pois isso não iria responder à minha verdadeira relação com a literatura norte-americana. Ou talvez deva dizer, em meu caso, a cultura norte-americana. Ocorreu-me um ensaio bastante livre, à maneira de uma colagem, a que dei o título de “From Mickey Mouse to Jack Foley; Chorus with Multiple Tattoos” (De Mickey a Jack Foley. Coro com múltiplas tatuagens). Digo que nesse ensaio apareceram muitos autores, músicos e personagens de cartoons... me fascina o que disse John Cage sobre as influências em suas composições, esse “Here Comes Eveybody” que o compositor norte-americano tomou emprestado do Finnegans Wake de James Joyce. Assim que meu HERE COMES EVERYBODY inclui Mickey Mouse, o Gato Félix, Super Pipo (Goofy), Edgar Allan Poe, T.S. Eliot, Ezra Pound, Henry Miller, Anaïs Nin, Anne Sexton, Mina Loy, Isaac Bashevis Singer, Autor desconhecido, Louis Armstrong, Billie Holiday... para citar apenas alguns dos convidados à festa. Creio que meu pai, Francis Caulfield, foi quem me iniciou nessa dança de vozes. Não só alimentando meu apetite com certos clássicos da literatura norte-americana, mas também com a música. Talvez tudo venha de minha extraordinária paixão pelos dicionários. Meu grande tesouro quando eu tinha 7 anos era um Larousse ilustrado que eu protegia com intensa paixão. Também descobri na curiosa biblioteca de nossa casa um livro sobre Paracelso. Assim começou minha paixão pelos alquimistas. Anos mais tarde, em 1981, quando vivia em Zurique, não apenas me deleitei enormemente passeando pelos portais em que Paracelso havia pisado, como também pude consultar alguns tratados originais de alquimia na Biblioteca Central da cidade. Se você for ao meu Libro de los XXXIX escalones, um dos poemários mais “tatuados” de minha obra, vai encontrar muitas referências à alquimia, à pintura – em particular a surrealista (o livro está dedicado à pintora Remedios Varo) – e ao autobiográfico. Além das edições limitadas desse livro (uma em espanhol-inglês, publicada em Los Angeles; e a outra, em espanhol-italiano, publicada em São Francisco-Veneza,), o Libro de los XXXIX escalones saiu também em formato CD-Rom, em 1999, com o subtítulo: “ a poetry game for discovery and imagination”, pela InteliBooks, na Califórnia. O formato multimídia é quase ideal para o tipo de poesia que gosto de fazer, um tipo de poesia hipertextual. O mais importante desses poemas eletrônicos é que são interativos. Cada ação do "leitor" -- clicar uma tecla, apertar um botão eletrônico no mouse, etc.-- gera uma reação do poema. Textos que estavam ocultos se mostram ou adquirem vida própria e algumas vezes são acompanhados de música e sons. De fato, grande parte do livro está oculta à primeira vista e depende da curiosidade do leitor descobrir esses aspectos de hipertextualidade e intertextualidade latentes nos poemas. Meus trinta e nove poemas dialogam com a pintura renascentista, a poesia sufí, a alquimia, o misticismo judeu, a vanguarda e minhas memórias pessoais, tanto escritas como fotográficas. O livro foi criado como homenagem ao labirinto da imaginação e aos meus gatos, em particular a Amach, felino adivinho com poderes de parapsicologia, um total mestre Zen, que morreu em setembro do ano 2001. O teatro e a performance também influenciaram minha obra, mas acho melhor não entrar nesse tema, porque ainda há outras perguntas pelo caminho. MEM - Um outro aspecto de seu trabalho poético é o experimentalismo. Você tem buscado sempre novas configurações de linguagem para seus textos, sobretudo no campo das tecnologias contemporâneas. Como você definiria sua relação com as estéticas de vanguarda? CC - No que se refere ao experimentalismo, cito como exemplo de uma de minhas primeiras aventuras no computador o disquete Visual Games for Words & Sounds. Em 1993, desenhei com Servando González esse livro eletrônico de hiperpoemas, aos quais chamei collaged poems, termo do poeta norte-americano Jack Foley. Esse livro experimental foi pensado como uma homenagem à vanguarda internacional e ao misticismo. Há poemas na linha DADA que jogam com idéias budistas, referências à literatura espanhola medieval e a Joyce. Neles, Cage volta a ser uma presencia importante, assim como a música do compositor norte-americano Alvin Curran. Há poemas em inglês, alemão, espanhol e italiano. Os poemas ainda fazem uma homenagem à dança moderna (eu havia assistido a uma oficina de dança com uma aluna de Alvin Alley e me sentia inspirada) e, como sempre, trazem também o autobiográfico. Desse modo, viajei por diferentes temas e experiências que estão muito relacionadas com minha vida. Foi muito divertido criar esses jogos visuais, que hoje já são parte do passado. Impossível vê-los nos novos computadores. Talvez possamos falar de uma arte efêmera de computador. Meus collaged poems foram um produto típico de nosso tempo, onde tudo padece de una rápida condição de perecimento. Poderíamos seguir falando de experimentação por muito tempo. Sou uma apaixonada pela vanguarda, tanto a européia quanto a hispano-americana, e desde o ano de 1994 tenho estado muito atenta ao que acontece na poesia experimental catalã. Passei longas temporadas em Barcelona e pude participar do movimento catalão de poesia experimental. Entre meus bons amigos catalães estão alguns poetas visuais como Xavier Canals. Barcelona foi, desde 1890, um centro importante de poesia experimental (pensemos nos caligramas de Antoni Bori i Fontestá e nos caligramas e poemas visuais de Josep María Junoy y J.V. Foix), e é hoje em dia um dos centros mais dinâmicos de poesia experimental do mundo. Você encontra na Catalunha um movimento de polipoesia que tem uma grande força. O termo poesia experimental, no caso, reúne muitas tendências: poesia visual, poesia concreta, poesia objeto, poesia sonora, poesia fonética, poesia vídeo, poesia ação. Alguns dos poetas mais conhecidos são Joan Brossa e Guillem Viladot. Outros poetas inovadores são Xavier Sabater, Carles Hac Mor, Esther Xargay, Enric Casassas, Albert Subirats, Bartomeu Ferrando, Pere Sousa, Josep M. Calleja e Eduard Escoffet. Eu mencionaria ainda meu trabalho como editora de Corner, revista eletrônica dedicada a la vanguarda (http//www.cornermag.org). Corner nasceu graças ao meu interesse pela poesia visual catalã e ao grande estímulo de Xavier Canals e do fotógrafo Teresa Hereu. O primeiro número do outono de 1998 foi dedicado à vanguarda catalã, e nela os leitores podem ler uma entrevista chave de Canals com Brossa. No ano de 1999, participei com Corner na exposição Poesía visual catalana, organizada por Calleja e Canals, que foi inaugurada em 1999 no Centro de Arte de Santa M. Essa exposição também poderia ter sido intitulada Here Comes Everybody from Cataluña, já que estavam também presentes Ramon Llull com algumas de suas “figuras combinatórias”. Como você pode ver, sempre trato de estar em companhia dos experimentalistas. MEM - Você mencionou agora há pouco a presença do trabalho da artista Remedios Varo em um de seus livros e acaba de confessar sua paixão pelas vanguardas. Daí a inevitável questão: qual é a importância do surrealismo para a sua poesia? CC - Esta pergunta me leva ao ano de 1995, quando ganhei na Itália o prêmio Riccardo Marchi por uma coleção de três poemas em espanhol e italiano (traduzidos por Pietro Civitareale). Chamou-me a atenção o fato de a comissão julgadora ter considerado o “Para Cornelius” um texto surrealista. A verdade é que, quando o escrevi não pensei na poesia surrealista, mas na música experimental norte-americana e inglesa, que escutei ao escrevê-los. Não creio que minha poesia tenha muito do surrealismo. Nela há muitas presenças. Diferentes críticos a chamaram de confessional, pós-moderna, etc. A verdade é que eu adoraria ser mais surrealista. Me fascinam alguns poemas surrealistas de amor escritos por Louis Aragon, René Char, Robert Desnos, Paul Eluard, Joyce Mansour, Alice Paalen, Benjamin Péret, assim como as receitas de Remedios Varo para quem quer ter sonhos eróticos. MEM - Um dos aspectos que mais me chamaram a atenção em seu livro A las puertas del papel con amoroso fuego é o uso de estratégias ficcionais. Você cria cartas apócrifas de personagens históricos e literários, reinventa essas personagens e forja relações amorosas entre elas. Essa prática do artifício, da encenação de subjetividades fictícias, que aponta inegavelmente para os escritos de Fernando Pessoa e Borges, não tem sido muito explorada pela poesia contemporânea, mas permanece no campo da narrativa de ficção. Eu gostaria que você discorresse um pouco sobre a presença dessas estratégias em sua poesia. CC - O poeta e crítico Jack Foley disse uma vez que eu era una poeta-arqueóloga. Embora eu deteste qualquer tipo de classificação, essa denominação me encantou. Durante minha adolescência eu quis ser, além de ser alquimista, atriz; e depois, mais que arqueóloga, antropóloga. Mas ao final, o que estudei na Universidade de Habana foi Historia, para depois dedicar-me à literatura, nos Estados Unidos. Daí talvez me venha essa paixão por rastrear, por descobrir marcas deixadas por outros, em particular por outras mulheres. A las puertas del papel con amoroso fuego é um livro que se inspira em parte nas Heróidas de Ovidio. Uma de minhas leituras preferidas de todos os tempos foi A arte de amar, de Ovidio. Como você se lembra, nesse livro o poeta convida à leitura de Anacreonte, Safo, Menandro, Propércio, Tíbulo, Virgílio, e outros poetas clássicos. Ele também convoca as “estudantes” para ler seus Amores e as Heróidas, sobretudo porque o segundo livro é um gênero novo do qual se considera inventor (Ignotum hoc aliis ille novavit opus). Bem, Ovídio, contrariamente a outros poetas (veja o caso de Propércio, que fala de sua dívida poética com Calímaco) não se declara herdeiro de nenhum outro poeta na criação de suas Heróidas. Isso é certo, se bem que já existiam as elegias latinas, como as de Propércio, que falam sobretudo do poeta como amante. Entretanto, o que faz Ovídio em suas Heroides epistolae é totalmente revolucionário. Ele explora os detalhes das histórias de suas famosas heroínas (Medéia, Ariadna, Fedra...) e as transforma em amantes modernas, especialistas na arte da retórica, com personalidades muito definidas, distintas umas das outras. Digo que sou uma discípula moderna de Ovídio, a ele devo minha inspiração para o poemário A las puertas... Como nas Heróidas, meus poemas têm o eco do famoso odi et amo de Catulo (outro de meus mestres). Minhas heroínas, como a Fedra de Ovídio, falam da escrita como uma paixão que domina todo tabu, toda modéstia, conseguindo o que o discurso oral torna impossível. O livro começa com um verso de Safo que diz: “y rota / calla la lengua, mientras la mano escribe”. A las puertas... está composto de 37 cartas de mulheres conhecidas e desconhecidas. Há nelas uma espécie de “tragédia lúdica” que aprecio muito, já que o amor é precisamente isso. Devo retomar o fio de tua pergunta e responder que sim, que reinvento essas personagens de muitas maneiras diferentes, embora eu celebre muito de suas vozes reais. É possível encontrar no livro um gênero epistolar peculiar através dessa prática do artifício a que você se refere. O leitor se depara com referências a cartas existentes de mulheres famosas (Lucrecia Borgia, Isadora Duncan, Rosa Luxemburgo, Carolina Lamb, Flora Tristán, Gertrudis Gómez de Avellaneda) que se confundem (apesar dos embustes que uso muitas vezes para distinguir os textos reais dos imaginários) com minhas próprias invenções e fantasias. Entre essas mulheres não podia faltar a famosa Sóror Mariana de Alcoforado, aquela monja portuguesa do século XVII, cujas cartas causaram grande tumulto, e que mais tarde inspiraram um texto chave na historia do feminismo português: as Novas cartas portuguesas (Livro das três Marias) de 1971, obra escrita por Maria Isabel Barreño, Maria Teresa Horta ee Maria Velho da Costa, considerada uma obra-prima e censurada quase de imediato pelo governo português. Você menciona Pessoa e Borges, os grandes mestres da ficção. Interesso-me sobetudo pelas máscaras líricas, daí que a heteronímia e as ideologias estéticas de Pessoa sempre tenham me seduzido. Embora tudo já esteja nos poetas malditos, esse “ser el otro que es uno mismo para ser además ‘je suis plusieurs’”. Nas ficções de Borges há uma consciência irônica de armadilhas e abismos, que me inspira. Definitivamente, sou partidária do sujeito múltiplo. Meu poemário Oscuridad divina é outro jogo de máscaras. É um livro de 1985, data em que me inicio no “eu sou outras”, mas não com mulheres reais da história, mas com deusas da mitologia universal, muitas delas pouco conhecidas. Tanto Oscuridad divina quanto A las puertas navegaram com boa sorte no mundo literário, com prêmios e várias edições em diferentes idiomas. A editora InteliBooks publicou, em outubro de 2001, uma edição bilíngüe (español/inglês) de A las puertas... Já Oscuridad foi publicado na Itália em 1990, alguns anos depois de que receber o Premio “Ultimo Novecento” de Poesia. MEM - Ainda com relação à questão do jogo de subjetividades, como você explicaria o paradoxo do título de seu último livro, Autorretrato en ojo ajeno? Seria mais um exercício de “otredad”? CC - Você torna a me colocar no olho alheio... a refletir sobre meus olhares. A verdade é que esta é uma pergunta difícil, mas tentarei respondê-la. A abetura do livro é a chave de muitos poemas do mesmo. Optei por colocar nela um de meus quadros favoritos, que está no Kunsthistoriches Museum, de Viena, e se chama Autoritratto nello specchio convesso, de Francesco Mazzola, conhecido como Parmigianino (15031540). Comecei a escrever os poemas desse livro precisamente em Viena, depois de uma visita de mais de três horas ao meu amado quadro. O livro está dividido em duas partes: En un espejo convexo e Tríptico de furias. Pessoa aparece mencionado em um dos poemas, que se intitula “Desde una ventana de San Francisco”. Mas voltemos ao quadro em que Parmigianino olha o que o olha em um exercício de “otredad”, com um certo desafio irônico. Meu livro é esse olhar-me e descobrir-me em um jogo de sombras chinesas: “Hasta el eje sediento de mi centro / no existe ningún espejo claro”. Em meus poemas o sujeito poético usa um disfarce para não ser descoberto de todo, mas também o tira para ser descoberto. Autorretrat... é ao mesmo tempo um livro de poesia erótica e uma homenagem à pintura. MEM - Quais são os seus “livros de cabeceira”? E em que intensidade os autores que você ama interferem em seu próprio processo criativo? CC - Meus livros de cabeceira são muito variados. O Oráculo manual y arte de prudencia, de Baltasar Gracián, me ajuda a sobreviver dia a dia, e a não morrer presa nas intrigas e no caos do mundo. Outra de minhas bíblias é Il Grande Lupo Alberto, um livro dedicado ao famoso e simpático lobo italiano criado por Silver. Este é um livro em quadrinhos que me faz feliz. Outros livros que têm me acompanhado durante muito tempo são Zen in the Art of Archery, de Eugen Herrigel; uma antologia de poesia irlandesa; um livrinho de haikais; uma tradução para o inglês da poesia completa de Catulo; Open Closed Open, antologia da poesia de Yehuda Amichai; De umbral a umbral, de Paul Celan; Variaciones sobre el pájaro y la red con La piedra y el centro, ensaios de José Angel Valente; a correspondência entre Maiakovski e Lili Brik, bem como a de Kurt Weill com Lotte Lenya. Também El pulso de las cosas, antologia poética de Henri Michaux, e La casa de cartón, de Martín Adán. Eu diria que Valente, Celan y Amichai me ensinam a ser poeta. Há outros autores que me apaixonam, entre eles Trakl, mas prefiro não seguir acrescentando nomes à lista, já que teria que ir à Idade de Ouro espanhola e à poesia italiana. MEM - Como você avalia, em termos gerais, a poesia latino-americana de hoje? Quais seriam as principais linhas de força da produção poética de nosso continente? CC - A poesia latino-americana que mais conheço é a mexicana. Sempre me interessei muito pela geração dos Contemporâneos, em particular José Gorostiza e Gilberto Owen (latino-americano-irlandés como eu). Também fui, há muitos anos, uma leitora voraz de Octavio Paz. Dos poetas mais jovens, digamos dos nascidos depois dos anos quarenta, tenho alguns favoritos: Francisco Hernández, Coral Bracho, David Huerta, Elva Macías,Gloria Gervitz, Pura López Colomé e Eduardo Milán, entre outros. Do Brasil: Cecília Meireles, Adélia Prado e Maria Esther Maciel. Nos últimos meses tenho lido Floriano Martins. Da poesia argentina conheço bem a obra de Alejandra Pizarnik e Luisa Futoransky. A segunda parte de tua pergunta me obrigaria a assumir o papel de crítico literário e, além disso, não creio que conheça o suficiente de poesia latino-americana para respondê-la. A única coisa que posso comentar é que encontro na poesia latino-americana muita ousadia iluminadora. Há poetas que me surpreendem constantemente com suas explorações da linguagem, em seu dizer barrocosurrealista, em seu equilíbrio e sua desmesura. MEM - Você poderia falar um pouco sobre a poesia cubana feita nos Estados Unidos? Como você trabalha a questão do exílio em sua própria poética? CC - Da poesia cubana escrita em espanhol nos Estados Unidos a que mais me interessa é a escrita por mulheres, com a exceção da poesia de José Kozer e Jesús J. Barquet. Tenho me dedicado ao estudo crítico da obra de Juana Rosa Pita e Magali Alabau. Na poesia de Pita há muita inovação idiomática e uma linguagem coloquial que me atraem. Encontramos em sua obra uma grande insatisfação com a história oficial, e ela, com grande ousadia, a reescreve através do mito. Suas propostas inovadoras estão bem representadas em Viajes de Penélope y Crónicas del Caribe. Já Magali Alabau é uma das poetas cubanas mais transgressoras da atualidade. Sua poesia é herdeira de sua experiência cênica, já que a poeta se dedicou durante vários anos (tanto em Cuba quanto em Nova York) ao teatro, como atriz e diretora. Me interessa também em Alabau a sua reescritura audaciosa dos mitos clássicos a partir de uma posição feminista. Isto vemos sobretudo na sua Electra, Clitemnestra. Mas seus livros La extremaunción diaria e Ras é que se destacam como obras essenciais para se entender a realidade alienante e insuficiente que rodeia o escritor exilado. A cidade de Nova York é o espaço principal onde a poeta conduz seus enfrentamentos humanos/sua busca do ser. Alabau transtorna os pontos de referência do considerado “normal” e cria dimensões espantosas a partir do olhar do sujeito poético insatisfeito, um sujeito que se vale do paradoxo, da ironia e do humor negro para ler a cidade e a casa/corpo, a partir de zonas de excentricidade. Também me interessa muito o tema da violência nessa poesia. Outras poetas relevantes são Maya Islas, Alina Galliano y Lourdes Gil. Publiquei dois livros dedicados às poetas cubanas da diáspora: Web of Memories, Interviews with Five Cuban Women Poets e Voces viajeras, que é uma antologia voltada para o tema da peregrinação e da viagem em poetas cubanas. Nela incluo também outras poetas que não vivem nos Estados Unidos. Meu primeiro livro, 34th Street and other poems, escrito em Nova York nos anos oitenta, pode ser inserido, em parte, dentro do espaço da poesia cubana da diáspora, quanto ao tema da nostalgia. É um livro dedicado à minha mãe e que narra poeticamente muitas de minhas experiências na cidade de Nova York. Não com o dilaceramento que encontramos na poesia de Alabau, mas com um olhar crítico, e até certo ponto harmonioso, de um sujeito poético em viagem de descoberta e de rememoração da infância. Cheguei a Nova York, saída de Zürich, em 1981, e embora minha vida não tenha sido um paraíso do ponto de vista material, Nova York foi meu espaço cosmopolita de iniciação como poeta, uma moderna urbe que me enriqueceu culturalmente. O resto de minha obra deixa para trás essas referências do exílio, até o Libro de los XXXIX escalones, no qual regresso a Havana e a Zürich, e sobretudo à minha meninice. Mas, agora, através de jogos alquímicos e leituras de quadros surrealistas. Jesús J. Barquet, um dos críticos que com maior argúcia estudou minha poesia, disse que grande parte de minha obra resulta excêntrica dentro da poesia cubana do exílio, mas ao mesmo tempo trata de encontrar traços do cubano em minha poesia a todo custo, como um bom detetive. Barquet disse que meus malabarismos e exotismos não foram nunca alheios à poesia cubana, e menciona Julián del Casal e José Lezama Lima. O livro de Barquet, Escrituras poéticas de una nación: Dulce María Loynaz, Juana Rosa Pita y Carlota Caulfield, publicado em Havana pelas Edições Unión em 1999, é uma boa fonte para os leitores que se interessem em rastrear minha identidade cubana. Definitivamente, não me interessa defender nenhuma identidade em particular, talvez a única que me atreva a defender seja a de poeta. Corner Revista eletrônica http://www.cornermag.org . . revistas em destaque .. arquitrave (colombia) diálogo entre harold alvarado tenorio & floriano martins FM - ¿Cómo y porque surgió la idea de hacer una revista como Arquitrave? HAT - En Colombia hay muy pocas revistas dedicadas en exclusivo a la poesía. Las mejores sin duda fueron las que hicieron durante los años setentas Elkin Restrepo, José Manuel Arango y Luis Fernando Macías en Medellín. Pero las otras que han existido pecan gravemente por ser instrumentos de envanecimiento, celebran en exclusivo a sus directores y colaboradores. Arquitrave quiere romper esa tradición, publica sólo textos inéditos y circula entre suscriptores, garantizando su independencia de los poderes culturales nacionales que son funestos en el caso colombiano. FM - ¿Puede una revista sobrevivir sólo de suscripciones? HAT - He tratado de que Arquitrave sobreviva solo de sus suscriptores y hasta el momento lo he logrado. No se si en el futuro pueda hacerlo. De allí que extreme la campaña de suscripciones. A pesar de no tener apoyo oficial ni privado algunas entidades culturales nacionales e internacionales me ayudan con la compra de varias suscripciones. Eso sucede por ejemplo con la Biblioteca Luis Ángel Arango o con el Instituto Iberoamericano de Berlín, por citar dos casos solamente. Espero poder contar con mas apoyo en el futuro. FM - ¿Tiene un comité de redacción Arquitrave? HAT - No, yo hago todo el trabajo de recolección y selección de textos, como hago todo el trabajo de diagramación e impresión. Lo único que no hago es el refilado, pero también me ocupo del envío postal. De manera tal que estoy dedicado en exclusivo a esa pequeña aventura. FM - ¿Como elige los textos? HAT - Trato de equilibrar cada número no con mis gustos sino con los niveles de calidad de los textos que logro recoger. Y que me envían los poetas. En cada número hago un pequeño homenaje a un poeta vivo o muerto, y publicó poetas de todas las partes que puedo. FM - ¿Y de Brasil? HAT - Trato de poner un poeta del Brasil en cada edición, pero es difícil. Los traductores, los buenos traductores no abundan. Ahora por ejemplo estoy preparando un homenaje a Alberto da Costa e Silva, uno de los poetas brasileños mas queridos en Colombia, donde fue embajador. Pero en general no mes es fácil esa labor de difundir una poesía tan importante como la brasileña y tan desconocida entre nosotros. Seguiré insistiendo. FM - ¿Que ayuda necesita entonces? HAT - Que los poetas se comuniquen conmigo y que me ayuden a difundir la revista, tanto la impresa como la virtual. Le ruego poner aquí mis direcciones: www.arquitrave.com y [email protected] para que me escriban. Arquitrave, revista colombiana de poesía publicada, impresa y virtual, en Bogotá, por el poeta Harold Alvarado Tenorio, ha cumplido sus primeros dos años de vida. El nombre de la revista parece ser un homenaje al poeta español Jaime Gil de Biedma. Uno de sus poemas de los años sesenta se titulaba precisamente El arquitrabe, una suerte de metáfora de los impedimentos y prohibiciones sociales y eróticos que padecía el poeta bajo el franquismo. Arquitrave se publica cada dos meses y difunde la poesía de todos los tiempos, en especial, la que se escribe en nuestra lengua. A la fecha ha realizado, entre otros viarios, homenajes a poetas como el habanero Gastón Baquero, el sevillano Luis Cernuda, el perseguido político del castrismo Raúl Rivero, el alejandrino Konstandinos Kavafis, el sanonofreño Giovanni Quessep, el chino Bai Juyi, los alemanes Ingeborg Bachmann o Hans Magnus Enzensberger, el indio Mudnakudu Chinnaswamy, el madrileño Luis Antonio de Villena, la uruguaya Cristina Peri Rossi, el palestino Madmud Darwish, el brasileño Affonso Romano de Sant’Anna, la australiana Margie Cronin, el griego Atanasio Niarjos, la sueca Karin Boye o el colombiano Jader Rivera. En el número doce que está en circulación, se celebra al mexicano José Emilio Pacheco, al lusitano Jorge de Sena y al griego Napoleón Lapathiotis. Harold Alvarado Tenório Director Arquitrave, revista de poesía www.arquitrave.com www.arquitrave.com/hatprincipal.htm [email protected] Apartado Postal 1-36 02 81 Centro Internacional Bogotá. D.C. Móvil [310] 324 88 35 . revistas em destaque .. fronteras (costa rica) depoimento de Adriano Corrales Arias La Revista Fronteras nació como un Proyecto de Extensión Cultural del Area de Culturales del Departamento de Vida Estudiantil (DEVESA) del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sede San Carlos, Costa Rica, en el año 1995. Su primer objetivo fue convertirse en un espacio editorial para dar a conocer las distintas investigaciones que venían realizando nuestros docentes e investigadores en torno al ámbito de las Culturas Populares. Pero a medida que se fue desarrollando el proyecto (a partir del tercer número), nos fuimos enterando de la existencia de un vacío en cuanto a revistas culturales costarricenses y centroamericanas, que mantuvieran un perfil intermedio entre la revista especializada y la revista popular, formato que perseguíamos desde el principio. Así, además del énfasis antropológico, histórico y sociológico, nos fuimos abriendo a otros ámbitos como el de la literatura y el arte en general. Por otro lado empezamos a recibir colaboraciones de distintos países latinoamericanos, y más tarde europeos, a los cuales, imprevistamente, fue llegando la revista gracias a amigos y colaboradores. El proyecto se amplió. Hoy mantenemos diferentes secciones permanentes: El Editorial, donde consignamos nuestra posición sobre divversos temas, Tertulia, donde tenemos siempre una entrevista con un invitado especial; Raíces, un espacio para la historia y la cultura popular; Reflexiones, una sección para el ensayo o artículo de fondo sobre la teoría cultural, filosófica, literaria, política, económica o estética en general; Comunidades, espacio para grupos artísticos, étnicos, culturales, etc. y para reseñas literarias y editoriales en general; Trapiche, sección literaria con poesía y cuento; Aduana, sitio donde consignamos las publicaciones recibidas y recomendamos bibliografía; A la Tica, sitio sobre la identidad nacional y su devenir histórico. La revista se financia básicamente con presupuesto del Instituto Tecnológico de Costa Rica y con la venta de sus ejemplares, pero estamos tratando de abrir la venta de publicidad como una colaboración y apoyo a este proyecto editorial. La misma se distribuye en las principales librerías de las ciudades costarricenses de San José, Heredia, Ciudad Quesada y Cartago. Pero también se encuentra en Bibliotecas, Centros Culturales y Salas de Teatro, tales como Giratablas, Café Calicanto en el Ministerio de Cultura, galería Andrómeda, etc en la ciudad capital, San José. Hasta ahora se han publicado 14 números semestrales y ya está en preparación el número 15. Si alguien desea suscribirse o enviar su colaboración lo puede hacer a nuestros teléfonos, fax o apartados postales y electrónicos. Pra colaboraciones se aceptan artículos o narraciones no mayores de 20 cuartillas; en poesía no más de cinco poemas. Agradecemos una breve ficha bibliográfica del autor. Por lo demás, la revista Fronteras no se concibe solamente como una publicación, sino, y es lo más importante, como un Punto de Encuentro y un proyecto cultural que ya ha realizado Tres Encuentros Centroamericanos de Escritores y dos de Poetas Nicaraguenses y Costarricenses, además de diversos recitales, conversatorios, talleres y congresos. El Director y Editor es Adriano Corrales Arias, quien, a nombre del Consejo Editorial y del grupo de trabajo, agradece su atención. …Y como siempre los invitamos para que nos escriban: Apdo. Postal 223-4400, Ciudad Quesada, COSTA RICA. Teléfonos (506) 475-50 33, (506) 475-5063 extensiones 293 o 243; Telefax (506) 475-5085. Correo electrónico: [email protected] o [email protected]. . . revistas em destaque .. salamandra (espanha) apresentação de lurdes martínez Desde finales de los años 80 en que se constituyó el grupo, nuestra actividad se ha reunido principalmente en torno a la revista Salamadra, el periódico ¿Que hay de nuevo? y las ediciones de nuestra editorial La Torre Magnética, además de toda una serie de intervenciones públicas: conferencias, exposiciones, declaraciones colectivas, etc. La revista Salamandra, que podríamos decir es el órgano de expresión del grupo, ha pasado por diversos momentos. Si los primeros números se correspondieron con una etapa de iniciación donde el juego colectivo era la nota dominante, a partir del número 4 hemos perseguido una mayor ambición y riesgo intelectuales. Pero además el deseo de tomar contacto con otras corrientes de pensamiento ajenas pero afines al surrealismo nos ha impulsado a abrir la revista, especialmente a partir del número 8/9, a colaboraciones procedentes de esos campos próximos, tanto en lo que se refiere al pensamiento crítico como a la investigación en el ámbito de lo imaginario. Para el próximo número (11) hemos tomado la decisión de modificar el subtítulo de la revista, que desde el número inicial ha sido Comunicación Surrealista - completado más tarde, primero por el de Imaginario Crítico y, desde el número 8/9, por el de Imaginación Insurgente. Crítica de la vida cotidiana-; ahora será sustituido por Intervención Surrealista, manteniendo los otros subtítulos. Esta decisión responde a una evolución dentro de nuestro propio pensamiento y que atañe a la relación que queremos establecer con el surrealismo: así “comunicación” presupone, a nuestro parecer, fundarse en la posesión acrítica de una verdad de la que se hace partícipe a los demás, que se anuncia, y en este sentido supone avanzar desde una postura ideológica de la que queremos huir completamente. Mientras que “intervención”, desde nuestro punto de vista, lejos de tener el sentido pretencioso de que con nuestras acciones transformemos lo real, implica partir del surrealismo, no como sistema de pensamiento cerrado y determinado donde acudir para encontrar respuestas y soluciones, sino como plataforma desde la que encaminarnos, despojados, a actuar sobre la realidad de una manera experimental. Se podría decir que, a un nivel general, nuestras actuaciones se desarrollan en dos dimensiones que pretenden cierta resolución dialéctica: de una parte, el desenvolvimiento de una reflexión teórica, que partiendo de una postura esencialmente pesimista, se concentra en el análisis crítico de la actual sociedad espectacular, evidenciando sus mecanismos de dominación. De otra, una práctica concretada en intervenciones y experimentaciones (a un nivel colectivo o individual) inspiradas por la imaginación, que son asumidas más como estrategias de resistencia que de transformación, - acompañadas en ocasiones de su correspondiente teorización- que aspiran a quebrar o socavar la normalidad del discurso dominante entendido como incuestionable y que se hallan completamente impregnadas de una intención experimental y lúdica. En el primer apartado podríamos incluir un conjunto de declaraciones colectivas: Hermanos que encontrais bello lo que viene de lejos,(publicado en Salamandra no.6) contra el racismo y la xenofobia, donde denunciamos las construcciones mentales que el poder mantiene y fomenta para que“el otro” siga siendo el enemigo, al tiempo que indagamos en propuestas que se opongan a este estado de cosas, como pudiera ser la elaboración de mitologías o narraciones entendidas como empresas de la vida colectiva “que cohesionan los esfuerzos e individuos...saturándolos de pasiones nuevas y dirigiendolos a proyectos liberadores”(Effenberger, La Civilisation Surréaliste), mitos que ilusionen la conciencia humana y que consigan sustituir “el recelo, el miedo y la cólera por la curiosidad, la aventura y el deseo” (Hermanos...) ; Pleno Margen, a favor de la liberalización de las drogas , que reclama la liberación integral del ser humano y su derecho a desarrollarse en plenitud, abordando el peligro que ello presupone para el poder represor; Hay una luz que nunca se apaga, donde celebramos las huelgas de Corea; Todavía no han parado todos, en contra del deporte y el trabajo, donde exigimos el fin del trabajo y denunciamos la simbiosis entre los modelos del deportista y del trabajador que quieren justificar las exigencias de la economía. Una misma linea de discusión siguen otros textos individuales: Nuevas industrias de la subjetividad, de Jesús García Rodríguez, (Salamandra no.10) que pone en evidencia la manera en que el espectáculo opera en el dominio de lo sensible, convirtiendo los deseos, el placer, las emociones, las subjetividades en mercancías y analiza el papel crucial que la publicidad juega en ese proceso; La negación del espejo, de Eugenio Castro, una crítica de las nuevas tecnologías que se centra en el fenómeno de la pantalla como instrumento de separación que conduce al hombre -que había extraído su fuerza de su relación con la intemperie- a un estado de inmadurez y cobardía, y que sepulta, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, el ciclo vital del tiempo mediante el simple gesto de su encendido. Tiempo de carnaval, de José Manuel Rojo, que intenta desentrañar los mecanismos recuperadores de la publicidad que no sólo vuelven en ofensivas las críticas y propuestas del movimiento revolucionario sino que también las reconvierten en nuevas mercancías o estímulos para el desarrollo de la economía. Por último, las discusiones y debates más recientes en el seno del grupo se han concretado en dos textos colectivos: El falso espejo, que reflexiona sobre el papel de la imagen hoy, convertida en herramienta del poder al apuntalar y reforzar el proceso de desmaterialización de lo real, instrumentalizar lo imaginario y sustituir la vida vivida, pero haciendo al tiempo que este hecho terrible se acepte sin violencia, al aparecer adornada con los ropajes de lo artístico. La orgía de imágenes que nos envuelve y fascina, afecta de modo inevitable a la creacción artística, y a ésta en el seno del surrealismo que, sin renunciar a la creación de imágenes del deseo a un nivel individual, ha de asumir la falta de eficacia de la imagen a un nivel social, debido al problema, no sólo de la recuperación de cualquier imagen subversiva, sino, lo que es peor, de la banalización de toda creacción artística. A esto sigue una reflexión sobre la oportunidad de pensar en nuevas tácticas que logren un diálogo social entre artista y público -habida cuenta de la caducidad del sistema de exposiciones- y la necesidad de ahondar en una renovación del imaginario surrealista que se libere de rasgos identitarios y de inercias especializantes, invocando la indocilidad y la no acomodación y fundandose en la experiencia de lo desconocido. Sin renunciar a la imaginación, se lanza como propuesta la práctica del materialismo poético, que materialice el ensueño utópico satisfaciéndolo en la vida concreta, entendiendo aquí lo imaginario como no separado de la realidad sino fundado en ella. En definitiva se trata de “no contribuir al proceso de fantasmagorización del mundo sino encontrar la fórmula que le permita hacerse real sin realizarse como espectáculo”. Finis Linguae, texto que abre el volúmen colectivo de poemas Indicios de Salamandra, editado por La Torre Magnética-Zambucho Ediciones (Madrid, 2000), aborda la problemática del lenguaje poético, la palabra en libertad y su naturaleza inabarcable, inconmensurable, incomunicable, desobediente, resistente, inasible a la dominación, rebelde frente a cualquier utilitarismo sin olvidar que esa palabra forma parte del lenguaje como actual mecanismo de dominación, de la comunicación de los dueños, Junto a estas elaboraciones teóricas se inscriben una serie de acciones y experiencias dirigidas a “quebrar el espacio apesadumbrado de la vida cotidiana”. Buena parte de nuestra energía se encamina hacia una crítica de la vida cotidiana, a la que nos impulsa el comprobar cómo el capitalismo ha provacado la separación del hombre de la vida en su conjunto, reduciendo y parcelando sus facultades y extendiendo a todos los campos su ética economicista y productivista. Ante esta situación de miseria vital, vemos necesario llevar a cabo la desacreditación de la realidad tal como nos es dada, mediante la vivencia de la poesía, que atenta y altera la percepción que tenemos de lo cotidiano en su expresión más miserabilista y lo somete a una crítica implacable. A un nivel colectivo se situan una serie de intervenciones callejeras que forman parte del “proyecto político de vida poética” desarrollado en el texto Los días en rojo (Salamandra no.7) y que consiste en llevar los impulsos de la poesía a la vida cotidiana y a la práctica revolucionaria: por ejemplo, pintar en las paredes constelaciones imaginarias, modificar el aspecto de ciertas estatuas, simular una procesión de fantasmas entrando y saliendo de un edificio ruinoso y cuya única huella visible son sus zapatos adheridos al suelo, realizar una deriva colectiva con el pretexto de estampar en las calles frases de contenido poético, etc.Esta introducción de elementos perturbadores en el paisaje cotidiano aspira a producir un desconcierto visual y mental que pueda movilizar el aparato afectivo del viandante; se trataría de estimular y practicar “nuevos comportamientos que anuncien el principio de una realidad en agitación. Comportamientos...que vayan cartografiando el paisaje de una subversión mental a gran escala que procure la posibilidad futura de una insurrección generalizada” (Los días en rojo). No obstante, admitiendo los incontables obstáculos que existen para que esto se produzca, contemplamos estas acciones por su absoluta gratuidad, por el simple placer que nos procura su desarrollo. Además, “al nacer de un impulso de la imaginación creadora” reivindican y apelan a “una forma de diversión inventada y libre que se opone a toda forma de deleite alienado y alienante”. Por último, buscamos en todo momento el anonimato y la clandestinidad de estas acciones para evitar que sean asimiladas o reducidas a un aspecto puramente estético. A un nivel más individual responden un conjunto de experimentaciones de lo poético (experiencias de derivas, de azares y encuentros y, en general, vivencias relacionadas con todo el material inconsciente) en las que se esboza o ensaya la posibilidad de otra vida, y hablamos de esbozos de esa vida diferente, porque somos conscientes de la dificultad de que en la actual situación de dominación se pueda manifestar en toda su plenitud, de que la poseamos efectivamente, en todo momento y circunstancia. En concreto en la revista Salamandra la sección Más Realidad. Emblemas de la magia cotidiana. recoge desde el número 5 experiencias de esta índole. Mención aparte merece la atención que hemos prestado a lo concerniente a la naturaleza y el animal salvaje, abordados desde un plano tanto teórico como poético. En Notas sobre ecología y surrealismo, J. M. Rojo (Salamadra no.5) plantea la necesidad de promover, para superar la actual crisis ecológica, una nueva ecología revolucionaria que forje una nueva sensibilidad hacia la naturaleza y el animal, una sensibilidad que recoja las aspiraciones poéticas, imaginativas e inconscientes latentes en todos los seres humanos y que deben proyectarse en la creación de un nuevo mito colectivo movilizador sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Una aproximación pasional hacia la naturaleza lleva a E. Castro en En la montaña del Torcal. Sésamo multiplicado (Salamandra no.4) a criticar el concepto proteccionista que sobre ella ha forjado la visión antropocéntrica, que reduce, anula y manipula el potencial mágico y recreador que recorre la naturaleza en su totalidad. De el animal, ese “Otro Absoluto, explotado, ignorado o perseguido, que arrastra en la sociedad occidental el doble estigma con el que el hombre moderno trata de defender su razón esclavizada: lo últil-lo dañino” (M.Auladen, Qui-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi. Luz Negra no.2), se ocupa el texto colectivo El Continente Fabuloso. Proyecto para un Bestiario Surrealista, (Salamandra no.6) donde se reconoce su absoluta autonomía, despreciando la actitud que conduce a dotarle de atributos humanos y se insiste en la necesidad de dirigir nuestras relaciones con él hacia un plano de reciprocidad, con el fin de recuperar su carácter de ser fabuloso y “emocionante”.La liberación de la vida salvaje es, en definitiva, imprescindible para la liberación del ser humano. Otro ámbito en que nos hemos dedicado de manera especial es el de la crítica al urbanismo como otro de los instrumentos de dominio sobre el espacio físico, que acota y reglamenta el ámbito urbano, lo limita en función de criterios de rentabilidad econónica y convierte a la ciudad en un lugar domesticado que ha perdido su relieve vital, pasional (El espíritu errante. Una introducción al nomadismo del ser seguido de fragmentos para un dossier psicogeográfico, coordinado por J.M. Rojo,Salamandra no.7; El Lugar revisitado.Textos psicogeográficos del Grupo Surrealista de Estocolmo, coordinado por Lurdes Martínez, Salamandra nº.10). Frente a ello nos prodigamos en explorar nuestro entorno más inmediato, buscando recuperar la magia de los lugares, sus potencialidades y particularidades en oposición a la homogeneización y normalización que impone el capitalismo: en El juego de la isla (incluido en El espíritu errante...e inspirado en un juego del Grupo Surrealista de París) asistimos a la emersión de una isla en pleno centro de Madrid, mediante la exploración de esas zonas de la ciudad que poseen una imantación afectiva indiscutible. O bien en oposición al fomento interesado del olvido: en Ruido de cadenas.El sentimiento gótico de la arqueología industrial, J.M. Rojo (en La experiencia poética de la realidad como crítica del miserabilismo. Edic. La Torre MagnéticaLibrería Asociativa Traficantes de Sueños. Madrid, 1997) analiza el proceso de decadencia de las viejas industrias -que forman hoy parte de las ciudades y cuyo único destino es ser demolidas o convertidas en museos- en la economía posindustrial y el posible reencantamiento de las fábricas vacías que se proponen como sustituto contemporáneo de los castillos, espacios donde lo imaginario puede encontrar un nuevo nido y fortalecer el deseo de rebelión de los movimientos sociales que como los okupas reutilizan sus espacios abandonados. Las experiencias de derivas sobre las que E. Castro reflexiona en El nombre ensoñado. La realidad nombrada (Salamandra no.3) y Sólo las horas.(La deriva como experiencia onírica de la realidad y erotización del tiempo) (La experiencia poética...) atañen a la dimensión temporal -más que espacial-de la vivencia de lo maravilloso en este deambular extraviado hacia ningún sitio, extravío que provoca una nueva disposición sensible y mental que altera la percepción que tenemos del entorno y hace que el fluir del tiempo se antoje como en el sueño- distinto al del tiempo instrumental. Tiempo de “emoción pura”, de desocupación total, tiempo extraviado, de placer mental, de ensoñaciones eróticas... En los últimos tres años hemos intensificado nuestros contactos con el entorno radical/alternativo y fruto de ello ha sido la organización de charlas y debates en ciertos puntos del ámbito radical (C.N.T de Barcelona, C.A.O. de Alicante, la librería Liquiniano de Bilbao, Traficantes de Sueños en Madrid), conferencias que han ido acompañadas de pequeñas exposiciones entendidas como mero complemento de aquéllas; esta decisión responde a nuestra actitud de desconfianza hacia el sistema de exposiciones convencional y se perfilaría como un ejemplo práctico de una actividad de resistencia; confiamos además que se dió una correspondencia unificadora entre el discurso teórico y crítico y las obras. Al dar las charlas sobre todo en espacios políticos más que artísticos y al dar más importancia al discurso teórico que a las obras creemos haber conseguido ciertos resultados en tanto en cuanto que comunicación no espectacular. Por otro lado, con ocasión del ciclo de charlas realizadas en la Traficantes del Sueños surgió el proyecto de editar un libro con el contenido de las mismas, titulado La experiencia poética de la realidad como crítica del miserabilismo, que ha sido mencionado anteriormente. Salamandra Revista del Grupo Surrealista de Madrid [email protected] Ediciones de la Torre Magnética Torrecilla del Leal, 21, 1° izq. 28012 Madrid, España . revistas em destaque .. tropel de luces (venezuela) diálogo entre pedro salima & amigos (antonio guerra, luis aníbal velásquez, mirimarit parada, jesús cedeño y eduardo gasca) - La pregunta reglamentaria, ¿cómo surge la idea de crear una revista literaria? PS - Tropel de luces no tiene una fecha fija de nacimiento, creo que se fue dando en el tiempo, desde antes que nosotros pasáramos a formar parte de la directiva de la Asociación de Escritores. Hubo un grupo interesado en publicar una revista, el centro del grupo en aquel momento fue el poeta José Lira Sosa y creo que ese sueño quedó allí, con la idea de hacerse realidad. Una vez que asumimos la directiva de la Asociación de Escritores empezamos a concretar esta idea y luego varias reuniones en el sótano del Museo Francisco Narváez armamos lo que sería Tropel de luces. Tomamos el nombre de un poemario de Víctor Salazar, poeta que nacido en Barcelona, vivió sus años de infancia en la isla de Coche. Es un homenaje a Víctor. Debido a que somos escritores o escribidores, y con eso no basta para hacer una revista, hacía falta la parte económica, y esta se vio concretar con el nacimiento de la Peña Literaria José Lira Sosa, donde al grupo de la Asociación de Escritores se unieron varias personas vinculadas a la literatura, incluyendo a dos compañeras, Clorinda Fuente e Ima Rosa Rivas, que se empeñaron en convencer a algunos empresarios para que dedicaran parte de sus ganancias a participar en una revista literaria que en ese momento no existía. También a través de la Peña Literaria llegó una persona que se encargó de hacer el diseño de la revista. - ¿Cuál es el equipo que inicia la revista? PS - Tendríamos que mencionarnos a nosotros mismos, Luis Malaver, Luis Emilio Romero, Campito, Antonio Guerra, Eduardo Gasca, Luis Velásquez, Chevige Guayke, Gabriel Bulla, Clorinda Fuentes, Ima Rosa Rivas, Juan Carlos Chaperón, y luego se fue integrando otra gente como Maury Valerio, Mirimarit Parada, Oscar Roca, Oscar Rodríguez, Luis Miguel Patiño, Ekaterina Gameley, Omar Galbiati, Adolfo Golindano. Esto nos da una idea de una revista que, independientemente de que se le conozca como la publicación de la Asociación de Escritores del estado Nueva Esparta, va mas allá de esta institución y de la rigidez tradicional en las asociaciones de escritores, las cuales de por sí son pavosas. Creo que esta forma que le dimos a la Tropel de luces, de participación de otras expresiones culturales, ha logrado que se mantenga. El mismo hecho de que hayan participado o participen gente como Chevige Guaike, que nunca fue de la Asociación de Escritores, Antonio Guerra, un ácrata que no se asocia en estas instituciones, Adolfo Golindano, que es pintor, nos indica el grado de amplitud que hemos intentando dar. - ¿La revista Tropel de luces está por encima de la Asociación de Escritores? PS - Sí, y creo que en parte ha sido intencional. Nuestra mayor dedicación ha sido a Tropel de luces, pero no sólo como revista, sino extendida a la publicación de libros, ampliada a la formación de nuevas gente que se acerca a la literatura y puede convertirse en un nuevo autor que escriba en la revista. Colocamos a Tropel de luces por encima de la Asociación de Escritores, a la cual llegamos no para hacer una institución tradicional, sino que tomamos el nombre de la misma, ofrecido por quienes antes la dirigieron. Y Tropel de luces ha sido el resultado de este trabajo y en un momento determinado hemos tenido la intención de dejar que esta revista sea nuestra marca, nuestra huella a nivel nacional. - ¿ Tropel de luces es una revista elitesca? PS - Sigue siendo una publicación que llega a un grupo de personas, no podemos obviar que en este país la literatura es elitesca, pues no todo el mundo la ha asumido como parte de su cotidianeidad. Quizás en la medida de que el ciudadano común se vaya acostumbrando a leer, existirá un mayor acercamiento entre la revista y ese ciudadano. - ¿Se ha rebasado las expectativas con la revista Tropel de luces? PS - Nacimos sin la intención de llegar a quince números, a lo mejor fuimos pesimistas, pero no es fácil hacer quince ediciones de una revista literaria, de hecho nos son muchas las experiencias similares. En eso, creo, la expectativa se ha superado y también en la forma como ha sido aceptada en el resto del país, pese a no contar con una distribución que haga posible que llegue a todos los rincones o por lo menos a los interesados en la literatura en el país; sólo la hemos conectado con otros escritores a través de los encuentros o por medio del correo, y se nos va un dineral en el pago del servicio postal, pero es una forma de hacerla conocer. Es importante decir que la revista no se queda en lo literario, pues cuando se hace una publicación en provincia es muy difícil que la resumas a un sector, pues no hay otros medios de divulgación en el sector cultural y entonces la revista se te convierte en una expresión de lo que es la actividad o el mundo cultural. - ¿Tropel de luces pudiera ser una referencia de vanguardia en la literatura? PS - Creo que es una referencia literaria del estado Nueva Esparta, no a nivel de lo que fue para el país El techo de la ballena o alguna de esas revistas o grupos que nacieron o vivieron en momentos convulsionados, para nosotros el momento es distinto, nos ha tocado una época donde el mundo de la literatura es apacible. No somos una vanguardia. - ¿Qué opinión te merece el contenido de la revista en este contexto histórico? PS - La revista no puede escapar a lo que sucede en el país, independientemente del carácter neutral que pretendamos darle. En su contenido siempre hay una referencia a lo que está pasando en el mundo. - ¿El desorden y la desorganización es el éxito de la revista Tropel de luces? PS - Organizados no somos. Si logramos organizarnos a lo mejor tuviésemos menos problemas a la hora de editar la revista; pero quizás esa organización nos restaría espontaneidad. - ¿Hay elementos particulares en la revista? PS - Hay ciertos elementos dentro de Tropel de luces que le dan alguna particularidad, por lo menos el modo de presentar a los autores. Hemos intentando disminuir el nivel académico, hemos intentado, incluso, quitarle seriedad a la revista, cuestión que no hemos logrado, la revista todavía sigue siendo muy seria para el gusto de algunos de nosotros. Hay muchas cosas que el lector no sabe; de repente está leyendo un texto y puede creer que el autor es la persona que aparece como tal, pero pudiera ser otro, pues quizás uno de nosotros no cumple presentando su texto a tiempo, a lo mejor está consumando una misión en un burdel, entonces lo escribe otro, aunque aparezca con la firma de quien debería escribirlo originalmente. Otro elemento es la frescura que intentamos darle a la revista, queremos una publicación que se lea, que atrape al lector. No tenemos la idea de entregarle a los lectores una revista pesada. Lo más difícil es convencer a la gente que tenga la revista en sus manos, una vez logrado eso el trabajo es más fácil. - ¿Qué es lo más que te llena de la revista Tropel de luces? PS - El equipo que hemos logrado. El interés de cada uno de nosotros, en principio no fue igual en todos, pero poco a poco ese afán se ha ido consolidando alrededor de la revista, Esa es una de las cosas que mas me satisface, la revista ha logrado que el equipo se consolide. La experiencia vivida en la Feria Internacional del Libro en Caracas es una prueba. Recientemente alguien me comentaba la sensación de unidad del grupo que mostramos durante el evento. Algunos nos consideran un clan, otros una mafia. Somos una peña. - ¿Qué elementos nos hace diferente al resto de las revistas literarias? PS - La amplitud. Repito, no nos centrarnos en lo meramente literario. Además en la variedad del contenido. Para muchas personas es importante la separata. Para otros la crónica es de un valor especial. Para otros es el trabajo con los artistas. También hay sorpresas, por ejemplo hay una revista donde se hizo un trabajo sobre Reina Rada como escultora, pues ese texto causó impacto entre los docentes., muchos profesores no vieron a la artista sino a la educadora. Esas cosas le van dando una amplitud a la revista que permite que mucha gente la busque. Hemos notado es que hay personas pendientes que la revista salga para ir a comprarla, se sienten orgullosos de que en Margarita exista una revista de esta calidad. Para ellos es un producto margariteño para el mundo. No voy a decir que esta es una generalidad ni que son muchas personas, pero si las hay. - ¿Margarita se divide ante y después de Tropel de luces? PS - Eso le va a quedar a los historiadores o investigadores. A lo mejor le toca a Efraín Subero, quien en una oportunidad dijo que la Asociación de Escritores de Nueva Esparta no existía, o algún alumno de Efraín. - ¿Pedro, alguna sugerencia que tú consideres importante para mejorar la revista? PS - Hay algunas ideas que se han ido asomando en reuniones. Que la revista en el futuro vaya siendo una especie de memoria cultural del estado. Hacer un trabajo sobre lo que ha sido la danza en Nueva Esparta, lo que ha sido el teatro o la música o el cine, de manera que vaya quedando un registro para las futuras generaciones, aunque eso también nos puede conducir a fomentar la flojera entre los muchachos, pues si les mandan a hacer un trabajo sobre el cine en Margarita van y copian a Tropel de luces y no investigan nada. Claro, esto podrá pasar si no llegamos a tener un gobierno que sepa lo que hace y queme todas las revistas, acción que le correspondería a un gobierno serio: quemar Tropel de luces. - ¿Pedro, con cuál de las secciones de la revista te identificas más? PS - Una de las secciones que más me preocupa cuando va a salir la revista es “Desde la barra”, porque es quizá el espacio más fresco, el que tiene mayor contenido de humor, y otra preocupación permanente es el ensayo, que es lo contrario “Desde la barra”, más serio. - ¿Tú aplicas aquel criterio político de Bertold Brecht “ordenar el desorden y desordenar el orden”? PS - Esa vaina es muy profunda para mí. El desorden viene como una respuesta al orden que siempre se impuso en mi casa y luego el orden que se impuso en el Partido Comunista de Venezuela, donde milité hasta que me soportaron. Ser desordenado para romper con tanto orden, me suena mejor. Hemos intentado que ese desorden se manifieste un poco en nuestras actividades para no hacerlas demasiado rígidas, demasiado serias, ni formales. Ya el hecho al asumir el nombre de la Asociación de Escritores es un peso fuerte con el cual uno tiene que luchar permanentemente para derrotarlo. - ¿Pedro, qué significación tiene para ti las portadas de la revista? PS - La portada para nosotros es un reto, estamos obligados a que sea atractiva, pero aparte de eso el autor de la misma debe sentirse orgulloso del trabajo final. No es original de nosotros en Margarita lo de una obra de arte en la portada, la revista Ínsula lo hizo antes, quizá la única diferencia que nosotros le dedicamos un trabajo al pintor. No sabemos si los artistas se sentirán mas satisfechos con la recompensa que les daba Ínsula porque era en efectivo, nosotros tratamos de compensarlo con un retrato escrito. Los artistas plásticos se han interesado en ir apareciendo en portadas de Tropel de luces, hasta el punto de que ya es una cola bastante larga que espera. Quizás sea porque a uno de los autores de la portada lo sobornamos para que dijera que el cuadro más costoso de su vida lo había vendido después de la aparición de una obra suya en la portada, y los demás lo han creído. - ¿Qué es el Comité Regional Clandestino del que nos habla Ekaterina Gamaely en el editorial de la número 14? ¿Tú formas parte de ese Comité? PS - No sé en absoluto quién forma parte de ese Comité. No sabemos si quienes lo conforman son escritores o no, o son enemigos de la revista. No sabemos si son terroristas, en algún momento hemos pensado que son miembros de Al Qaeda. Lo cierto es que los textos que envían a la revista con la intención de ser publicados pasan por manos de este terrible Comité, hasta los escritos por directivos de la Asociación de Escritores o por miembros de la Academia de la Lengua. Los textos son devueltos a la revista por el Comité Clandestino destrozados, incluso aquellos que van a ser publicados. Hemos pensado en publicar los textos rechazados por el misterioso organismo para ver si los lectores coinciden o no con este Comité. - ¿De quién es la autoría de las notas que aparecen a pie de página? PS - Eso tampoco se sabe, aparecen allí sin que nadie sepa quién las hace. Un detalle que a lo mejor los lectores desprevenido no captan, y es que a un autor se le puede cambiar su sitio de nacimiento cada vez que un texto suyo aparezca en la revista. Hay autores que ellos mismos ya no saben donde nacieron. - Siendo tú un hombre de números, de finanzas ¿cuándo piensa Tropel de luces pagar a sus colaboradores ? PS - Esa pregunta sólo la puede responder el Comité Regional Clandestino. - ¿A qué dirección se pueden enviar los textos para Tropel de luces? PS - En el primer número dimos a conocer las directrices para poder publicar en Tropel de luces, en especial para los miembros de la Asociación de Escritores; y allí se vio que era más difícil que un integrante de la Asociación publicara a que lo hiciese otro escritor. En aquella oportunidad los textos podían dejarse en el restaurant La Ceiba, ahora andamos sin dirección, pero en todo caso pueden dejar los textos en el kiosko de Evelín, aquí en el Paseo Guaraguao. Los debe dejar en un sobre cerrado, sin identificarse, porque si se identifica a lo mejor el texto ni siquiera pasa por manos del Comité Regional Clandestino. Nosotros recogeremos el sobre y lo dejaremos en un sitio donde sabemos que algún día pasará este terrible Comité Regional Clandestino, el cual cada día es más clandestino, en especial cuando se sospecha que es un grupo terrorista. - ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al diseñador a crear el diseño actual de la revista? PS - Yo creo que fue el diseñador que nos llevó hasta allí. Porque en primer lugar él nos impresionó con unas pruebas, y esa situación nos llevó a escoger el papel para la revista. Lo que si le pedimos a Gabriel Bulla, diseñador inicial, fue frescura, aire, blancos, que dieran una sensación de libertad, que la hiciese atractiva a la vista. Por experiencia, en especial por años de una militancia que nos comprometió a leer revistas muy pesadas, sabemos que los textos cuadrados, las páginas llenas de letras, resultan aborrecibles a la hora de ir a leer. - Pedro, hazte una pregunta PS - ¿Qué yo me haga una pregunta? ¿Cuándo se acaba esta güevonada de Tropel de luces? Tropel de luces nació en mayo del año 2000 (segundo trimestre de ese año). Circula trimestralmente, y siempre ha salido dentro de cada trismestre, aunque sea el último día del mismo. Un tiraje de 1000 ejemplares. Lleva 16 números. Empezó con apoyo de la empresa privada, con el cual todavía cuanta, además con el apoyo del CONAC. Cada número es presentado en un acto público. Tropel de Luces Asociación de Escritores del Estado Nueva Esparta y Peña Literaria “José Lira Sosa” [email protected] http://tropeldeluces.tripod.com.ve/ . . revistas em destaque .. iararana (brasil) diálogo entre aleilton fonseca & floriano martins FM - Quando surgiu Iararana e em quais circunstâncias editoriais? AF - Iararana - revista de arte, crítica e literatura surgiu como idéia em novembro de 1995, quando eu, que estava fazendo Doutorado na USP, em São Paulo, passava uns dias no Rio de Janeiro, e, andando ao léo, no aterro do Flamengo, para visitar o MAM, tive um estalo. Eu planejava retornar a Salvador e lembrava que a Coleção dos Novos, de 1981, que lançara vários escritores da minha geração (a chamada Geração 80), eu, inclusive, faria 15 anos em 1996. E que devíamos comemorar isso e lançar uma revista que marcasse essa geração. Em janeiro de 1996, já residindo em Salvador, procurei o contista Carlos Ribeiro, companheiro da Coleção dos Novos, e falei da necessidade de comemorarmos os 15 anos da coleção (que lançou 14 autores), com a criação de uma revista que nos representasse. Para minha surpresa, Carlos Ribeiro havia tido a mesma idéia da comemoração e da criação de uma revista. Resolvemos então reunir o pessoal e organizar uma coletânea com os 14 autores publicados pela Coleção dos Novos. Foi assim que surgiu o livro Oitenta - poesia e prosa, com textos de todos, e que foi lançada com grande sucesso. Daí Carlos e eu lançamos a idéia da revista aos demais companheiros de geração. Discutimos, eu redigi o projeto, aprovamos, saímos em busca de patrocínio. Somente em 1998, conseguimos lançar a Iararana n° 1, hoje esgotada, uma raridade (compramos exemplares de quem quiser vender). O jornalista e design Ney Sá fez o projeto gráfico, mantido até hoje. As primeiros editores foram Carlos Ribeiro, Elieser Cesar e eu. Hoje, a editoria está composta por Carlos Ribeiro, José Inácio Vieira de Melo e eu. Desde seu surgimento, a revista assumiu uma postura aberta, sem grupismo, sem sectarismo literário, e ganhou prestígio imediatamente. FM - Qual a razão de seu nome? AF - O nome é uma homenagem ao poeta baiano Sosígenes Costa (nascido em Belmonte, em 1901, falecido no Rio em 1968). Discutimos bastante sobre o nome e aprovamos, por maioria, a minha sugestão: Iararana (que significaria: aquela que tem a aparência de Iara, a divindade indígena dos rios) provém do título do longo poema primitivista, escrito em 1934, só publicado em 1979, em edição preparada por José Paulo Paes, que fez a fixação do texto. Este poema merece figurar ao lado de Cobra Norato, de Raul Bopp, e de Macunaíma, de Mário de Andrade, pelo tema e pela representação mítico-poética de nossas origens étnicoculturais. O fato é que nós queríamos um nome propositivo, que não fosse apenas uma homenagem a um escritor já entronizado no cânone. Sosígenes Costa estava esquecido, podíamos trazêlo à tona com a revista. Sosígenes Costa era avesso à publicidade pessoal, recatado mesmo. Por insistência dos amigos, publicou em vida apenas a Obra Poética, pela editora Leitura, em 1959. O livro recebeu o Prêmio Jabuti de 1960 (SP) e o Prêmio Paula de Brito (RJ). Logo esquecido, o autor foi redescoberto no final dos anos 70 por José Paulo Paes, que lhe dedicou o ensaio crítico Parlenda, pavão, paraiso (Cultrix, 1977), junto com uma antologia. Paes preparou também a edição de Obra poética I e a inédita Obra poética II, num só volume(Cultrix, 1978) e a edição, ilustrada do Aldemir Martins, do poema Iararana (Cultrix, 1979). Depois disso, o nome do poeta baiano submergiu novamente. Em 1996, Gerana Damulakis publicou o ensaio Sosígenes Costa, o poeta grego da Bahia. No centenário de Sosígens Costa, em novembro de 2001, a edição de Iararana 7 foi totalmente dedicada ao poeta. Houve mesas-redondas, palestras, publicações, matérias em jornais. A partir daí o poeta tem sido cada vez mais lido e estudado em ensaios, artigos e dissertações universitárias. Já se publicaram alguns livros sobre sua poesia. Em 2001, o Conselho Estadual de Cultura da Bahia publicou a Poesia completa do autor, com mais de 500 páginas. A revista Iararana contribuiu para este ressurgimento do poeta. FM - Como a revista convive com outros projetos similares na Bahia e também todo o país? AF - Iararana é a única revista da Bahia feita por autores. Ela não é ligada a nenhuma instituição. Desde a n° 1 até a n° 10, que sai em dezembro próximo, temos obtido apoio de empresas e instituições culturais, com isso garantimos a sua existência. Agora, as revistas no Brasil são muito isoladas umas das outras. Cada uma nasce e desaparece sem dialogar com as outras. Então não há intercâmbio, o que poderia fortalecer estas publicações, compartilhando condições de divulgação e público. Uma associação das revistas de literatura poderia conseguir muita coisa. Por incrível que pareça, Iararana faz intercâmbio e parceria com uma revista francesa, bilíngüe, a Latitudes: cahiers lusophones, editada em Paris para divulgar cultura de língua portuguesa. Iararana 8, de 2003, traz um dossiê em comum com a franecesa Latitudes, que, por sua vez, tem republicado alguns textos, informações e ilustrações nossas. Já lançamos Iararana em Paris e em Budapeste, Iararana 8 foi enviada, junto com Latitudes, para vários departamentos de língua portuguesa de universidades francesas e para outras entidades culturais interessadas na cultura lusófona. Juntas, as duas revistas já participaram de exposições, eventos literários, etc. Agora em setembro, estarei na França, participando do Colloque International Le Romantisme Aujourd'hui, na Université FrançoisRabelais, em Tours, e vou levando Iararana 8 e 9 na bagagem para lançar no evento, que terá gente de vários países. Entre outros, estarei numa mesa, ao lado do pai do Nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, e isto será muito interessante. Darei Iararana 8 e 9 a ele. FM - Qual a situação atual da revista, em termos de conquistas, dificuldades, novos planos etc.? AF - A dificuldade é a de sempre, a escassez de apoio, a falta de patrocínio contínuo, falta de mais tempo disponível para dedicar à revista. Afinal, somos todos muito ocupados. Mas, de 1998 até 2004, conseguimos editar 10 números. Uma sobrevida considerada longa para a média das revistas literárias não comerciais. Iararana figura em várias bibliotecas e coleções por aí. Já foi citada e referenciada até em teses universitárias. E as conquistas são muitas: prestígio para os autores envolvidos, um lugar no panorama literário, a revelação de novos autores, a convivência de escritores de diferentes gerações e de diferentes lugares. O nosso plano é expandir os contatos nacionais e sobretudo internacionais. Já publicamos autores da Espanha, Eslovênia, Argentina, Portugal, Estados Unidos, França etc. Em 2005, a Iararana 11 trará um dossiê dedicado à Literatura Galega (Espanha) em parceria com o PENCLUBE da Galícia. Nosso plano é continuar fazendo uma revista ativa, aberta, dinâmica, comunitária. FM - Iararana circula em versão apenas impressa ou há também um módulo virtual? AF - Até o momento, a revista tem versão apenas impressa. Existe a vontade de colocá-la no cyberespaço, mas por hora nos falta tempo e coragem suficientes para o desafio. Manter uma revista no ar exige uma disponibilidade de tempo e de pessoal que talvez em 2005 consigamos ter. Vamos discutir isso e procurar uma parceria que possa sustentar o projeto. FM - Qual a sua tiragem e como funciona sua difusão? AF - A revista tira apenas hum mil exemplares. Assim, a sua divulgação é bastante seleta, nos meios literários, entre escritores, professores universitários, bibliotecas, imprensa especializada, etc. FM - Como vês as possibilidades da Internet como ferramenta aplicada à cultura? AF - A internet é uma ferramenta fantástica. Um número incalculável de informações, de textos literários, de estudos críticos… tudo isso posto à disposição de um público incontável… É a grande revolução do século, que deixa muita gente ainda confusa, tonta, desconfiada, mas que é imprescindível como suporte de divulgação cultural massiva. Iararana – Revista de arte, crítica e literatura Editores: José Inácio Vieira de Melo, Aleilton Fonseca e Carlos Ribeiro Rua Rubem Berta 267/402 – Pituba Salvador BA 41820-220 BRASIL Contato: [email protected] . . revistas em destaque .. amauta (peru) ensaio de carlos arroyo reyes En el Perú que José Carlos Mariátegui (18941930) encuentra en marzo de 1923 -cuando retorna de Europa- no se sabe casi nada sobre la nueva literatura rusa. Como si las agujas del reloj del tiempo se hubiesen detenido en el momento de la caída del zarismo o el triunfo de Lenin y los bolcheviques no hubiese provocado ningún cambio cultural de importancia, muchos intelectuales peruanos todavía creen que la literatura rusa se reduce a Miguel Arzibachev o Leonid Andréiev y casi nadie conoce siquiera los nombres de Alexandr Blok, Andrei Bieli o Valeri Briúsov, los tres grandes representantes del simbolismo ruso que se adhieren a los Soviets y pertenecen al ciclo de la literatura rusa de la revolución. Tampoco se sabe nada acerca de Vladímir Maiakovski y los otros poetas futuristas que apoyan decididamente a los bolcheviques y cantan a la revolución, ni de Serguéi Esenin y los imaginistas o de Anna Ajmátova y el acmeísmo. De ahí que, aún a comienzos de 1925, en un artículo sobre Iliá Ehrenburg y la nueva literatura rusa, Mariátegui comente lo siguiente: «El escritor ruso Iliá Ehrenburg, cuyo temperamento artístico habíamos apreciado ya en la traducción francesa de su libro Juno Jurenito y en algunas de sus Historias inverosímiles, nos ha dado últimamente una prueba de su aptitud crítica en un sustancioso ensayo sobre la literatura rusa de la revolución. El tema es, sin duda, interesante, sobre todo para un público a quien no ha llegado de la literatura rusa nada posterior a Gorki, Arzibachev, Andréiev y Merezhkovski y para quien son todavía ignotos Briúsov, Bálmont y Blok». (1) La misma preocupación aflora en una carta que por esa fecha Mariátegui le escribe a su amigo Ricardo Vegas García, Jefe de Redacción del semanario Variedades, donde muestra su extrañeza ante el hecho de que muchos intelectuales peruanos todavía crean que la novísima literatura rusa es la de Andréiev: «Puede ser que se consiga usted también, en su búsqueda en las revistas extranjeras, retratos de Vladímir Maiakovski, de Boris Pilniak, de Andrei Bieli, de Ehrenburg, de Alexandr Blok, etcétera, para un artículo sobre la nueva, o mejor, la novísima literatura, ya que para muchos la nueva es todavía la de Andréiev» (2). Mariátegui no exagera cuando a mediados de la década del veinte las emprende contra aquellos que todavía creen que la nueva literatura rusa es la de Andréiev o la de Arzibachev. Conocido como «el apóstol de las tinieblas», Andréiev es uno de los más grandes escritores profesionales de la Rusia de la preguerra. Lejos de inscribirse en los rangos de la nueva literatura que insurge con la Revolución de Octubre, es un típico novelista y dramaturgo fin de síècle que se siente atraído por los tonos sombríos del decadentismo y hace gala de una morbosidad que tiene algo en común con las cavilaciones de Fiódor Dostoievski sobre el sentido del mal. Escribe diversas obras narrativas como La risa roja, Los siete ahorcados, La voz de la carne o Sacha Yegulev. De estas obras, la que prácticamente lo lanza a la fama es Los siete ahorcados, que aparece en 1908 y se agota al cabo de unos cuantos días. También incursiona en el teatro y compone piezas de la calidad de Hacia las estrellas, La vida del hombre o Judas. En sus inicios, Andréiev se muestra rebelde y misántropo e incluso es encarcelado por sus actividades políticas, pero después se transforma en un conservador que apoya la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, ataca a la Revolución de Octubre y cruza la frontera con Finlandia, para desde allí escribir apasionadas denuncias contra Lenin y los bolcheviques. En marzo de 1919 lanza un desesperado llamamiento para que los aliados intervengan en Rusia y acaben de una vez con los Soviets. Fallece al poco tiempo, a raíz de un ataque al corazón (3). Arzibachev es otro de los escritores rusos que goza de mucha popularidad en el período previo a la guerra. Dominado por el culto al sexo, la muerte y la desesperación, escribe una serie de libros como La muerte de Iván Lande, Millones, Sanin, El límite o La tumba de las vírgenes. La obra que prácticamente lo saca del anonimato es Sanin (1909), cuya publicación provoca un escándalo similar al que cincuenta años después suscita El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. Se dice que varios de los discípulos de Arzibachev, después que leen sus cuentos y novelas, donde el fenómeno del suicidio aparece como un motivo común, llegan a quitarse la vida. También confecciona diversas piezas teatrales como Celos, La ley del salvaje o El mal. Arzibachev se inicia como un bohemio rebelde, pero, al igual que Andréiev, termina oponiéndose a la revolución y se refugia en Polonia, desde donde anima la publicación de un semanario que se distingue por sus ataques a la causa soviética. Muere en 1927, cuando la estrella de la fama y la popularidad ya lo ha abandonado (4). Andréiev y Arzibachev llegan a tener una gran influencia en España y América Latina. Tanto que hasta los integrantes de la llamada «generación del año 20», que son los que acusan el impacto directo de la Revolución de Octubre, tienen problemas para romper con el embrujo del naturalismo y el sexualismo de estos dos escritores rusos. Así, en ese hermoso libro de memorias que es La arboleda perdida, el gran poeta español Rafael Alberti deja constancia de la profunda impresión que a comienzos de los años veinte le causa la lectura de la novela Sacha Yegulev, de Andréiev, que le regala un pariente suyo que trabaja en una conocida casa editorial: «Extremadamente cariñoso conmigo -recuerda Alberti-, Luis me recibía en su oficina de la casa Calpe, editorial en la que trabajaba. A él debo el aumento de mi cultura literaria, pues, siempre generoso, rara era la mañana que no volvía a casa con un montón de libros bajo el brazo. Aquella colección Universal, de pastas amarillentas, nos inició a todos en el conocimiento de los grandes escritores rusos, muy pocos divulgados antes de que Calpe los publicara. Gógol, Goncharov, Korolenko, Dostoievski, Chéjov, Andréiev... me turbaron los días y la noche. Hubo una novela, entre todas, que impresionó profundamente a la juventud intelectual española, sobre la que soplaban ráfagas fuertes de anarquismo: Sacha Yegulev, de Andréiev, autor que por aquellos años había muerto en Finlandia, lejos de la revolución de Lenin, que no alcanzara a comprender. Yo figuraba entre esos jóvenes a quienes la juventud heroica y aventurera de Sacha quitó el sueño» (5). Por la misma época en que Alberti y otros jovénes españoles se estremecen con la lectura de Sacha Yegulev, de Andréiev, las novelas de Arzibachev inundan las librerías de América Latina y son prácticamente devoradas por la «generación del año 20». En Chile, por ejemplo, Sanin, el personaje central de la popular novela de Arzibachev, es tomado como modelo por los anarquistas, los poetas y los estudiantes. Otro tanto ocurre con Andréiev, que es el escritor de moda. Sus novelas -La risa roja, Los siete ahorcados, La voz de la carne o Sacha Yegulev- pasan de mano en mano e inquietan el sueño de muchos jóvenes latinoamericanos. Algunos de ellos, como Pablo Neruda, se sienten tan identificados con Andréiev, que cuando empiezan a escribir sus primeros artículos de crítica literaria -en 1923, para la revista Claridad- firman con el seudónimo de Sacha, tomado de la novela Sacha Yegulev. Por ese entonces, Neruda también lee con fruición El océano, del mismo Andréiev, que tanto influye en su obra El habitante y su esperanza (6). En el Perú, en mayo de 1923, tibios aún los últimos rescoldos de su pasión juvenil por este tipo de literatura decadentista y finisecular, el mismo Mariátegui declara que en materia de prosa su predilección se divide entre Máximo Gorki y Leonid Andréiev (7). De modo que cuando Mariátegui las emprende contra los que todavía se sienten deslumbrados por la literatura de Andréiev y Arzibachev quizás también está terminando de ajustar cuentas consigo mismo o, mejor, con lo que aún queda de su denominada «edad de piedra». La oportunidad para este deslinde se presenta a mediados de abril de 1927, cuando escribe un artículo sobre Arzibachev, que justo por esos días acaba de fallecer. En este texto, Mariátegui parte de una constatación fundamental: que, dentro de la historia de la literatura rusa del novecientos, Andréiev y Arzibachev ocupan un lugar menos importante que otros contemporáneos suyos, como, por ejemplo, Fiódor Sogolub, que es uno de los primeros exponentes del simbolismo ruso. A partir de esta premisa, Mariátegui trata de discutir la cuestión de por qué, a nivel mundial, Andréiev y Arzibachev llegan a gozar de un renombre un tanto desproporcionado. Su idea es que la fama mundial de Andréiev y Arzibachev se debe a que éstos logran aprehender, desde el plano de la ficción, en novelas que tienen más que nada el valor de documentos psicológicos, antes que de creaciones artísticas, todo ese estado de ánimo de desolación, frustración y escepticismo en que, tras la derrota de la revolución de 1905, cae un buen sector de la intelighentsia rusa: «El mundo de Arzibachev -escribe Mariátegui- es generalmente menos atormentado y patético que el de Andréiev, pero tiene la misma filiación histórica. Su sensibilidad se emparenta asimismo, bajo algunos aspectos, con la de Andréiev. Escéptico, nihilista, Arzibachev resume y expresa un estado de ánimo desolado y negativo. Sus personajes parecen invariablemente condenados al suicidio. Suicidas larvados y suicidas latentes, hasta los del coro mismo de sus obras. El destino del hombre es, en este mundo lívido, ineluctablemente igual. El símbolo de la Rusia agoniosa, una horca. Esta literatura reflejaba la Rusia de la reacción sombría que siguió a la derrota de la revolución de 1905. Estudiantes tuberculosos, judíos alucinados, intelectuales deprimidos, componían la escuálida y monótona teoría que desfila por las novelas de Arzibachev bajo la sonrisa sarcástica de algún nietzschano de similor que acabará también suicidándose» (8). Pero la Rusia lívida, enferma y sombría de las novelas de Andréiev y Arzibachev no es toda la Rusia de ese tiempo. Resulta que el movimiento de 1905 no es sólo una derrota, sino también una extraordinaria experiencia que es debidamente aquilatada por aquellos hombres que más tarde, en 1917, despliegan victoriosamente la bandera de la revolución sobre el Kremlin. Desgraciadamente, esa otra faz de Rusia -la de la ilusión y la esperanza- no puede ser conocida ni entendida por Andréiev y Arzibachev. Incluso, cuando el último de ellos pretende diseñar un héroe, su imaginación no va más allá de un personaje como Sanin, que aparece como un fruto de la filosofía individualista y anarquizante de Max Stirner y las ideas de Friedrich Nietzsche sobre el «super-hombre». Como dice el propio Mariátegui: «Cuando [Arzibachev] pretendió crear un héroe, su imaginación de pequeño burgués individualista inventó a Sanin, un superhombre de provincia que no sostiene ninguna lucha -ni siquiera una auténtica agonía interior- y que exhibe como única prueba de su superioridad las victorias de su instinto fuerte y de su cuerpo lozano de animal de presa» (9). La situación de Arzibachev también le permite a Mariátegui discutir la cuestión un poco más general de por qué gran parte de los escritores rusos que pertenecen al ciclo del decadentismo y el simbolismo, no obstante que en sus inicios hacen gala de cierta rebeldía, terminan oponiéndose a la Revolución de Octubre. Así, pensando sobre todo en los decadentes y los simbolistas rusos que en el San Petersburgo de comienzos del siglo XX se agrupan alrededor de las figuras de Dimitri Merezhkovski y Zinaída Hippius, escribe: «Arzibachev era un representante de la intelighentsia, como se llama en Rusia, más que a una élite o una generación, a un ciclo o una época de la literatura nacional. La intelighentsia era confusa y anáquicamente subversiva más bien que revolucionaria. Se nutría de ideales humanitarios, de utopías filantrópicas y de quimeras nihilistas. Cuando la revolución vino, la intelighentsia no fue capaz de comprenderla. No era la revolución vagamente soñada en los salones de Madame Zinaída Hippius entre la musitación exquisita de un poeta simbolista y las fantasías helenizantes de un humanista erudito. El pobre Arzibachev, como otros representantes de la intelighentsia, se apresuró a protestar. Con un ardimiento de pequeño burgués desencantado, combatió la Revolución que llegaba armada de dos fuerzas que Arzibachev no conoció nunca y negó siempre: la ilusión y la esperanza. Por esto, sobreviviente de sí mismo, exiliado de la historia, le ha tocado morir melancólicamente en Varsovia. Sobre la estepa rusa no se dibuja ya como antes el perfil de siete horcas» (10). En otra parte de su artículo sobre Arzibachev, como algo que no le compete directamente, Mariátegui lanza este comentario: «Se dice que Sanin, que extremaba y exasperaba la tragedia rusa hasta lo indecible, produjo una reacción oportuna. Muchos jóvenes revolucionarios se reconocieron estremecidos en los retratos de Arzibachev. Después de sentirse impulsados enfermizamente hacia la muerte y la nada, las almas volvieron a sentirse impulsadas hacia la vida y el mito» (11). No se necesita ser muy zahorí para descubrir que aquí Mariátegui -aunque se refiere a los jóvenes rusos que logran superar la derrota de la revolución de 1905- también está hablando de él y los otros integrantes de su generación que, en algún momento de su juventud, se estremecen con las novelas de Andréiev y Arzibachev y no pueden dormir durante varias noches. El virtual desconocimiento de la nueva literatura rusa que tanto preocupa y angustia a Mariátegui tiene mucho que ver con un factor que es más cultural que político: la barrera del idioma. Por la época en que el autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928) retorna a Lima, la literatura rusa de la revolución todavía no ha empezado a ser traducida al español. Eso ocurre recién a partir de la segunda mitad de la década del veinte, cuando varias editoriales españolas, como M. Aguilar, la Biblioteca de la Revista de Occidente, Ediciones Biblos, Ediciones Oriente, Cénit y Espasa-Calpe, empiezan a traducir y publicar algunas de las obras más representativas de la literatura rusa de la revolución. Así, en 1925, M. Aguilar publica el libro Literatura y revolución, de León Trotski, que aborda, entre otros temas importantes, la situación del arte anterior a la Revolución de Octubre, el problema del encuentro -y los desencuentros- entre el futurismo y la revolución, el asunto de la relación entre la escuela formalista de poesía y el marxismo, la cuestión de la existencia del arte proletario, y la posición de los bolcheviques ante el arte. En 1926, gracias a la iniciativa de la Biblioteca de la Revista de Occidente, circulan las traducciones al español de Los tejones, de Leonid Leónov, Caminantes, de Lidia Seifulina, y Tren blindado número 14-69, de Vsevolod Ivánov. En ese mismo año, Espasa-Calpe publica el libro La nueva Rusia, de Julio Alvarez del Vayo, donde aparecen -traducidos al español- algunos fragmentos de la obra poética de Vladímir Maiakovski, Anna Ajmátova, Serguéi Esenin y Alexandr Blok. Entre los textos poéticos, figuran «La canción del perro», que es uno de los poemas más bellos y característicos de Esenin, y algunos de los versos de Los doce, de Blok, que es una de las obras más representativas del ciclo de la Revolución de Octubre. El autor de estas traducciones de Maiakovski, Ajmátova, Esenin y Blok como el mismo Alvarez del Vayo se encarga de informar a sus lectores- es Enrique Díez-Canedo (12). Sin embargo, el proceso de traducción al español de la nueva literatura rusa aún es lento, por lo menos en comparación con lo que ocurre en Francia o Italia, donde se pueden encontrar hasta revistas -como Russia, de Ettore Lo Gatto- que se dedican exclusivamente a traducir y difundir a los escritores rusos de la revolución. Por eso, a comienzos de 1927, Mariátegui saluda a la Revista de Occidente por su iniciativa de publicar las novelas de Leónov, Seifulina e Ivánov, pero aclara que aún es muy poco lo que se ha hecho con respecto a la traducción al español de la nueva literatura rusa. Su idea es que, para tener una visión panorámica de la literatura rusa de la revolución, también se debe leer a autores como Vladímir Maiakovski, Alexandr Blok, Valeri Bríusov, Boris Pasternak, Serguéi Esenin, Boris Pilniak, Isaak Bábel o Konstantín Fedin, que todavía no han sido traducidos al español: «Empieza -escribe- a ser vertida en español la nueva literatura rusa. (Ya se sabe que la nueva literatura rusa no es la de los "emigrados" sino la de la Revolución. La que se alimenta de la savia, la emoción, el impulso, el sentimiento del orden nuevo). La Biblioteca de la Revista de Occidente ha publicado el Tren blindado de Vsevolod Ivánov y Caminantes de Lidia Seifulina. Esto, claro está, es todavía muy poco. Sólo después de conocer a Pilniak, Bábel, Maiakovski, Esenin, Fedin, Zamiántin, Lunts, Pasternak, Tikhonov, Leónov, Ehrenburg, etcétera, podrá el lector hispano enjuiciar panorámicamente la literatura rusa de la revolución. De los propios literatos del período anterior a la Revolución, tal vez los más representativos permanecen aún inéditos en español. Mencionaré a Blok, Bríusov, Remisov y Bieli. Y su conocimiento es necesario como introducción en la literatura postrevolucionaria, a la cual Blok, Bríusov y Bieli han dado su aporte, mientras Remisov, hostil al bolchevismo, ha extraído, sin embargo, de la nueva vida rusa, los temas de sus últimos trabajos» (13). El proceso de traducción al español de la literatura rusa de la revolución mejora un poco más durante los últimos años de la década del veinte, particularmente en lo que se refiere a obras narrativas. En 1927, al poco tiempo que Mariátegui escribe su comentario sobre la forma tan lenta en que avanza la difusión en español de la nueva literatura rusa, Ediciones Biblos publica Caballería Roja, de Isaak Bábel, que es uno de los libros de cuentos más hermosos, estremecedores y perdurables de la literatura rusa de la revolución, y Las ciudades y los años, de Konstantín Fedin. Al año siguiente, Ediciones Oriente entrega a la imprenta una nueva obra de Fedin: Los mujiks; mientras que la Editorial Cénit lanza al mercado un libro que causa un tremendo impacto entre los lectores de habla española y rápidamente se convierte en una suerte de emblema del emergente «realismo proletario»: la novela Cemento, de Fedor Gladkov. Por ese entonces, la Biblioteca de la Revista de Occidente también publica El farol, de Eugenio Zamiátin. En 1929, Espasa-Calpe pone en circulación El diario de Costia Riabtsev, de Nicolás Ognev; en tanto que Ediciones Europa-América hace lo mismo con La derrota, de Alexandr Fadéiev (14). Este ciclo prácticamente se cierra con Rusia a los doce años, el nuevo libro de reportajes de Alvarez del Vayo, que también aparece en 1929 y contiene abundante y valiosa información sobre la literatura, el teatro y el cine soviéticos. En esta obra, entre otras cosas memorables, Alvarez del Vayo transcribe parte de sus conversaciones con Boris Pilniak, que aparece como una especie de «diplomático» de la nueva literatura rusa, y con Sergej Eisenstein, el director de un filme que con el paso de los años se convierte en una de las obras cumbres de la cinematografía mundial: El acorazado Potemkin (15). Poco tiempo después, refiriéndose al avance que durante el segundo lustro de la década del veinte se observa en el proceso de tradución al español de la nueva narrativa rusa, George Portnoff escribe: «Actualmente -dice- están apareciendo en España autores rusos, hijos de la Revolución, y sus obras, como es natural, son también fruto de la Revolución. La Revista de Occidente publicó hace poco El tren blindado número 14-69, de Vsevolod Ivánov; Caminantes, de Lidia Seifulina; Los tejones, de Leonid Leónov; El farol, de Eugenio Zamiátin. En las Ediciones Biblos apareció Las ciudades y los años, de Konstantín Fedin, y otros como Cemento, que ha hecho gran sensación» (16). La crítica en español Otro factor que se opone a la adecuada difusión de la nueva literatura rusa en el mundo de habla española es la critica un tanto equivocada de los pocos escritores españoles que se ocupan de ella. Esos son los casos de Cristóbal de Castro, de La Libertad, de Madrid, y, en cierta forma, de Ricardo Baeza y Luis de Zulueta, asiduos colaboradores de una publicación española que tiene cierta influencia en la «formación de minorías» en América Latina: la Revista de Occidente. Al igual que los animadores de la Revista de Occidente -que llegan a difundir las obras de Ivánov, Seifulina, Leonov y Zamiátin-, Baeza y Zulueta se interesan por el fenómeno cultural ruso (17). Incluso, en algún momento de su vida -allá en 1922-, el primero de ellos colabora activamente con la misión de socorro que patrocina el explorador y naturalista noruego Fridtjof Nansen con la finalidad de llevar ayuda a los habitantes de Ucrania y el Volga (18). Pero, por sus mismos prejuicios políticos, tanto Baeza como Zulueta no pueden entender ni apreciar adecuadamente las consecuencias del fenómeno bolchevique en el arte. De allí que Mariátegui polemice con ellos en diversas ocasiones. Así, refiriéndose al ensayo «El nuevo teatro en la Rusia soviética», que en 1924 Baeza publica en la Revista de Occidente, Mariátegui escribe: «El lector hispanoamericano -dice- no puede llegar por la sola vía del español a la literatura rusa de la post-guerra. En español, de este tema no nos ha hablado, con conocimiento y con simpatía, sino Julio Alvarez del Vayo. En la Revista de Occidente, Ricardo Baeza dedicó hace algún tiempo un artículo al teatro ruso; pero, aparte de que se limitaba a reflejar las impresiones de un escritor inglés, y de que su evidente humor anti-revolucionario lo inhabilitaba para entender y apreciar las consecuencias del fenómeno bolchevique en el arte, enfocaba en su artículo sólo un género literario, tal vez el que menos ha podido desarrollarse dentro de la situación creada por la Revolución» (19). En otra ocasión, comentando el trabajo «El enigma de Rusia», que en 1926 Zulueta publica en la Revista de Occidente, Mariátegui se ve obligado a refutar la hipótesis de que en el acento apocalíptico y extremista de los bolcheviques se solapa el misticismo y la neurosis de Dostoievski. Su idea es que esta suposición de Zulueta, antes que sustentarse en un estudio sobre la nueva literatura rusa, se apoya en el prejuicioso concepto de José Ortega y Gasset de que la revolución rusa, en el fondo, no es una revolución europea, sino «un misticismo oriental»: «El misticismo, la neurosis, la exasperada búsqueda de infinito y de absoluto, que hallan su más fuerte y patética expresión artística en la obra de Dostoievski -escribe el peruano en 1929, en un artículo sobre un libro que Stefan Zweig le dedica al autor de Los hermanos Karamazov-, eran estimados como los factores morales de la Revolución, que debería a esos factores su acento apocalíptico y extremista. Recuerdo que hace tres años, Luis de Zulueta, en un ensayo de la Revista de Occidente, sobre "El enigma de Rusia", que debía su primera inspiración a Ortega y Gasset, barajaba todavía estos motivos, suscribiendo, a pesar de advertir el programa marxista y occidental de la Revolución, el concepto de Ortega de que ésta "no era, en el fondo, una revolución europea, sino un misticismo oriental"» (20). En otra parte de este mismo artículo, como corrigiéndole la plana a Zulueta y Ortega y Gasset, Mariátegui acota que no existe ningún tipo de vínculo entre Dostoievski y los bolcheviques. Resulta que éstos, al representar la fuerza de una voluntad realizadora y operante, aparecen como la superación de aquello que es tan característico en la novela dostoievskiana: la angustia, la desesperación, el misticismo nihilista. Como él mismo dice: «Dostoievski tradujo en su obra la crisis de la inteligencia rusa, como Lenin y su equipo marxista se encargaron de resolver y superar. Los bolcheviques oponían un realismo activo y práctico al misticismo espirituoso e inconcluyente de la inteligencia dostoievskiana, una voluntad realizadora y operante a su hesitación nihilista y anárquica, una acción concreta y enérgica a su abstractismo divagador, un método científico y experimental a su metafísica sentimental» (21). La situación de Cristóbal de Castro es un tanto diferente a la de Baeza y Zulueta. En su caso, se trata no sólo de simples prejuicios políticos, sino de una franca posición antisoviética. Al menos, eso es lo que se desprende de la lectura de su artículo «El hombre y los ex-hombres», que a mediados de 1928 publica en La Libertad, de Madrid. En este texto, el critico español exhuma las más mendaces versiones acerca de la actitud de Gorki ante los Soviets e incurre en la ligereza de comentar Los Artamonov, su novela más reciente, sin haberse tomado siquiera el trabajo de leerla. Así, en una parte de su trabajo, sostiene equivocadamente que el asunto y los personajes de Los Artamonov tienen que ver con el problema del «comunismo» en Rusia: «En Capri, junto al mar azul -escribe Castro-, el apóstol de los ex-hombres fue metodizando sus cóleras por la reflexión y sus juicios por el documento hasta dar en su libro Los Artamonov, un robusto resumen del comunismo a través de tres generaciones: el mujik, de la época de los siervos; el industrial dilapidador de la época zarista y el revolucionario bolchevique. Generación aldeana y crédula. Generación industrial y ambiciosa. Generación revolucionaria y tiránica. Las tres generaciones de Artamonov no sólo se dañaron a sí mismas, sino que quitaron la fe y la paz a los siervos, a los mujiks, a los obreros de toda Rusia» (22). Casi por la misma época en que La Libertad difunde el mencionado artículo de Castro, Mariátegui termina de leer la traducción al italiano de Los Artamonov, que publica la Editorial Fratelli Treves, y escribe un comentario sobre ella. Se trata de su artículo «La última novela de Máximo Gorki», que el 20 de julio de 1928 aparece en la revista Mundial. Por esa circunstancia, puede percatarse que Castro no ha leído Los Artamonov y lo critica duramente en un trabajo que lleva el título de «Máximo Gorki, Rusia y Cristóbal de Castro», pues considera que no tiene nada de ético aquello de comentar o reseñar libros que no se han leído: «Al revés de Gorki novelista -afirma Mariátegui-, el señor Cristóbal de Castro no ha menester de documentarse para tratar un tema. Tiene la osadía irresponsable del gacetillero para afirmar cualquier cosa, sin ningún temor de engañarse. Le bastan los recuerdos dispersos de sus lecturas apresuradas y vulgares para escribir la historia. Puede trazar la biografía de Gorki, sin haberse acercado jamás a su obra ni a su vida» (23). Por último, referiéndose a cuál es el verdadero argumento de Los Artamonov, Mariátegui agrega: «Y me siento en grado de suponer que el señor Cristóbal de Castro no conoce Los Artamonov sino a través de uno de esos retazos de crónica, recogidos sin ningún discernimiento crítico, de que se sirve generalmente para su trabajo periodístico. Porque en caso de haber leído Los Artamonov, su absurda interpretación lo dejaría en muy mala postura. Resulta que el escritor de La Libertad no sólo está mal informado por gacetilleros presurosos y confusos, sino que es incapaz de informarse mejor por su cuenta. Habría leído Los Artamonov, pero sin entender una palabra del asunto ni de los personajes. Remito a los lectores a mi anterior artículo. Les será fácil enterarse de que ni el asunto ni los personajes de Los Artamonov tienen algo que ver con el comunismo. Las tres generaciones de la familia Artamonov que nos presenta Gorki son tres generaciones burguesas. El fundador de esta precaria dinastía de burgueses de provincia, procede del servicio de un príncipe expropiado. Es un siervo emancipado, como los que se encuentran en los orígenes de la burguesía de otros países. Es un campesino pero no es un mujik. Proviene quizá de una generación aldeana y crédula, pero él mismo no lo es. En él se reconoce, más bien, el impulso creador que mueve el surgimiento de toda burguesía. Toda la obra de la familia Artamonov -una fábrica y su provecho-, es del viejo exdoméstico. De sus hijos, uno le sucede en el comando de la fábrica, el otro, un jorobado, se refugia en un monasterio. Su sobrino, hijo natural de un noble, se prolonga en un industrial de cierta facundia y presunción, contagiado de ideas reformadoras y progresistas, que miran al afianzamiento del poder de la burguesía contra el poder supérstite de la aristocracia. Uno de los Artamonov de la tercera generación repudia la fábrica y la familia. Los repudia por adhesión intelectual al socialismo; pero escapa por este mismo acto al argumento de la novela. Es un personaje ausente, desertor. La ruina de los Artamonov tiene un testigo implacable, el viejo portero Tikhon. Cuando la revolución sobreviene, habla por sus labios. Pero tampoco Tikhon es comunista ni es obrero. No es sino un testigo rencoroso y desilusionado del drama al que le toca asistir» (24). Más cercano de la geología que de la política La importancia que Mariátegui le atribuye a la tarea de la difusión de la nueva literatura rusa, tanto en términos de traducción al español como de una crítica adecuada y oportuna, es una cuestión que se relaciona con su original aproximación al marxismo. Resulta que él está completamente convencido que las realidades sociales también pueden ser abordadas desde el punto de la cultura y desde ese sector tan menospreciado en otras tradiciones marxistas que es la llamada «superestructura», en particular, el mundo de la creación literaria y de la ficción (25). En este caso, se trata de su convicción de que no se puede conocer la nueva Rusia de los Soviets sin conocer su nueva literatura. De allí que glose con fruición a Iliá Ehrenburg y, como algo que seguramente él mismo hubiese querido escribir, repita que «los extranjeros que no conocen la nueva literatura rusa no conocen a la nueva Rusia, pues sólo la literatura, al menos parcial o convencionalmente, podría hacerles comprender el proceso grandioso, más cercano de la Geología que de la política, que se opera en un pueblo de ciento cincuenta millones de almas» (26). Por eso, cuando retorna a Lima -en marzo de 1923-, Mariátegui se vincula a la experiencia de la Universidad Popular «González Prada» y, en las clases que dicta allí, habla no sólo de la crisis de la democracia burguesa y el surgimiento del fascismo, sino también del significado de la revolución rusa. Gracias a lo que explica en sus clases, muchos obreros y estudiantes se familiarizan con una serie de palabras que les eran desconocidas: «Lenin», «Krupskaya», «Lunacharski», «bolchevique», «soviet». Refiriéndose al impacto que provocan las conferencias de Mariátegui, Armando Bazán, que por ese entonces es un joven profesor de la Universidad Popular, escribe: «Actuábamos recuerda- solamente porque era hermoso y arriesgado enseñar por las noches a unos alumnos adultos, que salían sucios, fatigados, pero anhelantes de sus fábricas y de sus tajos; anhelantes por oírles hablar en una sola clase de dos horas largas, del aparato circulatorio, la composición de la luz, las operaciones aritméticas o del destierro de nuestro director, finalizando con un poema de corte más o menos modernista de alguno que otro bardo más o menos melenudo. De vez en cuando, también lucieron en esas clases algunas palabras que ardían como bengalas y que debían manejarse con mucho cuidado; palabras un tanto misteriosas y peligrosas, como "Lenin", "Soviet", "Bolchevique", "Lunacharski", "Krupskaya". Misteriosas bengalas que iluminaron los sueños de esos profesores de veinte años y de esos alumnos, entre los que había más de uno con el cabello ya canoso y la inocencia de un niño» (27). Pero, aparte de aquellas palabras que a Bazán le resultan como bengalas, Mariátegui también introduce otras no menos iluminadoras: «Blok», «Esenin», «Maiakovski», «Bábel», «Gladkov», «nuevo romanticismo», «realismo proletario». Esta situación se aprecia en los artículos que escribe para Mundial y Variedades, donde el tema de la literatura rusa de la revolución ocupa un lugar tan importante como el futurismo italiano, el expresionismo alemán o el surrealismo francés, y motiva algunas de sus páginas más bellas y sugerentes. Dentro de ellos, se pueden mencionar sus semblanzas sobre León Trotski y Anatoli Lunacharski, su ensayo sobre Iliá Ehrenburg, los artículos que dedica a los poetas Alexandr Blok y Serguéi Esenin, y sus comentarios sobre las novelas de Máximo Gorki, Lidia Seifulina, Leonid Leónov, Fedor Gladkov, Konstantín Fedin, Nicolás Ognev y Alexandr Fadéiev (28). Lo mismo se descubre en los diversos números de Amauta -la revista que Mariátegui funda en 1926-, donde los cuentos de Isaak Bábel, para tomar sólo a uno de los exponentes más sobresalientes de la nueva literatura rusa, tienen un espacio tan importante como los dibujos del expresionista George Grosz, los textos del surrealista André Breton o las novedades de las vanguardias artísticas europeas en general. Los otros narradores rusos que son traducidos y publicados en esta revista son Boris Pilniak y Miguel Zoschenko. Además, en Labor, que aparece como una proyección editorial de Amauta, se empieza a publicar, a manera de folletín, la novela Cemento, de Fedor Gladkov. A lo anterior también hay que sumar los ensayos de Iliá Ehrenburg y Anatoli Lunacharski sobre el proceso de la literatura rusa de la revolución que Amauta incluye en sus páginas (29). Otro tanto ocurre en las tertulias que Mariátegui anima en su casa, en el jirón Washington, en el acogedor «rincón rojo», donde, además de Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Erich Maria Remarque, Óscar Wilde, Bernard Shaw, Igor Stravinski, Pablo Picasso o los surrealistas, también conversa de Anatoli Lunacharski, Iliá Ehrenburg, Boris Pilniak, Alexandr Blok o Vladímir Maiakovski (30). Con el tiempo, las diversas iniciativas que Mariátegui toma para difundir a la literatura rusa de la revolución se reflejan en el gusto y las preferencias literarias de los diversos grupos intelectuales de Lima y provincias. Así, si nos guiamos por el testimonio de Luis Alberto Sánchez, se descubre cómo muchos de los más conspicuos representantes de la nueva literatura rusa, como Fedor Gladkov, Leonid Leónov, Eugenio Zamiátin o Alexandr Fadéiev, son incorporados con rapidez en el firmamento referencial de los vanguardistas peruanos y acaban disputando devociones, preferencias y simpatías con Jean Cocteau, Salvador Novo o Jorge Luis Borges (31) Esta especial atmósfera intelectual es la que también explica por qué una revista como el Mercurio Peruano, que nada tiene que ver con las vanguardias, termina interesándose en la literatura rusa de la revolución y, en 1927, con ocasión del décimo aniversario de la Revolución de Octubre, publica una selección -preparada por el poeta Alberto Uretadonde figuran «La canción del perro» de Serguéi Esenin y algunos versos de Los doce de Alexandr Blok y Aventura extraordinaria de Vladímir Maiakovski (32). De este modo, gracias al noble esfuerzo de Mariátegui, la literatura rusa de la revolución logra conquistar un lugar bajo el sol del nuevo ciclo de cosmopolitización -internacionalización o modernización, como ahora se dice- que experimenta la cultura peruana en la década de 1920. NOTAS (1) Mariátegui, José Carlos: «La nueva literatura rusa», Variedades, Lima, 20 de marzo de 1926, en El artista y la época, 12º Edición, Lima, Biblioteca Amauta, 1987, pág. 158. (2) Carta de José Carlos Mariátegui a Ricardo Vegas García (11 de mayo de 1925), en Mariátegui, José Carlos: Correspondencia (Introducción, compilación y notas de Antonio Melis), Lima, Biblioteca Amauta, 1984, tomo I, pág. 82. (3) Ver Cornwell, Neil (Ed.): Reference Guide to Russian Literature, Chicago, Fitzroy Dearborn Publishers, 1998, págs. 110114. (4) Ibíd., págs. 118-120. (5) Alberti, Rafael: La arboleda perdiada. Primero y Segundo libros (1902-1931), Madrid, Alianza Editorial, 1998, pág. 178. (6) Teitelboim, Volodia: El corazón escrito. Una lectura latinoamericana de la literatura rusa y soviética, Moscú, Editorial Ráduga, 1986, pág. 213. (7) Mariátegui, José Carlos: «Instantáneas», Variedades, Lima, 26 de mayo de 1923, en La novela y la vida, 11º Edición, Lima, Biblioteca Amauta, 1985, pág. 139. (8) Mariátegui, José Carlos: «Miguel Arzibachev», Variedades, Lima, 16 de abril de 1927, en Signos y obras, 3º Edición, Lima, Biblioteca Amauta, 1971, pág. 95. (9) Ibíd., pág. 96. (10) Ibíd., págs. 96-97. (11) Ibíd., pág. 95. (12) Ver Alvarez del Vayo, Julio: La nueva Rusia, Madrid, EspasaCalpe, 1926, págs. 232-241. (13) Mariátegui, José Carlos: «Caminantes, por Lidia Seifulina», Variedades, Lima, 15 de enero de 1927, en Signos y obras, págs. 91-92. (14) Ver Schanzer, George D.: Russian Literature un the Hispanic World: A Bibliography, University of Toronto Press, 1972. (15) Ver Alvarez del Vayo, Julio: Rusia los doce años, Madrid, Espasa-Calpe, 1929, págs. 87 y siguientes. (16) Portnoff, George: La literatura rusa en España, New York, Instituto de las Españas, 1932, pág. 47. (17) López Campillo, Evelyne: La «Revista de Occidente» y la formación de minorías, Madrid, Taurus, 1972, pág. 121 y sgts. (18) Alvarez del Vayo, Julio: La nueva Rusia, pág. 49. (19) Mariátegui, José Carlos: «La nueva literatura rusa»,en El artista y la época, págs. 158-159. (20) Mariátegui, José Carlos: «La Rusia de Dostoievski. A propósito del libro de Stefan Zweig», en El artista y la época, pág. 166. (21) Ibíd., págs. 166-167. (22) Citado en Mariátegui, José Carlos: «Máximo Gorki, Rusia y Cristóbal de Castro», Variedades, Lima, 3 de agosto de 1928, en Signos y obras, pág. 89-90. (23) Ibíd, pág. 89. (24) Ibíd, págs. 90-91. (25) Flores Galindo, Alberto: «Para situar a Mariátegui», en Adrianzén, Alberto (Ed.): Pensamiento político peruano, Lima, Desco, 1987, pág. 207. (26) Mariátegui, José Carlos: «La nueva literatura rusa», en El artista y la época, pág. 158. (27) Bazán, Armando: Biografía de José Carlos Mariátegui, Santiago, Zig-Zag, 1939, pág. 94. (28) Ver Mariátegui, José Carlos: «Máximo Gorki y Rusia», Variedades, Lima, 27 de octubre de 1923; «Trotski», Variedades, Lima, 19 de abril de 1924; «Lunacharski», Variedades, Lima, 15 de febrero de 1925; «Alexandr Blok», Variedades, Lima, 19 de setiembre de 1925; «La nueva literatura rusa», Variedades, Lima, 20 de marzo de 1926; «Caminantes, por Lidia Seifulina», Variedades, Lima, 15 de enero de 1927; «Leonid Leónov», Variedades, Lima, 26 de febrero de 1927; «Sergio Esenin», Variedades, Lima, 1º de octubre de 1927; «La última novela de Máximo Gorki», Mundial, Lima, 20 de julio de 1928; «Máximo Gorki, Rusia y Cristóbal de Castro», Mundial, Lima, 3 de agosto de 1928; «El centenario de Tolstói», Variedades, Lima, 15 de setiembre de 1928; «Cemento, por Fedor Gladkov», Variedades, Lima, 20 de marzo de 1929 Edición, Lima, Biblioteca Amauta, 1987,; «La Rusia de Dostoievski. A propósito del libro de Stefan Zweig», Variedades, Lima, 10 de abril de 1929; «Los mujics, por Konstantín Fedin», Variedades, Lima, 8 de mayo de 1929; «Rusia a los doce años», Variedades, Lima, 10 de julio de 1929; «Teatro, cine y literatura rusa», Mundial, Lima, 19 de julio de 1929; «El diario de Kostia Riabtzev», Variedades, Lima, 14 de agosto de 1929; «La derrota, por A. Fadéiev», Variedades, Lima, 25 de diciembre de 1929; y «El realismo en la literatura rusa», Variedades, Lima, 7 de enero de 1930. (29) Ver Ehrenburg, Iliá: «La literatura rusa de la revolución», Amauta,Nº 3, Lima, noviembre de 1926; Pilniak, Boris: «Arina», Amauta, Nº 3, Lima, noviembre de 1926; Bábel, Isaak: «La sal», Amauta, II, Nº 6, Lima, febrero de 1927, y «La carta», Amauta, Nº 7, Lima, marzo de 1927; Zoschenko, Miguel: «Una noche terrible», Amauta, Nº 9, Lima, mayo de 1927 yNº 10, Lima, diciembre de 1927; Lunacharski, Anatoli: «El desarrollo de la literatura soviética», Amauta, Nº 20, Lima, enero de 1929; y Gladkov, Fedor: Cemento, Labor, Nº 10, Lima, setiembre de 1929. (30) Miró, César: Testimonio y recaudo de José Carlos Mariátegui, Lima, Editora Amauta, 1994, págs. 23-24 y 28. (31) Sánchez, Luis Alberto: Testimonio personal. Memorias de un peruano del siglo XX, tomo I, pág. 207. (32) Ureta, Alberto: «La poesía rusa contemporánea», Mercurio Peruano, XVI, Lima, 1927, págs. 429-441. [Texto originalmente publicado em La Hoja Latinoamericana # 84 (Uppsala, abril/junio de 2003), com o título "José Carlos Mariátegui, Amauta y la literatura rusa de la revolución".] . jornal de poesia triplov alô música . revistas em destaque .. portal de poesía contemporánea (espanha) depoimento de maría martín arévalo El Portal de Poesía Contemporánea de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes incluye las creaciones poéticas más crecientes de autores iberoamericanos. Uno de sus rasgos diferenciadores es que además de textos, ofrece la posibilidad de escuchar a los propios autores recitando sus versos, de verlos en algunas lecturas e incluso de conocer cómo son y qué piensan a través de entrevistas personalizadas. El Portal de Poesía Contemporánea es uno de los 20 portales temáticos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, una biblioteca digital que nació en julio de 1999 con el objetivo de publicar en formato digital obras, estudios y documentos relacionados con las culturas hispánicas. Aunque la base es la literatura, también se ofrecen materiales relacionados con la historia, el arte, la política,... Para conseguir este propósito, “la Biblioteca se ha convertido en un centro de estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que ya la sitúan a la vanguardia de las bibliotecas digitales”, explica su director, el catedrático de historia Emilio La Parra. Creada bajo el auspicio de la Universidad de Alicante, en España, las coordenadas de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes las rige el Patronato de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. El Portal de Poesía Contemporánea cuenta con un catálogo de más de 60 autores iberoamericanos. Según la coordinadora del Portal, María Martín, “el rasgo diferenciador del Portal de Poesía Contemporánea y de toda la Biblioteca Virtual, es que a los textos añade, imágenes, voces, sonidos, vídeos, etc, lo que completa más la visión que aportamos de cada uno de los autores”. “Es -asegura- una nueva forma de leer poesía”. El Portal de Poesía Contemporánea pretende convertirse, más que en una antología, en un diccionario poético contemporáneo multimedia, virtual y gratuito. En la actualidad el Portal une la poesía que se está haciendo en España y en América Latina y aglutina a autores que escriben tanto en castellano como en otras lenguas autóctonas como pueden ser el catalán, el gallego o el mapudungún, además de incluir algunas traducciones en portugués. En su catálogo de autores se puede encontrar desde a los grandes premiados del siglo XX como Pablo Neruda o Gabriela Mistral hasta los jóvenes, estimados o controvertidos como Carlos Marzal, Oliverio Girando, Gonzalo Rojas, Dulce María Loynáz, Mario Benedetti, Ángel Gozález, José Hierro o Nicanor Parra. Muy pronto la obra de autores como Manuel Álvarez Ortega, Marcos Ana, Aurora Luque o Luís García Montero estarán disponibles en el Portal. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el Portal de Poesía Contemporánea es la dificultad de contactar con los autores o los herederos legales de sus derechos. Por eso, la mayor parte de los poetas publicados son españoles, ya que la sede física de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes está en el Campus de la Universidad de Alicante, en la costa mediterránea española. “Somos extremadamente escrupulosos con el respeto a los derechos de autor, por lo que no se publica nada que cuente con una cesión firmada”, explica la coordinadora del portal. María Martín afirma que diariamente se reciben sugerencias y peticiones a través del correo que el Portal tiene habilitado en su página de inicio. “Es muy útil porque una pista lleva a otra y al final logramos contactar con muchos autores, lo que sin la ayuda de otros poetas, editores o usuarios sería imposible”. El Portal de Poesía empezó a funcionar en noviembre de 2002 y a fecha de agosto de 2004 ya había recibido 387.482 visitas. Autores como Manuel Gahete (Córdoba-España) han dicho del Portal de Poesía que es “una manera perfecta de acercarnos a nuevos creadores, tanto por recientes como por no conocidos” y lo ha descrito como “un oasis de luz, más que necesario” para la poesía. Por su parte, Jesús Munárriz, poeta y director de la editorial Hiperión, ha alabado el proyecto por permitir “leer y escuchar de una a los autores y a sus versos”. Para el argentino Claudio Serra Brun, cervantesvirtual.com está haciendo “una gran labor de comunicación vía Internet entre los 22 países que disfrutamos de nuestra lengua hispana”. Y es que el Portal de Poesía Contemporánea permite a usuarios y creadores, participar en foros de libre expresión para debatir sobre textos, autores u obras, estableciendo un feedback más que necesario entre los amantes de la poesía. María Martín Arévalo Coordinadora del Portal de Poesía Contemporánea Realizadora de la Unidad Audiovisual y Área de Comunicación y Atención al Usuario E-mail: [email protected] Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Universidad de Alicante. Edificio Nuevos Institutos Campus de San Vicente del Raspeig Apdo Correos, 99 E-03080 Alicante . revistas em destaque alforja (méxico) diálogo entre josé vicente anaya, josé ángel leyva & floriano martins FM - Como surge alforja, motivada por qual desejo? Falem um pouco dessa Fraternidad Universal de los Poetas. José Vicente Anaya – La revista de poesía alforja tuvo dos inicios frustrados, antes del tercero que la dio a luz en la primavera de 1997. Por 1987 convoqué a varios poetas para proponerles una revista de poesía (teniendo ya pensado el nombre de alforja como referencia a la utopía de los poetas y filósofos cínicos de la antigua Grecia, habiendo reunido los materiales que conformaron la mayor parte del que saldría impreso como número 1 y hasta las ilutraciones del dibujante Eko —cuyas ilustraciones utilizamos hasta que armamos el número 11— con la idea de que cada número fuera ilustrado por un pintor diferente como muestra de que la imagen del artista es poesía visual). Tanto en la primera como en la segunda convocatoria (ésta por 1992) los poetas convocados no hicieron nada para llevar a cabo el plan. Fue entonces que en los últimos meses de 1996 los poetas convocados trabajaron con mayor compromiso y decisión para resolver los problemas materiales que implican publicar un libro (pues alforja tiene formato de libro) cada tres meses, es decir, por cada estación del año, como lo estamos haciendo hasta ahora. Así, alforja REVISTA DE POESÍA nació primeramente con la idea de que la poesía es un territorio de la imaginación, pero vivible, y desde este punto de vista es una utopía llevada a la realidad. A ese territorio, que se diferencia y contrasta con los territorios pedestres, es invitada toda la gente que lo escribe y que lo lee. Por esto, queremos que en la revista se expresen todas las voces de quienes escriben y quienes leen poesía, todas las voces de todas las culturas y lenguas. Queremos propiciar la diversidad en todos los aspectos y sentidos, ya que el mundo y la vida no pueden estar reducidos a una sola vía, y al promover la diversidad estamos planteando un mundo completamente opuesto a todo reduccionismo como el de las vanguardias o fundamentalismos en boga. Cuando nació alforja no había en México ninguna otra revista dedicada exclusivamente a la poesía y con formato de libro, características que pretenden darle a la poesía un lugar distintivo en tanto arte de los más grandes. Sólo teníamos un antecedente: la revista El Corno Emplumado, y aunque que feneció allá por 1968 fue una publicación que unió y divulgó a poetas de todo el continente americano sin que faltaran europeos, africanos y asiáticos. Esta revista era nuestro único antecedente y buen ejemplo. Ahora ya existen por lo menos otras tres revistas con formato semejante. En El Corno Emplumado recuerdo cartas de poetas de múltiples países, y que en unade ellas se mencionaba que los poetas de todo el mundo somos hermanos (y es cierto que los hermanos de sangre también son diferentes entre sí y hasta pelean, ¿verdad?). Esta idea de hermandad la comparto y creo que es una de las pocas hermandades que han traído cosas buenas al mundo, es por eso que yo propuse declarar a alforja como una revista de la Fraternidad Universal de los Poetas. la mirada. José Ángel Leyva – En mi caso parte del anhelo de la lectura, de la inmensa necesidad de contagiar a los otros con la fascinación por la palabra que persigue la poesía. Quizás también por compartir un territorio sin dueño donde el único poder que domina es el de abrir puertas que dan hacia sin ningún lado, o por lo menos no hacia un lugar predecible. El tiempo en esa medida tiene perspectiva, y la muerte no es un muro que se topa a cada segundo con No estoy de acuerdo con Antonio Gamoneda cuando expresa que la razón de ser de la poesía sea la muerte, ni siquiera el trascenderla. Es la vida, en sus contenidos de dolor y de placer, de tragedia y de júbilo, de gozo y de pena. La poesía nos recuerda que vivimos y nos enseña, al tiempo que nos refresca, los motivos de este efímero tránsito. El poeta Nezahualcóyotl expresa ese sentimiento en un contexto prehispánico donde la Guerra Florida es parte de un ritual no para invocar la muerte, sino para cultivar, con sangre si se quiere, con el cautiverio y sacrificio de unos y de otros bandos, la existencia humana, la vida de la naturaleza. El cuerpo de Cristo de la comunión cristiana es su equivalente, un oximoron: el tiempo que se alimenta de la digestión simbólica de la inexistencia, del cuerpo torturado del Salvador, de su sangre y de su carne, es decir, del sacrificio. La poesía en ese sentido canta a la generosidad de la vida y nos revela también la dimensión del dolor, del olvido, de la estupidez, de nuestra insignificancia ante el tamaño del Universo, y al mismo tiempo de ese Yo que los románticos advertían en su integración cósmica. Me parece entonces que la fraternidad poética se da, desde mi punto de vista, en esa perspectiva de la generosidad, del anhelo de compartir las emociones que nos brinda la conciencia, los sentidos despiertos, la capacidad de soñar y de imaginar mundos alternos. También de construirlos. Hacer más público lo público, ampliar su radio de acción y de presencia. Una revista nos acerca no sólo a los libros y a sus autores, sino también a los acontecimientos y a los fenómenos relacionados con la materia que tratan dichos temas, al movimiento tangible de la historia de la emociones, de la cultura, de las mentalidades, de la palabra. alforja en ese sentido era, y es, para mí, la oportunidad de poner en práctica mis convicciones literarias más allá de mi propia sombra, de mi imagen narcisista, es la complicidad con otros poetas que, como yo, pretenden buscarle las costillas a la poesía y a los poetas, a los lectores para abrir nuevos horizontes y derrocar a la complacencia y la certidumbre. José Vicente Anaya es un especialista en eso. A mí sólo hay que buscarme un poco. Y José Vicente me encontró en 1984, cuando me propuso hacer un revista de poesía. Pero tardé en tomarle la palabra hasta 1996, tiempo en el que me sentía menos ilegítimo para una responsabilidad de tales exigencias. José Vicente fue, en ese sentido, el motor de ese comienzo y la energía que le da permanencia. FM – Como funciona alforja (estrutura financeira, distribuição, equipe, definição de pauta, relação com colaboradores etc.)? JVA – Nace alforja y se desarrolla enfrentando todas las dificultades típicas para conseguir el necesario dinero que cobra toda imprenta. Al principio los mismos miembros de la revista tuvimos que cooperar para los gastos de edición (aunque, como siempre sucede, algunas personas no aportaron nada, ni dinero ni poemas...). El pintor que lo ilustró el primer número, Gilberto Aceves Navarro, muy entusiasta en los proyectos artísticos y a quien hasta hoy en día le estoy muy agradecido, realizó un grabado cuyos cien ejemplares nos entregó para que los vendiéramos a precios módicos, más baratos que los precios de galería, con el fin de que de esa manera pudiéramos tener una entrada de dinero y así seguir publicando la revista; Gilberto nos aconsejó que hiciéramos esta propuesta a los pintores que aceptaran ilustrar la revista, y sin que sea una condición inmutable, la mayoría de los artistas plásticos han sido muy solidarios con alforja y la divulgación de la poesía en ese sentido. Al paso del tiempo hemos recibido dos veces el apoyo por un año para revistas independientes, que otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y si no es una cantidad que cubre todos los costos de impresión sí ha sido una ayuda que cubre al menos una tercera parte de los costos. También del Conaculta recibimos el apoyo para publicar ocho libros de poesía. Los problemas financieros no han estado ausentes en varias ocasiones. En el último año logramos un convenio de coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana, y esto también nos ha salvado de la desaparición, de tal manera que ya estamos circulando con el número 30 dedicado a poetas rusos contemporáneos. No hemos logrado acumular un fondo de dinero, aunque lo deseamos, con el fin de pagar las colaboraciones, por lo cual hasta ahora quienes publican con nosotros reciben como pago ejemplares de la revista. JAL – Nadie sabe, mejor que tú cómo funcionan estos proyectos editoriales, con las uñas, con el hígado, con el corazón, con lo que tengas a la mano para empujar la piedra por la pendiente. Sí, como Sísifo. La espalda te duele no por el esfuerzo sino por las palmadas que te dan los animadores, los escépticos, los que desean tu fracaso, los que se montan en las acciones para salir en la foto, los que te adulan y los que te denostan. En fin, la espalda duele de cargar esas manos y sus resistencias. En el camino ha quedado mucha gente que ha visto a alforja no como un trabajo colectivo sino como la vía, el instrumento de su propia proyección. Somos muy pocos los que hacemos el trabajo cotidiano, el trabajo duro, la limpieza y la decoración, la reparación, la planeación y la recolección, la búsqueda de recursos para la sobrevivencia. Para no decir nombres, digamos que somos tres o cuatro, máximo cinco quienes conformamos ese núcleo de trabajo que va más allá de lo editorial. Pero debemos reconocer que hay muchas manos que también hacen su aporte y ponen su palanca para empujar la piedra hacia arriba. Todas esas manos tienen dueño, las hay en todo Brasil, y en particular en Fortaleza. Hoy en día el Consejo Editorial participa de manera más activa, más propositiva. Tiene mucho que ver el peso de sus nombres, pero también su confianza en alforja. Una ayuda fundamental, o digamos alianza estratégica, es la que establecimos con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), gracias a la inteligente visión de Luis Ignacio Sáinz, director de Difusión Cultural, quien nos introduce al corredor universitario, pone en el contexto de la UAM una publicación de poesía que le cuesta únicamente la impresión y deja en libertad absoluta al núcleo directivo hacer su trabajo editorial, que ya demostró saber hacerlo. Este respeto a nuestra autonomía en los contenidos y en las políticas editoriales, determinadas en última instancia por sus consejos Editorial y de Colaboradores, y obviamente por sus lectores, es lo que más defendemos. Así, la UAM distribuye una parte y nosotros la otra mediante diversos mecanismos, uno de ellos de corte muy activista es el de los representantes. El resto fluye por las librerías. Ya estamos, por cierto en la red. FM - De que maneira o Estado mexicano tem atuado na subvenção de projetos editoriais e qual tem sido o resultado dessa atuação? JVA – Ya lo dije al mencionar el apoyo del Conaculta. Aclarando que al tratarse de una revista independiente, no hemos tenido ninguna presión ni imposición (y no lo podríamos aceptar por nuestro espíritu libertario) sobre los temas o autores que publicamos, yesta es y será condición sine qua non para aceptar cualquier tipode apoyo. JAL – Bueno, es un buen sistema de apoyo para las llamadas revistas independientes; a cambio piden unicamente espacio para la publicidad oficial relacionada con información literaria o artítica. Son nuestros impuestos, desde luego, pero debemos reconocer que esos fondos económicos destinados a apoyar a las publicaciones periódicas son muy útiles, sobre todo en momentos de asfixia material. Es decir, que no tienes para pagar el papel y la impresión. Muchas veces esos apoyos no te alcanzan para adquirir los insumos necesarios, pero reducen la onerosa cuota que los editores deben de pagar de sus bolsillos para mantener a flote la revista. Si hubiese un público lector no requeriríamos esas ayudas, pero no hay mercado y eso nos pone contra el muro. Así que el Estado nos “remunera” de algún modo y de manera parcial, la labor que hacemos para fomentar la lectura. Visto desde otro plano, el Estado mexicano pone un poco de gasolina para que le demos movimiento a su programa. FM – E qual tem sido a recepção crítica da revista, dentro e fora do México, incluindo eventuais cumplicidades com editores de outras publicações similares? JVA – De manera dispersa en la prensa mexicana han aparecido algunos comentarios favorables y reseñas breves sobre alforja. Sin embargo, en el status quo de la cultura se ha mostrado un silencio profundo, de lo cual se deduce que experimentan cierto miedo a la aparición de una revista independiente que no se ciñe a sus gustos, pretencionesy adoraciones; lo cual es un verdadero elogio para el trabajo de difusión que hemos realizado con nuestra revista. El hecho es que alforja existe y ya ha demostrado que sabe persistir, por lo cual ya tiene un lugar determinante en la cultura mexicana sin que sea ajena a lectores y poetas de muchos países donde no sólo la han leído sino que incluso han colaborado con trabajos muy importantes como las muestras de poesía brasileña (con la entusiasta colaboración de Floriano Martins), poesía griega, colombiana, chilena, española, chipriota, ecuatoriana, etc. También de manera dispersa muchos escritores mexicanos han reconocido y bien ponderado el trabajo de divulgación hecho en nuestra revista, pero ha sido sólo oralmente, en conversaciones aisladas, es decir que no lo han publicado. FM –alforja tem mostrado atenção em relação ao que se passa com a poesia em outros países, sempre dedicando suas páginas de maneira substanciosa à difusão dessa poesia. Trata-se, portanto, de projeto aberto e consciente de sua responsabilidade no entrelaçamento de experiências culturais que extrapolem a barreira dos nacionalismos. De que maneira este assunto é compreendido pelos editores de alforja, sobre a função que desempenham editores de revistas, observando a ambigüidade de uma universalização da cultura hoje tão evocada? JVA – Igual que con la idea de la Fraternidad Universal de los Poetas, estoy convencido de que todas las revistas dedicadas a la poesía en todos los países y lenguas son hermanas de alforja. Todas las revistas de poesía son los ríos que van a dar al mismo mar de la vida. Formamos redes innumerables cuyos caminos muchas veces se cruzan. JAL – No sólo consideramos la necesidad de asomarnos al quehacer literario en otras latitudes, lenguas, culturas, regiones, épocas, sino que no concebimos el desarrollo de la poesía sin esos nexos, sin ese conocimiento cada vez más amplio y profundo de la poesía desde diversas perspectivas humanas que, quizás, no encontremos en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestro continente, si no nos asomamos por la ventanas de nuestra curiosidad, de nuestra percepción. Es necesario romper el cerco de la autorreferencia, de la provincialidad para crear nuevos paradigmas y ejercicios de trasgresión dirigida. El cambio no está sólo en lo nuevo, también se halla en lo viejo que no ha sido descubierto, descifrado en su dimensión estética y poética. Pero la apertura hacia el exterior no puede existir si antes no hay disposición a abrirse caminos desde dentro, o por lo menos que haya el camino para retornar con ánimo de transformación, de ampliación de criterios. Parecería que ser abiertos es aceptar exclusivamente los cánones europeos o estadounidenses pues todo lo demás es étnico, local. Pero pensemos por ejemplo que un Chaac Mol es una escultura singular en un mundo histórico, el maya, pero la pieza escultórica de Henry Moore, basada en esa imagen, es una propuesta novedosa en el plano estético. Ningún escultor mexicano la actualizó tanto como ese artista extranjero que tenía una gran capacidad de digerir la cultura en general. Esa misma capacidad no sólo de fagocitar, sino de digerir bien, de aprovechar los nutrimentos que se mueven en un mundo globalizado es que nos coloca en la posibilidad de ser más universales desde nuestra localidad. Por otro lado, no podríamos hacer esta labor si no contáramos con la participación y la complicidad de otros actores que hacen lo propio en sus respectivos países. Son, digamos, conexiones dendríticas, neuronales, telepáticas, sobre todo ahora que nos movemos en la Red. FM – O que pensam da idéia de criação de um fórum permanente de debates, entre editores de revistas, através da Internet? JVA – Esa es una idea que va muy bien con el espíritu de diálogo y crítica que también promulgamos en alforja como una necesidad para que las ideas sustanciosas y nuevas fluyan y despierten a este aletargado mundo. JAL – Magnífico ¿Cuándo empezamos? FM – Tribuna livre, para o que queiram comentar: JVA – Una invitación a todos los escritores y lectores de poesía para que contribuyan, en todos los ámbitos y de todas las formas, a vivir, convivir y extender el territoriuo de la poesía. JAL – Sí, es bueno ampliar los espacios para la conversación, para el flujo interactivo del pensamiento, como este que sostenemos contigo y con muchas almas en llamas que no cesan de trabajar por ese motivo llamado poesía, arte, vida. alforja es una revista de la Fraternidad Universal de los Poetas. e-mail: [email protected] página em Internet: www.alforjapoesia.com Para suscribirse hacer depósito bancario en Bital cuenta núm. 4015433113, sucursal Coyoacán, Ciudad de México, por la cantidad correspondiente (a nombre de Alforja Arte y Literatura, A.C.) Enviar comprobante o giro postal alforja: Copilco 300, edif. 2, depto. 503, Col. Copilco Universidad, Del. Coyoacán, C.P. 04360, México, D.F. Fax: 5554 5309. Correo Aéreo Nacional $ 85.00 M.N. ejemplar $ 320.00 M.N. suscripción anual Internacional $ 13.00 USD ejemplar $ 47.00 USD suscripción anual . revistas em destaque capitu (brasil) diálogo entre edson cruz & floriano martins FM - Quando surgiu Capitu e em quais circunstâncias editoriais? Edson Cruz – O Capitu surgiu, sem muita pretensão, de um desejo do Cakko (que ainda é o administrador do site) em fazer uma retrospectiva dos principais autores da literatura brasileira em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Ele ia reproduzir verbetes da enciclopédia Nova Cultural. Depois do trabalho pronto a editora não autorizou, é claro! O espaço estava criado e algumas pessoas se interessaram em colaborar. Um grande portal da época (4 anos atrás) o Zipnet quis hospedá-lo e a partir daí começou-se a fazer Chats com escritores e críticos. O portal tinha trânsito em quase todos os países de língua portuguesa. Foram feitos mais de 20 Chats, com repercussão em Macau, Angola, Moçambique e Portugal. Principalmente depois que o site passou para a Terra Vista Portugal, outro grande provedor. A preocupação com lançamentos veio depois e muitas pessoas vieram para agregar valor ao projeto. FM - Qual a razão de seu nome? EC – O Cakko desejava um nome que não fosse ponto com. A febre do momento. Como se tratava de literatura pensou num escritor representativo. Chegou a Machado de Assis e daí à sua personagem mais enigmática: Capitu. Tinha que ser feminino, também. Ou seja, o Capitu é o resultado de muitos ‘acasos’, se é que isto existe. As coisas foram acontecendo espontaneamente, sem muito planejamento. Com relação ao nome, cá pra nós, foi um achado de muita felicidade. FM - Como o sítio convive com outros projetos similares em todo o país? EC – Acho que estamos na vanguarda de um novo tempo para as letras em geral. Temos que trabalhar em conjunto e com camaradagem. O Capitu busca o diálogo e o intercâmbio com todos os projetos feitos com seriedade e qualidade. Temos colaboradores no Brasil inteiro, e em nossas matérias não vemos problema nenhum em ilustrá-las com links, fotos, textos de outros sítios. É como se expandíssemos exponencialmente as possibilidades virtuais da informação e da ação. Quer coisa mais bonita do que um texto sobre Cortázar, escrito por um brasileiro, que te remete aos textos originais de Cortázar disponíveis em sítios da língua pátria de Cortázar? É isto que o Capitu vem fazendo. Uma resenha não precisa ser burocraticamente profissional. Pode ter sim mais que 40 linhas. Pode ter imagens, desenhos, teses, intervenções poéticas e informar. Por que não? FM - Qual a situação atual do sítio, em termos de conquistas, dificuldades, novos planos etc.? EC – Estamos em um novo momento e partindo para um grande desafio que é ter nossa própria livraria. Muitos sites surgiram e a maioria saiu do ar ou vive no anonimato. O Capitu conseguiu estabilidade num grande portal e chega a sua maturidade sem estar preso a nenhuma corporação de mídia. Vamos ser (pelo que eu saiba) o primeiro site de conteúdo que possue seu próprio comércio eletrônico. O que vai nos dar solidez e total independência. Vamos reunir uma comunidade literária, já formada e crítica, a possibilidade de convivência com grandes e pequenas editoras e autores. O conteúdo sempre foi nosso diferencial e continuará a sê-lo. A literatura é a flor da cultura e com ela podemos sentir o aroma de várias manifestações estéticas. É isso que queremos. Ampliar nossa apreensão do mundo e da vida através do olhar estético que a literatura nos permite. FM – Capitu circula apenas em módulo virtual ou há também uma versão impressa? EC –O Capitu é um projeto virtual. Queremos mergulhar neste universo espectral que são os módulos virtuais e expandi-lo ao limite de outras galáxias e civilizações. Mas, como sabemos que o ser humano gosta do cheiro do papel e de exercitar o tato, estamos lançando nossa revista literária, Mnemozine, que embora virtual, prevejo uma versão impressa mais para frente. Devo dizer que a Revista Mnemozine, embora no Capitu, tem voz própria e será capitaneada por mim e pelo poeta e editor, Marcelo Tápia,com trabalho gráfico exuberante do Pipol. FM - Como funciona sua difusão? EC – O Capitu está hospedado no UOL, e isso nos dá uma visibilidade que às vezes chega a assustar. Não temos patrocínio nem pagamos nenhum tipo de marketing. O site corre no boca-a-boca, ou melhor seria dizer, de micro-a-micro. Temos um mailing de umas 10 mil pessoas que são leitores ativos do site. Além disso soubemos utilizar o BlogCapitu (agora Blablablog, parodiando o título de uma matéria de Nelson de Oliveira) para gerar debates, manifestações, divulgações e alimentar uma comunidade literária que se espalha pela América do Sul. Nosso sonho é chegarmos a dialogar em todos os níveis com nossos hermanos da América, assim como, com toda a comunidade de língua portuguesa no mundo. Ambicioso, mas possível. Está dentro dos limites que a ferramenta nos oferece. Temos que usá-la. FM - Como vês as possibilidades da Internet como ferramenta aplicada à cultura? EC – As possibilidades, por enquanto, são infinitas. É uma ferramenta revolucionária que deve ser usada com criatividade, ousadia e critérios. Não há limites de páginas. Não precisa se esperar pela vontade da editora. Não precisa pedir autorização da academia. Todos os limites podem ser rompidos e milhares de pessoas podem acessar o que se veicula no tempo de um piscar de olhos. O único alicerce seguro para que a casa não caia em nossas cabeças é a diversidade de opiniões e conceitos, aliado a um critério de qualidade e profundidade. Se nivelar por baixo, a meu ver, não dura. Pode até explodir em louros e aplausos públicos, mas não dura. Sem consistência do início ao fim não há permanência. Editor: Edson Cruz Rua Prof. Túlio Ascarelli, 132 casa 2 - Vila Madalena São Paulo, SP 05449-020 BRASIL E-mail: [email protected] http://capitu.uol.com.br/ . . revistas em destaque común presencia (colombia) diálogo entre gonzalo márquez cristo, amparo osorio & floriano martins FM - Quando surgiu Común Presencia e em quais circunstâncias editoriais? Gonzalo Márquez Cristo - En 1989, como una opción sensible, necesaria en un país asediado por la guerra y por los manejos excluyentes de la cultura oficial. Así, sin ningún apoyo institucional ni oficial hemos llegado al número 16 y en sus páginas han aparecido entrevistas a grandes escritores y pintores universales, realizadas todas personalmente, y a su lado traducciones de poetas poco conocidos en nuestro medio. Amparo Osorio – No ha sido fácil sacar adelante una Revista que no se parece a ninguna de las publicadas en nuestro medio. Las circunstancias editoriales han sido difíciles y casi siempre se termina publicando con recursos propios. Pero sin duda desde su primera aparición ha creado una secta de seguidores. FM - Qual a razão de seu nome? GMC - Rendir un homenaje al gran poeta francés René Char, cuya poesía filosófica siempre nos ha deslumbrado. Y proponer una común presencia, urgente para enfrentar la destrucción, la desolación y la desesperanza. AO – Como afirma Gonzalo Márquez, es concitar una obra cumbre de un poeta que como René Char siempre estará entre nosotros FM - Como a revista convive com outros projetos similares em todo o país? GMC – Cada publicación tiene su espacio definido. La nuestra de periodicidad “esporádica”, propone llevar al lector el pensamiento de creadores a través de las más de 30 entrevistas que han aparecido en sus páginas y la poesía reflexiva de autores de otras lenguas (portuguesa, francesa, italiana, inglesa…) que no han tenido difusión en Hispanoamérica. AO – Común Presencia es una revista que ofrece otros matices diferentes a las tradicionales publicaciones de Colombia. Quizá eso la hace diferente, pues su médula principal es la poesía y aunque abarca todos los géneros literarios, nunca se ha propuesto dar cabida a las nuevas tendencias light que tanto afectan al arte actual y por consiguiente a muchas publicaciones que no teniendo nada que decir, acuden al facilismo y a la frivolidad. FM - Qual a situação atual da revista, em termos de conquistas, dificuldades, novos planos etc.? GMC – La situación de la revista siempre es crítica. Creemos que cada número es el último y eso que pareciera ser un hecho desdichado es también propicio, pues esa suerte agónica nos condena a ser muy exigentes en la selección del material y a que todo lo publicado esté provisto de esencialidad. AO – Ya es bien sabido para nosotros que es una publicación difícil de sostener en un lapso determinado. Nunca podríamos decir que su aparición es trimestral, semestral o anual. Esto es del orden del milagro. Y aunque siempre contamos con valioso material, la consecución de la pauta cada día es más ardua. Lo importante finalmente es que cuando se logra un nuevo número, hay muchas presencias comunes que lo festejan y eso es lo maravilloso, la magia que discurre en un escenario imprevisto. FM – Común Presencia circula apenas em versão impressa ou há também um módulo virtual? GMC – Por ahora sircula sólo en versión impresa. AO – No sé qué tan perdurable podría ser una versión virtual que de hecho creo que ocupa sólo una inmediatez. Preferimos siempre de todos modos nuestra revista impresa, porque representa esa especie de tótem que puedes abrazar, oler y contemplar. FM - Como funciona sua difusão? GMC – En forma secreta y casi obsesiva, y si las palabras secreto y sagrado tienen el mismo origen como se ha dicho, creemos que es el camino necesario. Sin embargo a causa de la Colección Los Conjurados, que se edita a la sombra de la revista, la cual tiene más de 20 títulos, es distribuida ahora en cinco países, pero reitero, de manera secreta y sagrada. AO – De una forma muy marginal. Es preciso que así siga siendo. Pero siempre llega a sus destinatarios. A su destino. Es como esa botella de náugrafo lanzada al mar que encuentra al fin la playa predestinada. FM - Como vês as possibilidades da Internet como ferramenta aplicada à cultura? GMC – Me parece fundamental, creo que es un magnífico medio de información, de aproximarse a nuevas voces, de estar enterado de nuevas publicaciones, del estreno de nuevas obras cinematográficas y escénicas, en fin, de conocer nuevas búsquedas, aunque creo que la comunicación tal vez se halle más en la lectura íntima de un libro impreso, que en la rápida lectura de un texto en un computador. AO – Es interesante. Pero creo que funciona más para noticias y textos breves. Para un hallazgo quizá. Pero en la extensión de un libro y en la profundidad que él requiere no creo que se den las condiciones necesarias. FM - Pediria ainda informações a respeito da criação da Fundación Común Presencia e da coleção de livros - Los Conjurados - que vocês vêm publicando. GMC – La Colección Internacional de Literatura Los Conjurados fue creada hace dos años. En el género de poesía hemos publicado más de veinte títulos entre los cuales resaltaría los libros de: Trakl, Adonis, Juarroz, Ungaretti, Rimbaud, António Ramos Rosa…, en excelentes versiones al español; además de otros poetas latinoamericanos como Rodolfo Alonso, Alfredo Chacón, Mauricio Contreras, Germán Villamizar… En el género de Testimonio hemos publicado tres tomos con los Discursos de los Premios Nobel de Literatura, autorizados por primera vez al español por la Academia Sueca, que son un verdadero legado espiritual de nuestro tiempo; allí aparecen las palabras pronunciadas en Estocolmo por: Perse, Camus, Neruda, Eliot, Faulkner, Steinbeck, Brodsky, Kertész, García Márquez, Paz… La Colección Los Conjurados es una trinchera interior para aquellos que necesitan afrontar una realidad individualista y aciaga, es un espacio imprescindible para aquellos que aún creen en la urgencia de soñar. AO – A lo que acaba de responder Gonzalo Márquez Cristo, sólo añadiría que también es una pretensión de que la poesía encuentre en su renacer, una puerta abierta, contra tantas otras que universalmente se le han cerrado. Quizá los Conjurados sólo pretenda eso, ser el paso posibitador para enterarnos de los múltiples y complejos universos del ser en todas las latitudes del planeta. Es un proyecto complejo porque la poesía así lo es. Pero maravilloso porque la poesía también es maravillosa. En esto seguiremos trabajando con toda la mística del corazón. Común Presencia Carrera 8 # 65-73 Bogotá (604) COLOMBIA e-mail: [email protected] . jornal de poesia .. triplov alô música . revistas em destaque cult (brasil) diálogo entre marcelo rezende & claudio willer CW - CULT foi lançada quando, mesmo? Em 1995? Ou foi 97? Seja como for, logo completará dez anos. Tenho a impressão de que passará a ser, se é que já não é, o mais longevo dos periódicos literários nacionais em circulação, descontados aqueles, como o Suplemento de Minas, Poesia Sempre da BN ou Correio das Artes, da Paraíba, que são subvencionados pelos respectivos governos. Isso sugere algum tipo de comentário, reflexão ou observação? (sobre duração da CULT ou pouca duração de outros periódicos). Marcelo Rezende - O primeiro número da CULT chegou às bancas em 21 de julho de 1997. Talvez seja necessário nos determos um pouco sobre o contexto nacional daqueles anos: o país vivia o que depois foi denominado como “febre do real”, na qual a sociedade e seus agentes acreditavam em uma transformação do panorama de consumo (de bens culturais ou não). Isso teve um reflexo na imprensa nacional. Enquanto os grandes grupos passaram a impor estratégias para alcançar a massa que antes se encontrava fora da esfera dos produtos culturais (os jornais são um exemplo disso), esse momento econômico possibilitou ainda que outros agentes, voltados para a segmentação, pudessem lançar seus projetos. Curiosamente, o país, que tem uma acidentada história com publicações voltadas para a cultura (de caráter nacional e com venda em banca), ganhou no mesmo período CULT e Bravo!, duas publicações totalmente diferentes em seus projetos, mas que são fruto, também, dos acontecimentos descritos acima, e que pretendem ser viáveis sem a necessidade da presença do Estado. Pouco depois, essa expectativa se alterou, com os sucessivos choques econômicos. Hoje, as grandes empresas estão com enormes dívidas e sem capital, enquanto novos empresários enxergaram nisso uma oportunidade para ocuparem um lugar na imprensa nacional. Estamos ainda em um momento de transição, no qual novos títulos se fortalecem e editoras antes tidas como pequenas passam a investir a fim de se tornarem relevantes entre leitores descontentes com as fórmulas dos títulos históricos nas bancas brasileiras. CW - A propósito, literário, mesmo? Ao longo de sua existência, CULT sempre me pareceu oscilar entre uma revista cultural geral, cobrindo também música, artes visuais e cinema, e uma revista especificamente literária e de idéias, de filosofia. O que é CULT, no plano do conteúdo? MR - Bem, estamos aqui face a uma questão que assombra um pouco a CULT e alguns de seus leitores. Antes, um esclarecimento pessoal: como estive afastado do Brasil entre 1998 e 2002 (não estive no país nem mesmo para férias ou algo desse tipo; foi um momento de ausência total), período no qual morava em Paris, não pude acompanhar de perto a história da revista. Recebia alguns exemplares, como de outras publicações, de amigos que procuravam me apresentar um pouco do que se passava aqui. Assim, se houve instantes de crise de identidade da CULT, pude observá-los não apenas de uma distância oceânica. Eu me encontrava também em uma posição específica: lia (leio) muitas publicações européias e norte-americanas que - com aproximações e afastamentos estavam tentando impor projetos semelhantes aos da CULT. Em seus primeiros anos, a CULT se assumia como uma revista de literatura, e acredito que o criador do título, o jornalista e crítico Manuel da Costa Pinto, tivesse a intenção de fazer da CULT um espaço não apenas para o comentário jornalístico de livros e autores, mas, sobretudo, um lugar no qual a crítica literária brasileira –e suas tendências- pudessem ultrapassar seu território; isto é, o da academia, o circuito universitário. Se houve a passagem editorial de “revista de literatura” para “revista de cultura” (e esses conceitos me parecem estar sempre sendo entendidos como se estivessem em um jogo de opostos; há a recusa da idéia de ser possível haver aproximação entre esses dois campos; um engano, me parece), algumas das razões estão na resposta abaixo. CW - Coisa de três anos atrás, CULT mudou de proprietário. O que mudou então, em conseqüência? (em nível propriamente editorial, é claro). MR - A CULT, a partir do número 57, deixou de ser editada pela Lemos Editorial (que controlava o título desde sua fundação) e passou para as mãos da editora Bregantini, que iniciava seu projeto de se tornar uma editora competitiva no cenário nacional. A mesma equipe editorial foi mantida, mas a revista passou então a se assumir como um título voltado para a “cultura em geral”, ainda que eu não esteja muito certo do que essa expressão possa querer dizer hoje… Mas acho ser necessário fazer algumas distinções aqui. De início, estabelecer uma diferença entre produção cultural e produto cultural. Publicações culturais (revistas, suplementos culturais) mantém um necessário (inevitável talvez seja a melhor palavra) diálogo com o mercado de cultura. Essa relação não se dá de maneira pacífica, ou ao menos não deveria acontecer assim. O fato é que publicações culturais podem terminar se submetendo ao produto cultural, acreditando não haver mais diferença entre o produto e o fato cultural. Eles podem ser o mesmo, mas não necessariamente. A tarefa de uma publicação cultural seria a de apontar para o leitor essas diferenças. Seria. Estamos no reino do condicional aqui. Essa tarefa editorial talvez seja o muro diante da imprensa cultural (as revistas universitárias são uma outra questão) hoje, e em nações periféricas como o Brasil isso se torna extremamente relevante. O analfabetismo funcional cresce no país. Há décadas. Não está diminuindo. Em sociedades que passaram por eficazes programas de educação de massa isso é um problema. O que dizer de nós, brasileiros, que nunca tivemos uma razoável educação para a população? Isso significa que a imprensa (que é uma atividade econômica privada, que visa o lucro) tem também um papel educacional. Ela deveria, ao menos em teoria, apresentar os fatos e contextualizá-los. Hoje, onde alguém pode saber quem foi (um exemplo) Pier Paolo Pasolini? Nos livros? Na universidade? E se essa pessoa não sabe quais livros ler nem em qual curso universitário encontrar o que procura? Ela poderia ser apresentada ao cinema (e aos poemas e artigos) de Pasolini pela imprensa. Mas essa imprensa depende de “um grande lançamento” (um bom produto cultural) para falar de Pasolini. E, quando esse acontecimento surge, prefere não dar muito espaço a Pasolini porque “as pessoas não sabem quem ele é”. Parece estarmos diante de um ciclo vicioso, não? Quando cheguei à CULT, em setembro de 2003, após o desligamento da antiga equipe de editores do título, fui convidado pela publisher da revista, Daysi Bregantini, para elaborar um projeto editorial que pudesse enfrentar essa desconfortável posição da revista, a fim de que ela pudesse ser um título de cultura, e não apenas de produtos da indústria cultural. A CULT deveria ser um título mais lido e comentado, indo além de seu público inicial, o da faculdade de Letras, sem, claro, perder esse leitor. Ela teria que ser menos conservadora, mais ousada e, ao mesmo tempo, agregar leitores e não perder nenhum dos já acostumados com o título. Na verdade, não estamos no mais fácil dos mundos… Esse projeto é o que a editora vem procurando implantar desde o número 74. O primeiro número que pude editar. Hoje, ela passa por um momento de crescimento, tanto em relação ao número de leitores quanto de faturamento publicitário. A CULT é um título que, segundo dados de sua distribuidora, a Fernando Chinaglia, vende em banca cerca de 20% acima da média do que o mercado de revistas no Brasil consegue. Estamos então diante de uma questão resolvida? Não, certamente. Como todos os editores sabem, a relação com o leitor é sempre delicada, e a revista deve sempre procurar ser melhor a cada número. Ou o leitor se afastará do título. Mas parece que o leitor se sente confortável diante de um título que acredita ser cultura não apenas o livro, o CD ou o filme, mas o debate, questões políticas, a filosofia e o engajamento intelectual em torno do livro, do CD e do filme. Não o partidarismo, que é outra coisa, mas o pleno engajamento intelectual. CW - Fale-nos de você. De onde você surgiu? O que fazia antes? Como aportou à CULT? MR - Minha trajetória é muito breve, na verdade. Tenho 36 anos, estudei Comunicação Social na PUC-SP e Filosofia na USP (que abandonei pouco antes de minha graduação) ao mesmo tempo. Depois, trabalhei como repórter e editor-assistente nos cadernos Ilustrada e Mais!, do jornal Folha de S. Paulo (19931998); após essa fase, recebi um convite do diário Gazeta Mercantil para ocupar o posto de correspondente em Paris (1998-2001). Permaneci nesse cargo até 2001 (me desliguei do jornal alguns meses antes de sua grande crise), mas permaneci na França terminando alguns cursos que tinha iniciado e, antes de meu retorno ao Brasil, passei ainda uma curta temporada em Roma. Quando voltei ao país, em 2002, recebi um convite para retornar à Folha de S. Paulo. Essa segunda fase durou apenas 5 meses. Após meu desligamento do jornal, passei a trabalhar em um projeto de livro sobre um certo momento da arte em São Paulo, um livro no qual trabalho ainda, e nesse período recebi o convite para editar a CULT. CW - Como é o público leitor de CULT? Quantos são os leitores de CULT? Qual é seu perfil? MR - O leitor é basicamente jovem, com passagem pela universidade ou ainda passando por ela, seja na graduação ou na pós-graduação. Logo, classes A e B. Me parece ser um leitor curioso, disposto a ser apresentado a algo que não estava em seu domínio e que talvez nem desconfiasse ser de seu interesse. Isso porque mesmo um leitor “educado” não conhece muito além de seu campo de saber. Infelizmente. Os que conhecem muito a obra de Adorno talvez não se sintam muito confortáveis diante de um texto e de uma obra do norteamericano Donald Judd, apesar dos pontos de contato entre os dois. Logo, a tarefa da revista seria apresentar Judd aos adornianos, e Adorno para os seguidores de Judd. CW - O que você gostou mais de publicar na CULT? MR - Muitas coisas, na verdade. Falando especificamente sobre temas, meu primeiro número na direção da revista, no qual procurava apresentar o leitor a uma nova e interessante geração de autores hispânicos, como Ignácio Padilla, Bolaño, Vila-Matas. Um dossier sobre SP (que contou com sua ótima colaboração), que procurava mostrar um pouco da história da cidade por meio de seus movimentos culturais em diferentes décadas, e o desejo de vanguarda que existiu no cotidiano da metrópole; um número especial sobre os 20 anos da morte do filósofo Michel Foucault, um típico caso de nome “que ninguém conhece”, segundo o círculo vicioso da imprensa cultural, e que terminou sendo uma das maiores vendagens da história da revista. Por fim, neste semestre, o número sobre os “O que pensam os Estados Unidos”, talvez o que eu mais tenha gostado de realizar até aqui. E, claro, não se trata de realizações pessoais. O resultado é uma soma de colaborações diretas, indiretas, pequenas sugestões, grandes ações e uma boa dose de acaso. Acho que o mais importante, nas publicações culturalmente relevantes, é que elas criem forma e identidade que possam seguir vivas, apesar dos nomes de seus editores. Os leitores, enfim, se aproximam do título, e não daqueles que o editam. A CULT foi criada pela força, coragem e ousadia de Manuel da Costa Pinto, hoje eu a edito e espero que após minha passagem ela continue sendo, enfim, a revista CULT reconhecida e respeitada por seus leitores, que têm, sempre, a palavra final. CW - E o leitor, do que ele gosta mais? Polêmica, intelectuais pulando na garganta um do outro, informação geral, aprofundamento temático? Cultura pop ou universitária? É possível captar indícios de preferências, pela vendagem e por comentários? MR - Essa pergunta, me faço todos os meses. Se fizermos uma análise dos números mais vendidos neste ano (isto é, que ultrapassaram a média de vendagem da revista), teríamos, pela ordem, as seguintes capas: “Foucault”, “Dostoievski” e “Literatura de Combate”. Bem, o leitor gosta de filosofia francesa? Autores russos? Tendências da cultura? Ou gosta dos três? São os mesmos leitores? Como você pode perceber, não há uma resposta simples. Talvez, essas mesmas capas, se lançadas em 2005, não teriam a mesma resposta dos leitores. Mas, ainda em meio a tantas intuições, acho que podemos extrair algumas sólidas certezas sobre esse leitor: ele se interessa por pessoas e temas que o ajudem a entender o mundo hoje, e isso, algumas vezes, significa ter na revista assuntos, reportagens e entrevistas que poderiam ser chamadas de polêmicas. Acredito que esse mesmo leitor deseja ver na CULT algo que ele não encontra em outras publicações; isto é, ele rejeitaria “os grande nomes” que podem ser encontrados tanto em revistas de informação quanto em títulos de celebridades. Quanto à cultura pop ou universitária, bom, essas diferenças são um tema de rigueur entre os litterati brasileiros, e parece existir muita confusão nessas qualificações. Hoje, no cenário da música eletrônica (e estamos falando aqui, sim, da chamada “Cultura DJ”), os conceitos do filósofo Gilles Deleuze são largamente usados. Os autores do filme “Matrix” afirmaram terem utilizado algumas idéias de Jean Baudrillard para realizarem o filme. O que é cultura pop e cultura universitária, exatamente? Acho ser necessário em algum momento ultrapassar o estágio de Guerra Fria no qual vários setores da sociedade brasileira parecem viver. Há os que pregam um antiintelectualismo militante, negando toda forma de sofisticação do pensamento e da ação, vivendo em um mundo no qual nada pode ser analisado ou estudado sem ser automaticamente rotulado como “difícil”. Do outro lado, há um sólido conservadorismo dos setores acadêmicos que acreditam estar em um território de “rigor e seriedade”, um discurso que serve apenas para disfarçar uma esclerose avançada, uma imobilidade que se traduz em algo muito perverso… Talvez por isso eu goste tanto de alguém como o esloveno Slavoj Zizek, capaz de explicar para o leitor a crise da modernidade por meio do último filme de Clint Eastwood. CW - E o que ainda gostaria de publicar? O que precisa melhorar em CULT? MR - Gostaria de publicar muitas coisas. É um clichê, mas o fato é que a lista seria interminável. Muitas coisas precisam melhorar na CULT: abrir espaço para novos críticos, explorar de maneira sistemática questões da atualidade, ter mais poesia em suas páginas, conseguir a profundidade sem hermetismo, refletir o debate em torno da arte… Trata-se de outra lista infinita. CW - Tiragem de alguns milhares de exemplares – isso é inserção na elite cultural ou contingência? Há chances de crescimento? MR - Como falamos um pouco acima, a média de vendas da CULT, em relação a sua tiragem, é superior à média do mercado. Logo, ela vem crescendo. Mas é necessário não perder de vista questões que transcendem a revista e suas intenções. O Brasil tem uma população de cerca de 190 milhões, mas seus maiores títulos impressos não chegam hoje a 1 milhão, nem mesmo os com estrelas televisivas nuas em suas capas. Logo, toda imprensa no Brasil é segmentada: é feita para o segmento que lê. CW - E o futuro? Quais serão os próximos passos? Há planos de expansão, haverá crescimento de CULT? Quantitativo, qualitativo ou ambos? Algo deverá ou deveria mudar? MR - Os planos editoriais são muitos. E ousadia é o que poderia resumir todos eles. Acho que a revista tende a ser ainda menos conservadora e mais ousada, porque toda publicação que dá o que o leitor quer ou espera está condenada ao desaparecimento e ao anacronismo. Uma revista, sobretudo uma revista de cultura, deve dar aquilo que o leitor não espera e não sabe ainda que quer. CW - Que lhe parece o aumento, quando não proliferação de revistas de poesia e periódicos literários durante esses dez anos? Teria destaques, positivos ou negativos, comentário sobre alguns deles? Faça comentários sobre periodismo eletrônico – sites, páginas, blogs, etc. MR - Esse, acredito, é um fenômeno muito novo ainda para podermos entender seu real significado. Hoje, fazer um fanzine ou uma revista literária impressa é muito mais barato do que antes. E o fato é que os meios eletrônicos se tornaram uma chance para diferentes gerações, das mais variadas tendências, poderem se expressar, pessoas e grupos que perderam seus espaços ou se desinteressaram pelos espaços disponíveis. Essa, claro, é uma situação imensamente positiva, porque tudo o que é capaz de abalar um discurso único (seja ele ditado pelo mercado, pela situação política ou pela decisão dos próprios meios) é, em si, positivo. Mas me parece que até esse métier foi atingido pelo apelo “das celebridades”. Fazer uma publicação literária, de poesia, ensaios, ok. Fazer uma publicação literária, de poesia, ensaios para ser reconhecido em festas, ter a foto publicada nos segundos cadernos ou se tornar amigo dos “autores conhecidos” não me parece ser uma boa estratégia. Para nada. CW - E sobre crítica e jornalismo literário na grande imprensa, nesse período? MR - A piada é inevitável: qual crítica? Já que falamos antes do artista minimalista Donald Judd (morto em 1994), em um dos seus textos críticos ele escreve: “Se tornou um ataque à democracia dizer que o trabalho de alguém é maior, mais desenvolvido, mais avançado, complexo (o quanto complexo esse termo pode ser), do que de outra pessoa. Não é educado dizer que meu trabalho é melhor do que o seu. Essa atitude vazia é parte de toda sociedade. A mesma pequena idéia contida nessa atitude é a de que a arte deve ser democrática, e é uma hipocrisia pretender isso”. Esse trecho é do ensaio Not about master-pieces but why are so few of them. Me parece ser a crítica e o jornalismo literário brasileiros, para usar a idéia de Judd, extremamente “bem educados”. Mas sem uma rigorosa crítica caímos em uma produção na qual tudo é aceito em nome da “convivência” e da camaradagem. Mas a arte não é democrática, ela é aristocrática. Se isso já não fosse um grande problema, há ainda o fato de que uma certa cultura literária está em crise. Há na universidade aqueles que podem escrever confortavelmente sobre o uso da narrativa em determinado autor sem jamais ter lido Claude Simon, John Barth, BS Johnson. Enfim, me parece que existe uma geração hoje, na universidade, que não vai muito além do cânone estabelecido, e isso termina se traduzindo em uma produção tímida, sem inquietação, respeitosa, “chatoboy”. E, no jornalismo, bem, toda sua função educacional deixou de existir porque nossas relações com o passado são “flutuantes”. Hoje, apenas um exemplo, o jornalismo impresso acredita que o surrealismo foi uma corrente literária. E não um projeto revolucionário a tempo pleno. As idéias parecem vir prontas, de algum lugar, de uma “enciclopédia básica da cultura jornalística”. Enfim, se na universidade há a timidez diante do cânone, na imprensa parece que tudo se reduz a clichês que são usados para não espantar os leitores; nada pode ser muito “difícil”. Por isso é que o cineasta Nani Moretti é sempre, no Brasil, o “Woody Allen italiano”. Clichê e reducionismo. Mas o que uma definição como essa pode querer dizer? Com uma crítica neste estado, como jogar a primeira pedra contra nossa pobre produção cultural? E, aliás, como apontar sua pobreza? CW - O planejamento de CULT incorpora alguma reflexão crítica sobre o jornalismo literário atual no Brasil? Há intenção de preencher um espaço vazio, cobrir uma lacuna, algo assim? MR - A revista CULT tenta e procura colaboradores, não colaboracionistas; pessoas dispostas a “não colaborar”. Ou seja, que preferem ter uma visão crítica, e lutar por ela. Há, claro, falhas, erros de cálculo, desvios, mas ao menos existe um projeto. CW - E o resto do mundo? Há publicações, do tipo Magazine Littéraire, que servem como modelos ou referências? MR - O Magazine Littéraire é uma referência no que se refere à idéia do dossier, um dos destaques da CULT. Mas a situação das revistas é totalmente diferente, as sociedades são muito diferentes. A sociedade francesa é letrada e leitora. A brasileira, não. E, entre os franceses, a intelectualidade nunca esteve acima das questões políticas (criar uma vanguarda é também uma questão política) e culturais. A própria palavra “intelectual” assume outro sentido: significa a atuação pública, significa estar presente ou contra a sociedade, e o saber não está restrito ao que é produzido na universidade. No Brasil, mais uma vez, a situação é totalmente diferente. E o Magazine é apenas uma das revistas literárias francesas; na verdade, a revista da academia, da instituição. A Lire seria mais voltada aos lançamentos, cobrindo o mercado, enquanto a nova Matricule des Anges é a que procura um caminho mais jovem e alternativo aos dois títulos citados. Modelos, referências? The Economist, Les Inrockuptibles, Granta, L´Infini (de Philippe Sollers), éditions de Minuit, Rebel Inc., Il Manifesto, The Observer, Arts & Letters Daily, Artforum, Tel Quel, The New Yorker (ainda), Courrier International. Várias, na verdade. CW - Conexões internacionais, ibero-americana e lusófona, o tem interessado? Prevê ou planeja algo a respeito? MR - Qualquer intercâmbio nos interessa, e muito. Mas gostaríamos e esperamos por ações realmente produtivas, e não apenas aproximações de ocasião. Queremos nossos colaboradores publicados em revistas de outras culturas e viceversa. Editora Daysi Bregantini Diretor de Redação Marcelo Rezende CULT– Revista Brasileira de Cultura é uma publicação mensal da Editora Bregantini Praça Santo Agostinho, 70 – 10º andar – Paraíso – São Paulo – SP – CEP 01533-070 – tel.: 11/3385-3385 – fax: 11/3385-3386. Envie seus comentários para a redação pelo e-mail: [email protected] . . revistas em destaque malabia (espanha) diálogo entre federico nogara & floriano martins FM - Quando surgiu Malabia e em quais circunstâncias editoriais? Federico Nogara – La idea de Malabia surgió en 2000, en un encuentro cultural en Brasilia. Allí conocí personalmente a Guillermo Pérez Raventós y entre los dos nos propusimos una tarea común. De las charlas salió Malabia. La revista tiene seis meses de edad. La editamos entre Guillermo y yo, sin ayuda exterior. Ahora estamos comenzando a involucrar editoriales. FM - Qual a razão de seu nome? FN – Malabia es un personaje de los libros de Onetti. Es el intelectual inconformista, enfrentado al sistema. Tiene mucho en común con Compson, el intelectual de Faulkner (de quien Onetti era admirador), y del Dédalus de Joyce. FM - Como o sítio convive com outros projetos similares em todo o país? FN – Es difícil decirlo. Recién comenzamos y los contactos con proyectos similares son muy nuevos. Las perspectivas son buenas. FM - Qual a situação atual do sítio, em termos de conquistas, dificuldades, novos planos etc.? FN – Tenemos un tipo de lector con un nivel cultural medioalto, lo que hace el crecimiento lento. Pero al mismo tiempo nuestros inteligentes lectores comprenden el esfuerzo por mantenernos coherentes, fieles a una forma de entender la cultura. Recibimos mucho apoyo y muchas felicitaciones. Las dificultades, como siempre, son las económicas. El principal plan es mejorar en todo sentido. El más ambicioso es salir con suplementos en portugués e inglés. FM – Malabia circula apenas em módulo virtual ou há também uma versão impressa? FN – Pensaremos en una versión impresa cuando podamos financiarla. Publicar en papel es muy caro y limitado. Con internet se puede llegar a todo el mundo. Nuestra revista es abierta al mundo desde una perspectiva latinoamericana, y el mundo es ancho y ajeno como decía Ciro Alegría. FM - Como funciona sua difusão? FN – Por el momento sólo con e-mails. FM - Como vês as possibilidades da Internet como ferramenta aplicada à cultura? FN – No debemos olvidar que internet fue inventada por el ejército norteamericano para mantener a sus mandos operativos. Es una herramienta del sistema capitalista. Pero, paradójicamente, es una de las pocas herramientas de comunicación con que contamos quienes queremos cambiar la realidad. La cultura en nuestros días está muy comercializada. Mucha gente se da cuenta y trata de responder. Pero falta calidad, buenas propuestas. En internet hay poca seriedad, mucha "brincadeira", y eso no nos lleva a ningún sitio. Malabia Dirección: Federico Nogara E-mail: [email protected] www.revistamalabia.com.ar . jornal de poesia triplov . revistas em destaque vaso comunicante (méxico) diálogo entre ludwig zeller, susana wald & floriano martins FM - Quando surgiu Vaso Comunicante e em quais circunstâncias editoriais? LZ - Hace cinco años conocí a César Mayoral Figueroa que había tratado de hacer una revista similar y no le había resultado. Nos entendemos bien y al momento tenemos ocho números publicados. SW - César Mayoral Figueroa es un médico cirujano, psicoanalista, filósofo, escritor, y mecenas. Ha participado en el taller literario de Ludwig Zeller de donde surge la revista Vaso Comunicante en primer término. La revista ha existido con anterioridad, hace unos 18 años, cuando la dirigía un escritor de la Ciudad de México. En esa época César Mayoral era Rector de la Universidad de Oaxaca. FM - Qual a razão de seu nome? LZ - Muchas de las persona que han colaborado han estudiado medicina y es un frase común para ellos. Vasos Comunicantes ya fue empleado por Breton hace ochenta años. SW - Vasos comunicantes, de donde Breton toma también el título para su texto, son el punto de contacto entre las arterias y las venas, en el sistema capilar dentro del sistema circulatorio de nuestros cuerpos. A mí me llama la atención que se habla de sólo uno de esos elementos, de un vaso y no de la conjunción de dos, que es el caso cuando la terminología se usa en el plural. Así queda como el vaso que va hacia la conexión, o viene de ella. FM - Como a revista convive com outros projetos similares em todo o país? LZ - Tenemos poca relación y el interés principal de la revista es que tenga textos de primera calidad o material inédito en español. SW - La relación formal entre las revistas en México es poca, porque no hay una tradición de corresponsalía o de intercambio de cartas. Las personas que ven la revista, siendo editores de otras, la admiran, por su calidad. Hay muchas revistas en México. En Oaxaca hay por lo menos media docena. FM - Qual a situação atual da revista, em termos de conquistas, dificuldades, novos planos etc? LZ - Estamos muy interesados en hacer varios números y tenemos un espléndido material. Al momento Susana Wald y yo mismo somos los que llevamos todo el peso del trabajo, y el tiempo es escaso. SW - Creo que la revista tiene relevancia, y que se ha podido establecer como cosa que ya se conoce. La dificultad está en que la hacemos sólo dos personas. Ludwig selecciona el material y yo hago el diseño, la lectura de pruebas la hacemos los dos, y yo hago también traducciones, donde es necesario y veo la producción en preprensa y en la imprenta. FM - Vaso Comunicante circula apenas em versão impressa ou há também um módulo virtual? LZ - Sólo en versión impresa. SW - No hay versión virtual. FM - Como funciona sua difusão? LZ - La mayor parte de la revista la regalamos. También se puede encontrar en librerías de Oaxaca y hacemos envíos a otras ciudades. SW - Se vende en librerías de Oaxaca y se regala muchos ejemplares. FM - Como vêem as possibilidades da Internet como ferramenta aplicada à cultura? LZ - Me parece una herramienta extraordinaria, pero frágil. SW - El Internet me parece un magnífico instrumento para las personas que tienen tres cosas: una computadora, una buena conexión telefónica y tiempo. Para las primeras dos cosas en especial se necesita tener dinero. Luego el resultado de lo encontrado, cuando se tiene tiempo, se debe almacenar o imprimir. Todo ello requiere fondos. Es poco eficaz como herramienta en lugares pobres como Oaxaca, donde la infraestructura es muy deficiente. No contamos ni siquiera con un suministro seguro de luz y conseguir teléfonos eficaces es trabajo de titanes. Yo diría que en Oaxaca si quieres hacer algo virtual, alcanzas quizás un dos por ciento de la población. ¡Eso, porque soy optimista! Colegio de Oaxaca Álamos 228 - Colonia Reforma Oaxaca, Oax. 68050 - MÉXICO [email protected] . jornal de poesia .. triplov . revistas em destaque matérika (costa rica) diálogo entre alfonso peña, tomás saraví & floriano martins FM - ¿Qué motivó la aparición de Matérika? AP/TS - Tendríamos que viajar en el tiempo y ubicarnos en los inicios de la legendaria revista Andrómeda, que apareció entre 1980-1990, con 33 ediciones. Ese movimiento generó proyectos, amigos, colaboradores, canje con otras publicaciones. Transcurrió algún tiempo; se reformularon estrategias, nos adecuamos a nuevas situaciones en el ámbito de la cultura y hacia el año 2000 decidimos publicar una nueva revista. Matérika es una revista un poco diferente, es “fabricada” como un objeto artístico, donde los segmentos gráficos tienen una gran participación con la poesía, las entrevistas, la narrativa, el ensayo... Es una celebración del color, la imagen visual y la palabra escrita. En cada edición invitamos a un artista plástico a efectuar el proyecto gráfico. Por esta revista han transitado relevantes artistas de América Latina. Es un vehículo muy importante en el soporte y la divulgación de nuestras ediciones de libros de poesía, narrativa, gráfica. Por medio de las revistas literarias o de ideas, de algún modo se encuentran los escritores, los poetas, los pintores, y surge el canje, el fluido intercambio de ideas, entre publicaciones y entre países. FM - Algunas revistas han puesto especial atención a la poesía de otros países, incluso algunas dedican buena parte de sus páginas a su difusión. ¿De qué manera este asunto es encarado por Matérika? Esto tiene relación con el mundo globalizado y la ambigüedad implícita en la universalidad de la cultura. AP/TS - Para Matérika la difusión de la poesía es tan importante como la difusión del ensayo, de la narrativa, de la crítica literaria, que en otros espacios son prioritarios. Por ejemplo en el N°2 buena parte del contenido se dedica a una muestra de la poesía brasileña.. A partir de esa edición comprendimos que eso era un acierto y una deferencia con nuestros lectores y con las exigencias del mundo actual. En cada edición proponemos una muestra de la poesía continental. Por ejemplo para próximas ediciones presentaremos poesía guatemalteca y nicaragüense. Podemos añadir que en revistas amigas de otras latitudes hemos dado a conocer selecciones de la poesía actual costarricense. FM - ¿De qué manera el estado ha actuado o ha subvencionado sus proyectos editoriales y cual ha sido el resultado de esta actuación? AP/TS - La revista Matérika es respaldada por el sello Ediciones Andrómeda y el Taller de la Imaginación; es un proyecto de autogestión cultural. No pedimos ni contamos con el apoyo financiero del Estado. Consideramos que las revistas nacionales de cultura en algunos países han logrado buenos resultados: por su apertura, y difusión de las ideas. En Costa Rica hay revistas que tienen el apoyo del estado; son prácticamente “invisibles” pues no salen de las bodegas... Nuestro apoyo son los amigos, los lectores, que colaboran con nuestras propuestas editoriales. FM - ¿Matérika circula solo en su versión impresa o también tiene su módulo virtual? AP/TS - Decíamos que en las épocas anteriores a Internet “el canje” desempeñaba una importante misión. Hasta el día de hoy “el canje” por medio del correo se mantiene; es muy importante y agradable recibir la revista impresa que llega de México, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Cuba, España, sin embargo, en el año 2004, Matérika decidió contar con su revista virtual. Justamente en diciembre se lanzó la primera edición de Matérika virtual. Inicialmente hicimos una selección de nuestros materiales, con el propósito de que los lectores de otras las latitudes, merced a este maravilloso invento que es Internet pudieran mantenerse informados del grado de producción cultural existente en Costa Rica y Centroamérica. En la época actual resulta de gran importancia contar con una versión virtual. La respuesta ha sido impresionante. El mundo de Internet se caracteriza justamente por su carácter dinámico, masivo, independiente y libre, donde el público , los cibernautas opinan libremente. En muy pocos días “nuestro libro de visitas” reflejó las más diversas opiniomes; por medio del control que lleva Ditosoft, nuestro cómplice en el proyecto Matérika virtual, quedamos sorprendidos de la cantidad de personas que se acercan a nuestro portal. Mediante los diferentes mecanismos de captación de visitantes hemos constatado el interés que la publicación suscita en la red. Este módulo virtual es editado en Costa Rica por Andrómeda y producido digitalmente en Nicaragua por Ditosoft, lo cual demuestra una vez más, que “la cultura no tiene fronteras”. FM - ¿Qué opinan de la creación de un foro permanente de debates, entre editores de revistas, utilizando Internet? AP/TS - La invitación de Agulha a formular esta clase de opiniones enriquece notablemente el panorama. Agulha de algún modo se convirtió en un buen ejemplo para todo el continente y para el mundo. En nuestro caso la relación con Agulha es particularmente intensa por las relaciones personales que existen entre sus organizadores; eso ha llevado a que realmente se pueda multiplicar el conocimiento de la cultura costarricense, la cultura centroamericana, y la interrelación entre todas las culturas de América Latina. En realidad el foro ya comenzó y tiene un sentido concreto. Debe aplaudirse y apoyarse esta iniciativa. Es particularmente importante que mucha de la gente que se adhiere a los distintos niveles que Internet presenta, lo haga mediante la lectura de esta clase de materiales, muy cuidados, previamente editados y discutidos. Es importante que se imponga una sana discusión entre países como los latinoamericanos que tienen en algunos casos antiguas tradiciones culturales. En consecuencia la suma de este proceso analizándolo por todos los flancos es sumamente positivo. [entrevista realizada em janeiro de 2005] Editor Alfonso Peña Consejo Editor Tomás Saraví - Guillermo Fernández - Floriano Martins - Colombia Truque - Saúl Ibargoyen - Felo García - Carlos Barbarito Dirección Barrio Amón, Calle 9, Avenida 9 Apartado Postal # 159-1002 Paseo de los Estudiantes - San José - Costa Rica, A.C. E-mail: [email protected] http://www.materika.com/ . revistas em destaque palavreiros (brasil) diálogo entre josé geraldo neres & claudio willer De uma oficina literária em Diadema, município da região metropolitana de São Paulo, à Internet, e a um sem-número de conexões não apenas brasileiras, porém latino-americanas. Esta é a trajetória de Palavreiros, e, em especial, do poeta José Geraldo Neres, que tem se dedicado, nos últimos cinco anos, à organização e divulgação desse espaço para a poesia. [CW] CW - Você é capaz de resumir, em umas poucas linhas, o que é Palavreiros? JGN - Usando as palavras de uma amiga; Palavreiros = trabalhadores da palavra = operários/formigas. CW - Dê-nos um histórico, conte-nos como surgiu Palavreiros. Dá a impressão de ser algo coletivo, desdobramento ou conseqüência de atividades de um grupo. Quem são? JGN - Surgiu em 1999, no encerramento de uma oficina literária no município de Diadema, oficina essa ministrada pela Beth Brait Alvim. É aquela velha história (como muitas outras histórias que conheço); bem pessoal acabou a oficina e fica aquele gosto de quero mais um pouco ou está faltando algo. O que fazer? Temos em comum o gosto pela palavra. O que fazer? Onde levar esse sentimento? Existia a idéia de se forma um grupo, esse desejo foi se fortalecendo ao longo das primeiras apresentações públicas, chegando até a inusitada inauguração de uma escultura que representava a "Torre de Babel"(alunos de artes plásticas das oficinas culturais ministradas por Ricardo Amadasi, argentino radicado no Brasil). A princípio foi a experiência de Saraus(centros culturais e escolas), depois o primeiro Fanzine. Naquele momento já contávamos com cerca de 30 ou mais colaboradores: alguns se retiraram ao longo desses cinco anos, e teve a chegada de outros. São interessantes as experiências ao longo desses cinco anos: uma das maiores marcas, é sem duvida uma sarau realizado numa escola municipal de ensino de ensino para jovens e adultos. A escola parou suas atividades naquela noite. Éramos: “estranhos num ninho de curiosidade e espanto”. Além das poesias do grupo, apresentamos poetas consagrados como Cecília Meirelles, Cora Coralina, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade… Até aí nenhuma novidade, mas ao fim da apresentação: - Quando vocês voltam? Passado dois meses, voltamos a mesma escola e, para nossa surpresa, os alunos estavam organizados: tinham escolhido os poemas/poetas para leitura, fizeram jogral, participaram de um poema coletivo. Uma verdadeira comunhão. Tem outras histórias; cada apresentação tem uma em particular, mas sempre fica aquela pergunta: nunca pensamos que um dia nossa iniciativa, aquele utópico desejo nos levasse a tantos lugares: SESC, Escolas e Universidades, Encontro de Escritores de Rio Claro/SP, e além das fronteiras de terras brasilis; Uruguai. Agora deixando a parte de apresentações; o grupo atualmente é composto por(ativos e não ativos): A. Smero, Arildo Correia Lima, Beth Brait Alvim, Cleibson Carlos, Edson Aquino, José Geraldo Neres, Juan Carlos Rodriguez Latorre, Maria de Lourdes, Maria Regina Oliveira de Araújo, Marlene Pereira de Lima, Murillo Kollek, Osmar Almeida, Paula Barbosa, e Radi Oliveira (existem ainda outros colaboradores que atuam indiretamente). É verdade que há uma tendência de se reestruturar o grupo ou que ele venha a funcionar uma pouco mais. Creio que isso se deve ao fato de que num determinado momento o desejo do individuo vem influenciar o grupo, ou a aparição do velho desejo do homem de trilhar novos outros caminhos. O Palavreiros tem um filho: Formigueiros (que seria a vertente musical do grupo, e que agora dá seus próprios passos). Alguns dos participantes começam a dar suas primeiras oficinas literárias, a fazer intermediações em projeto de apreciação estética/literária "Q. Poética?" e em outras atividades culturais. E temos ainda o nosso caminhar na grande rede (que surgiu como alternativa de divulgação de nossos textos, após o rompimento de um convênio-patrocínio que tínhamos para publicação de nosso Fanzine). Fizemos nossa primeira página em 2000, e depois disso o site foi crescendo e agregando outros poetas/escritores. O site acabou sendo a grande válvula de escape e excelente ferramenta de divulgação literária e intercâmbio, sendo incluído no diretório mundial de poesia da Unesco: www.unesco.org/poetry. Creio que devo ter me estendido por demais, mesmo sabendo que existem outras histórias ainda por contar. CW - Que papel você desempenha em Palavreiros? JGN - Desde a fundação do grupo em 1999, venho desenvolvendo o papel de relações públicas do grupo, desde 2001 sou o responsável pela manutenção do site, e realização de um festival virtual de poesia que está na sua terceira edição (a última edição contou com a participação de poetas de 38 países, a edição de 2005 está ainda sendo estudada). CW - Essa conexão hispano-americana, com uma presença forte de autores e obras em língua espanhola, algo que diferencia Palavreiros de outros periódicos eletrônicos, como aconteceu? JGN - Creio que foi com a realização do festival virtual de poesia. Foi algo surpreendente: o poeta que estava participando convidava outro e esse outro. Eles acreditaram na proposta dessa antologia virtual e se organizaram para que cada país estivesse poeticamente representado. A notícia do festival saiu em programas de rádio em Puerto Rico, em jornais na Bolívia, e não esquecendo dos diversos divulgadores pela grande rede. É interessante essa cumplicidade: poetas que não tinham micro eram indicados por outros que possuíam essa ferramenta. Na ausência de poetas de um determinado país, por exemplo: no Paraguai, contei com o auxílio de Tereza Méndez-Faith. Com relação aos poetas árabes; a interlocução da poeta Belén Juárez (Coodinadora del Programa Cultural "Puerta Abierta del Diálogo Internacional", 2001-2002, Fundación Euroárabe (España). E isso foi uma constante, o círculo foi aumentando cada vez mais e mais. CW - Diga algo sobre a expansão de sites e divulgação de poesia pela internet. Quais são seus principais parceiros e interlocutores? JGN - O site foi ganhando força ao longo desses 5 anos. E algo que é necessário de se dizer: tratando-se de sites de literatura; existe sempre a divulgação ou vinculação/indicação de navegação para outros sites. E funciona também a velha forma de propaganda; um amigo apresenta outro e assim vai. Atualmente não possuímos parceiros (creio que isso deverá mudar em breve; será reformulada a seção de links e criada uma seção de destaque relativo a esses possíveis parceiros, seja ele financeiro ou divulgador.). Mas sem duvida, algo que ajudou muito no crescimento do site foi a sua inclusão no diretório mundial de poesia da Unesco. Existe ainda a divulgação/indicação de navegação do Instituto Camões - Centro Virtual- de Portugal. Na verdade seria preciso mais linhas para poder mencionar todos(as) os(as) divulgadores(as). Com a alteração/reformulação da seção links isso deverá estar solucionado, pois devemos muito a esses(as) amigos e amigas. CW - Haverá alguma expansão de Palavreiros no meio impresso, sobre papel? JGN - Na verdade não seria uma expansão e sim um retorno; começamos com um Fanzine impresso (1000 exemplares, com cerca de 18 páginas, com poesias, crítica literária e ilustrações) e depois a parceira foi rompida sem maiores explicações (até hoje não sei ao certo o motivo). Precisamos retornar ao papel. CW - Certa ocasião, você me falou que recebe 100 e-mails por dia. Em matéria de acessos, como está Palavreiros? Quem o acessa ou consulta? JGN - Com relação a conteúdo; são mais de 20.000 páginas (O grupo Palavreiros possui um espaço próprio, cada participante do grupo possui sua página. Temos uma média-mês de 15.000 visitas (houve ocasiões em que a visitação diária ultrapassou a casa de 1.500 visitas). Sendo que em torno de 40% dessa visitação é daqui do Brasil e o outro percentual representa a visitação de mais de 70 países. Nossa lista de contatos ultrapassa 6.000 contas de e-mails. CW - O que você gostou mais de publicar ou divulgar em Palavreiros? JGN - Sem contar a divulgação de livros, celebrações literárias e outros acontecimentos… O prazer apareceu em vários momentos. Um desses momentos foi o de publicar poemas de integrantes do Taller "El rincón de los niños cubanos". Te presento a cuatro hermanos,/ Cada uno es una esfera,/ Cada uno un tenue fuego,/ Aquí tienes a Vulcano,/ Viviendo junto a la Tierra,/ Aquí tienes a Mercurio,/ Habitando con Neptuno,/ Más acá te muestro a Cintia/ En un abrazo con Bóreas,/ Y por Último está Apolo,/ El grande consigo mismo,/ Para verlos perecer / Basta golpear a cualquiera,/ Pues los ligan mutuos vínculos, / De extraña naturaleza/…(fragmento do poema "Arcanos naturales" de Guillermo Badia Hernández, 15 anos). Não somente pela força mítica do poema, mas por saber que existem pessoas preocupadas com a vivência poética dos jovens. E também a descoberta da poesia de outros países, bem como o intercâmbio literário com nossos irmãos de São Tomé e Príncipe, na África. E nossos hermanos do 1º Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicarágua. Existem ainda outros contatos, mas isso farei noutra oportunidade. E um momento triste: a morte de uma amiga e divulgadora, Yêda Schmaltz, mantivemos contato por cerca de 2 anos ou mais, e para tentar registrar essa amizade, nós criamos uma seção especial dedicada a ela. CW - O que você gostaria de apresentar ou pôr em Palavreiros e ainda não fez? JGN - Gostaria de publicar edições especiais de poesia e prosa de cada país que mantemos contato. E fazer sair da gaveta uma revista digital de literatura que a principio se chamaria: "Esfinge Móvel" O primeiro esboço dessa revista pode ser acompanhado no endereço http://www.palavreiros.org/esfinge/home.html CW - E o futuro? Quais serão os próximos passos? Há planos de expansão, haverá crescimento de Palavreiros? Quantitativo, qualitativo ou ambos? Algo deverá ou deveria mudar? JGN - Tenho planos, mas isso só deverá acontecer depois de março, 2005. (Expansão, fortalecimento, a criação de outros intercâmbios literários, um selo próprio, sede ou local de reuniões, etc. Mas isso tudo ficará na dependência dessa futura reunião.) [entrevista realizada em janeiro de 2005] Grupo Palavreiros [5 anos de atividades culturais] A. Smero, Beth Brait Alvim, Cleibson Carlos, Edson Aquino, José Geraldo Neres, Juan Carlos Rodriguez Latorre, Maria de Lourdes, Maria Regina Oliveira de Araújo, Marlene Pereira de Lima, Murillo Kollek, Osmar Almeida, Paula Barbosa e Radi Oliveira www.palavreiros.org/palavreiros.html . . revistas em destaque piel de leopardo (argentina) diálogo entre jorje lagos nilsson & floriano martins FM - Como surge Piel de Leopardo, motivada por qual desejo? JLN - Hacia 1989/90 -no lo recuerdo con exactitudconocí en Buenos Aires a un grupo de jóvenes poetas chilenos: Jesús Sepúlveda, Guillermo Valenzuela y otros. Dos años después, en Santiago de Chile, conversamos sobre la necesidad de una revista de cultura, no sólo de letras. Meses más tarde ellos logran publicar Piel de Leopardo. En 1994 (había regresado a Buenos Aires) Sepúlveda me escribe: ¿podía yo encargarme de la revista? Acepté. Pudimos imprimir dos números. No más por razones de tipo legal, contable y administrativo. Desde 2000 Piel de Leopardo es una publicación electrónica. El deseo, la gana, la voluntad detrás del esfuerzo es ayudar a construir puentes; puentes entre las regiones de América Latina y puente entre América Latina y el resto del mundo. Sí, una ambición muy grande para lo que somos, pero por algo se empieza, ¿verdad? FM - Como funciona Piel de Leopardo (estrutura financeira, distribuição, equipe, definição de pauta, relação com colaboradores etc.)? JLN - Entre 2000 y 2003 fue una revista bimensual. Existía un Consejo editorial al que llamamos Sóviet, lo que suscitó algunas protestas -que rechazamos: nunca fue una publicación marxista-. El sóviet se reunía virtualmente, puesto que vivíamos en diferentes partes del mundo, y se decidían algunas políticas inmediatas. Nunca hubo una estructura administrativofinanciera; un compañero se encargó de su distribución en Buenos Aires, para los números en papel, y cuando pudimos editarla para internet descontábamos que sería gratuita. La relación con los colaboradores era directa y horizontal. Como ocurriera en su etapa chilena, ciertas circunstancias nos obligaron a suspender su aparición en 2003. A fines de ese año un grupo de entusiastas “subió” un último número. El sueño porfiado como todos los sueños- paradójicamente no dejaba dormir. En octubre de este año de 2004 volvimos. Estudiamos mecanismos para mantenerla y poder cumplir con sus objetivos. Uno de esos mecanismos es la puesta en marcha de un aparato editorial. De hecho en Buenos Aires logramos publicar alrededor de una docena de libros de escritores de diversos países: Sylvia Vergara, Venezuela; Adriano Corrales, Costa Rica; Jesús Sepúlveda y Álvaro Leyva, residentes en Estados Unidos; Joaquín Carreras y Luis Benítez, argentinos, etc… Para esta tarea tuvimos impulso, ayuda y solidaridad particulares; en concreto de la biblioteca virtual Wordtheque. En esta etapa pretendemos ediciones compartidas con otras editoriales pequeñas, grupos culturales, etc… En Chile tuvimos este año (2004) una buena experiencia al respecto. FM - De que maneira o Estado (governo) tem atuado na subvenção de projetos editoriais e qual tem sido o resultado dessa atuação? JLN - La verdad es que no estamos muy al tanto de este asunto. Un poco anarquistas pensamos que nada bueno sale de las relaciones con los gobiernos u otros grupos de poder -o aspirantes a ser poderosos-. Alguna experiencia nos indica que los gobiernos atienden, casi exclusivamente, proyectos afines con sus objetivos. No hemos participado en esas rebatiñas. FM - Muitas revistas têm mostrado atenção em relação ao que se passa com a poesia em outros países, algumas delas dedicando suas páginas de maneira substanciosa à difusão dessa poesia. De que maneira este assunto é compreendido por Piel de Leopardo, sobre a função que desempenham editores de revistas, observando a ambigüidade de uma universalização da cultura hoje tão evocada? JLN - Piel de Leopardo -el animal para los íntimos- no se define como una revista literaria, y esta circunstancia tal vez marque la respuesta. Pensamos que en la literatura, y de manera particular en la poesía, habita buena parte de nuestras identidades culturales y memoria histórica: habitan en ella, se expresan en ella, en ella se buscan y se nombran por ella. En las próximas semanas habilitaremos sendas carpetas (secciones) nuevas. Una para intentar difundir textos literarios y trabajos de arte en pintura y fotografía; otra para procurar ampliar nuestro radio de acción a través de la publicación de las cartas de nuestros lectores. Nuestros lectores en general no son literatos. Creemos que el asunto -tan mentado en los últimos años- de la universalización de la cultura (globalización que llaman) no conduce tal como está concebida a favorecer el intercambio horizontal entre las culturas; más bien integra un arsenal ideológico estratégico para “ensimar”, si cabe la expresión, a las identidades regionales, no para “encimarlas”. Y pensamos que sólo la integración de lo regional -que no es lo mismo que lo nacional, no necesariamente- posibilitará esa universalización. Lo regional expresa la identidad en materia de habla, étnica, de producción, etc… Desde esta óptica desde luego que procuraremos difundir poesía en la medida que nuestros (escasos) recursos lo permitan. De hecho, y más allá de la aterradora experiencia económica de la editorial en Buenos Aires, esa es nuestra intención. FM - O que pensas da idéia de criação de um fórum permanente de debates, entre editores de revistas, através da Internet? JLN - Que es hora de poner a caminar la internet. La aplaudo. *** Piel de Leopardo (www.pieldeleopardo.com), cultura y política desde Latinoamérica, es una revista de información, análisis y opinión alternativa a la que suelen entregar los medios tradicionales a sus lectores. Fundada por el escritor Jesús Sepúlveda y un grupo de jóvenes intelectuales en Santiago de Chile a comienzos de la última década del siglo XX, conoció una etapa gráfica en Buenos Aires antes de consolidarse como publicación electrónica en 2000. El objetivo central de Piel de Leopardo es servir de puente para la difusión del pensamiento crítico y la opinión independiente que se genera en América Latina y para informar de lo que ocurre en la base de nuestras sociedades: movimientos sociales, naciones originarias, grupos culturales, asociaciones ciudadanas, agresiones al ambiente, etc. Nuestro mercado no se encuentra en un país u otro; nuestra nacionalidad en este sentido es el idioma en que nos lee. Y nuestra asociación con Arcoiris TV, además, nos permite enriquecer el trabajo con documentales, entrevistas y reportajes que normalmente no se pueden ver en la televisión comercial por considerarlos sin interés o porque han sido censurados. Usar Arcoiris es muy simple: Se entra en el sitio, se busca un video en categorías y se elige el tipo de conexión más adecuada al MODEM (ADSL para las conexiones de banda ancha y 56k para el MODEM analógico). Sin tiempo de espera, aparecerá la cinta, pues los lectores de archivos de video (Real Player y Windows Media Player) consienten el uso de la tecnología llamada streaming. Quien no tiene en su computador el lector adecuado, lo puede bajar sin costo y fácilmente desde la misma página de Arcoiris tv. [entrevista realizada em dezembro de 2004] Comité editorial Editor general: Jorje Lagos Nilsson Coordinación: Ximena Villanueva Ernesto Carmona, Luigi Lovecchio. Sylvia Vergara, Armando Salazar, Juan Carlos Mege, Jesús Sepúlveda Webmaster: Andrea Campagna Quienes quieran hacer sugerencias para mejorar el sitio o colaborar en él, pueden escribir a [email protected]. . . revistas em destaque blanco móvil (méxico) diálogo entre eduardo mosches & floriano martins Em www.revista.agulha.nom.br/ag31revista7.htm temos uma outra página dedicada à mexicana Blanco Móvil, o que agora se renova concierando que a revista, com 95 números publicados até o momento, está completando 20 anos de aventura editorial, tendo sempre à frente seu fundador, o poeta Eduardo Mosches, argentino de nascimento, radicado mexicano. Blanco Móvil é revista essencialmente literária, com a característica de que cada uma de suas edições é inteiramente ilustrada por um único artista plástico. As edições costumam ser temáticas e, ao longo destes anos todos, duas delas foram já dedicadas à poesia e à prosa no Brasil. A seguir, um breve diálogo com seu editor, Eduardo Mosches, realizado em fevereiro de 2005. [FM] FM - Como surge Blanco Móvil, motivada por qual desejo? EM – El nacimiento de la revista se da en una librería. En 1985 nace un proyecto de realizar una revista representativa de la librería Gandhi, en la Ciudad de México. Esta librería, en esos años, intentaba corporizar un proyecto cultural, tenía un foro cultural y asimismo, una pequeña editorial, Esta revista funcionaba como un eslabón de interés entre los potenciales lectores y la literatura. Asi fue, hasta 1988, donde decidimos independizarnos, y resolvimos continuar con este proyecto independiente. FM – Como funciona Blanco Móvil (estrutura financeira, distribuição, equipe, definição de pauta, relação com colaboradores etc.)? EM – Funciona gracias a la buena voluntad de los colaboradores, los que gratuitamente, participan en el proyecto. En el mismo se incluyen los narradores y poetas, los ensayistas, pintores y fotógrafos, los diseñadores, y se ve ayudado, hasta con la buena voluntad del mismo impresor, que pacientemente, espera a los tiempos de pago. Es una especie de cooperativa de la buena voluntad de los creadores. FM – Blanco Móvil circula apenas em sua versão impressa ou há também um módulo virtual? EM – Hubo in intento de realizar un modelo virtual, pero nos quedamos sólo en eln inicio. Esperamos retomar activamente dicha posibilidad alternativa. FM - De que maneira o Estado (governo) tem atuado na subvenção de projetos editoriais e qual tem sido o resultado dessa atuação? EM – El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, una especie de Secretaría de Cultura, creó un programa de apoyo a las revistas culturales independientes, desde hace unos diez años, el cual da un apoyo para las necesidades de producción de la publicación. Se puede recibir por dos años consecutivos y después hay que realizar un descanso de un año, e intentar nuevamente la obtención de dicho apoyo. Actualmente, se sigue otorgando dicho apoyo a través de un Fondo nacional, pero el actual gobierno de centro derecha, ha buscado una forma en que dicho apoyo se convierte en un pago , puesto que la revista debe expedir una factura por esa cantidad de dinero. Una concepción mercadotécnica. La revista lo recibió en 1994 y 95 y después , reincidió en recibirlo en 2002 y 2003. FM – Muitas revistas têm mostrado atenção em relação ao que se passa com a poesia em outros países, algumas delas dedicando suas páginas de maneira substanciosa à difusão dessa poesia. De que maneira este assunto é compreendido por Blanco Móvil, sobre a função que desempenham editores de revistas, observando a ambigüidade de uma universalização da cultura hoje tão evocada? EM – La concepción editorial de nuestra revista ha sido y es la de acercarse a a diferentes expresiones literarias nacionales, es parte de la intención de transmisión literaria internacional el haber dedicado números a poetas y narradores de países como Angola, Belice, Líbano, Cataluña, Alemania, Francia, Italia, Israel, y una buena cantidad a los países latinoamericanos, entre los que se encuentran Costa Rica, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, y obviamente, Brasil. Abrir ventanas de interés y conocimiento de poetas y narradores de este tan golpeado y sufriente planera. FM – O que pensas da idéia de criação de um fórum permanente de debates, entre editores de revistas, através da Internet? EM – Me parece interesante la posibilidad de concretar esa proposición. Es una forma de acercarnos a consolidar la existencia de la República de Difusión de la Escritura Creativa. Conocernos para conocerse. La cercanía de la palabra escrita difumina tranquilamente las distancias y las fronteras políticas. Un planeta sin fronteras, en que la fuerza de la palabra escrita reúna y conjugue ese verbo de la solidaridad. Con la excelente ayuda del verbo traducir, estaremos consolidando la difusión , esta vez sí, globalizadora, de la literatura. Director: Eduardo Mosches Corresponsales Arturo Carrera (Argentina) Floriano Martins (Brasil) Carles Duarte (Cataluña) Jesús Cobo (Espanha) José Kozer (Estados Unidos) Enrique Noriega (Guatemala) Rafael Rivera (Honduras) Marcela London (Israel) Edwin Silva (Nicarágua) Eduardo Chirinos (Perú) Eduardo Espina (Uruguay) Momoluco # 64 – Santo Domingo Delegación Coyoacán, México DF Teléfono y fax: (55) 56-10-92-99 e-mail: [email protected] www.blancomovil.com . jornal de poesia .. triplov . revistas em destaque literatura on line (brasil) diálogo entre laudemir guedes fragoso & edson cruz O sítio Literatura Online-LOL, dirigido por Laudemir Guedes Fragoso, é muito interessante em vários aspectos. Você encontra em suas páginas muitas dicas para vestibulandos, cursos abordando os movimentos literários, noções de competência lingüística, espaço para novos autores e - o que eu mais gostei - muitos títulos disponíveis para downloads. Laudemir é formado em Letras (Inglês-Português) pela FFLCH-USP e atualmente dá aulas no ensino Médio e em cursinhos prévestibulares. A identidade visual de seu sítio está a cargo de Luciano Santos e a programação é de Rodrigo Mondelo. Abaixo um pequeno bate-bola com ele. [EC] EC - Como e quando surgiu a idéia do site e se ele está mantendo a idéia original? LGF - O LOL foi elaborado para atender os estudantes de Ensino Médio e principalmente os vestibulandos, entretanto, conseguiu atrair a atenção dos amantes de poesia e estudantes de Letras, o que nos forçou a planejar algumas alterações, que entrarão em vigor muito em breve. O LOL surgiu há cerca de quatro anos depois que foi constatado que a internet é um meio poderoso de difusão de informações, mas sub-utilizado. Soma-se a isso a cobrança de alguns alunos com relação a reforço sobre o que era explicado em sala de aula, sobre quais elementos são mais importantes na análise de textos, comentários sobre livros de diferentes vestibulares etc. Assim, tivemos a necessidade de fazer com que os internautas entrassem em contato com textos de qualidade de maneira a aumentar o repertório cultural e a competência lingüística e, sozinhos, pudessem realizar seus próprios exercícios de abordagem da língua. Melhores informações podem ser encontradas no nosso press release, na seção LOL NA MÍDIA de nosso site. EC - Gostei daquelas salas especiais para autores. Você acha que alguém da nova geração de autores já mereceria uma sala daquelas? LGF - Quanto às salas, informo que está sendo preparada uma ampla atualizada do LOL, o que permitirá a presença de mais salas, além de uma maior abertura para participação do internauta. Com essa reformulação, grandes autores contemporâneos também serão lembrados. EC - Você acha que a nova literatura virá da Internet? LGF - Em primeiro lugar, um novo mundo está vindo da internet. Assim, a nova literatura poderá muito bem ser influenciada por esse meio. Entretanto, fica difícil prever como será sua linguagem ou a sua filosofia. Pode-se entender que a rede nada mais é do que a transposição do mundo "aqui de fora". O que a rede permite é uma maior e mais rápida circulação de idéias. Tudo se tornará mais efêmero? Mais superficial? Mais globalizado? Ainda é cedo para se afirmar algo. Entretanto, vislumbro com entusiasmo três elementos da net que podem abrir caminho para a "nova literatura". Um é o blog. Muita coisa interessante surgirá daí. Qualquer um pode colocar o que quiser na rede. Daí vem o segundo elemento: poemas, contos e romances são publicados sem a necessidade de se caçar uma editora. É maravilhoso imaginar que um enorme obstáculo foi removido aí. O terceiro é que a rede mundial permite uma maior discussão, uma maior abordagem crítica dos textos literários. Basta ver a enorme quantidade de comunidades no Orkut sobre escritores. Permite-se que gente de várias partes do mundo discuta Drummond, Machado, Nelson Rodrigues. Está-se, construindo, pois, um hipertexto cultural fabuloso e assustador. EC - Você tem acompanhado esta nova geração de prosadores da literatura brasileira. Quem você destacaria? LGF - Eu tenho uma visão muito crítica e talvez conservadora. Eu preciso de muito tempo para poder dizer se um escritor de fato é bom ou não, o que faz com que minha lista de apreciáveis não seja tão "atual". Destaco Luís Vilela, Wilson Bueno e Chico Buarque. EC - O LOL incentiva a produção literária de seus leitores? Como? LGF - A seção TALENTOS nasceu justamente para incentivar os textos de nossos leitores, além de provar que literatura não está apenas nas mãos dos "monstros sagrados". Basta, portanto, nosso usuário mandar o seu texto por meio da referida seção. E na nossa próxima versão, adianto que TALENTOS estará atrelada a um fórum em que não só o site comentará a produção publicada, mas também todo internauta que estiver disposto para tal. EC - Vejo a Internet como uma possibilidade de nos comunicarmos com outras culturas literárias. Como você vê a produção, por exemplo, de nossos hermanos latinos? O LOL está aberto para eles também? LGF - O LOL está voltado exclusivamente para a Língua Portuguesa, o que por si só é uma tarefa grandiosa. Não há projeto, por enquanto, para ampliar esse universo. EC - Quais serão estas alterações previstas por você? Você chamaria isto de amadurecimento? LGF - Em parte é um amadurecimento. Mas é também uma tomada de consciência. Fizemos o site focado para os vestibulandos. Entretanto, estudantes de Letras usam-no bastante, assim como professores. Além disso, os amantes de Literatura, que não têm vínculo algum com esses exames de admissão, são assíduos freqüentadores. Assim, prestando atenção ao nosso público, resolvemos ampliar nossas atribuições, sem nos desviarmos de nossa meta inicial - divulgar a literatura em língua portuguesa, ou seja, os tesouros que a nossa língua produz. EC - Pela sua experiência com o ensino médio e vestibulandos, dá pra se ter idéia de como são os hábitos de leitura desta moçada? A impressão que tenho é que lêem só por obrigação. LGF - Como tudo, não se pode generalizar. Há os que só lêem por obrigação. São maioria. Pior - há os que nem lêem: só querem saber de resumo. E para tornar o quadro mais dantesco: há os que não lêem resumo superior a dez páginas (Sagarana, por exemplo, que tem seu resumo comentado na seção DOWNLOADS, tem 25 páginas). Entretanto, há alunos que não querem resumo, querem ler a obra e outros que relêem com gosto. E há ainda os que lêem o que o vestibular ou a escola não cobra, como Tolstói, Rimbaud, Oscar Wilde, Goethe, sem mencionar os que têm contato - para minha alegria - com autores de que eu não tinha conhecimento. Acabam ampliando meu repertório cultural. EC - Você pensa em ter colunistas e dar mais destaque para inéditos, visto que há muitos talentos e muita criação sem espaço nas edições convencionais? LGF - Na nova versão do LOL, que está no forno, haverá mais espaço para inéditos, tanto em prosa quanto em poesia. Além disso, colunistas e matérias especiais - todos relacionados à literatura - farão parte de nosso conteúdo. O nosso site vai-se tornar, definitivamente, uma revista literária, não apenas uma página para o vestibular. EC - Você acredita mesmo que se pode ensinar Literatura para alguém? LGF - Deve-se tomar cuidado para não se provocar uma mistura perigosa aqui. A intenção do LOL não é ensinar a fazer Literatura. No máximo, o que ele poderá fazer é despertar o que já está latente em alguns internautas, como se pode ver pela seção TALENTOS. Nossa intenção é fazer com que os internautas tomem conhecimento dos melhores textos que a língua portuguesa produziu e ainda produz. É uma questão de buscar ampliar o repertório cultural de nosso usuário. Se este não conhece nada de Literatura, encontrará uma boa oportunidade. Se já for um aprendiz de literato, desenvolverá muito o seu estilo pela leitura dos textos apresentados aqui, tanto os canônicos (na seção CURSO DE LITERATURA) quanto os não-canônicos (seção TALENTOS). E os que já forem grandes literatos, não perderão nada em nos acessar. EC - O que é Literatura para você? LGF - Quanto à definição de Literatura, livros e livros e livros foram escritos com essa intenção. Se eu quisesse dar uma acepção perfeita e absoluta, seria presunção. Mas pode-se começar a entender Literatura como um conjunto de textos elaboradamente estéticos de uma determinada língua. Por isso, acabam se tornando os tesouros de toda uma cultura. Assim, o falante de Português, por exemplo, pode não gostar de Literatura, mas tem a obrigação de conhecê-la, para poder ser um cidadão crítico e consciente. EC - Não me leve a mal, mas estar atrelado a esta máquina triturante que são os vestibulares, e seus padrões de exclusão, não é (no mínimo) limitador para a Literatura? LGF - O objetivo do LOL está um pouco acima dos vestibulares. Acreditamos que se dermos insumos para o internauta manipular adequadamente a língua portuguesa, estará preparado até para os bons vestibulares. Os maus, acertando ou não a questão, ele passará de qualquer jeito. Em suma, o que queremos é contribuir para a ampliação do universo cultural dos nossos internautas. Seu trabalho com vestibular virá como conseqüência. Não se deve esquecer, entretanto, que os bons vestibulares têm a capacidade de reorientar o Ensino Médio. Basta notar que a partir do instante em que a FUVEST começou a cobrar redação em seus exames, as escolas passaram a se preocupar com esse tópico. Em suma, devese pensar no vestibular, mantendo a devida distância crítica para não se acabar limitado a ele. Direção: Laudemir Guedes Fragoso http://www.lol.pro.br/ . jornal de poesia .. triplov . revistas em destaque suplemento literário minas gerais (brasil) José Aloise Bahia 1. A língua portuguesa ganha um presente valioso. A partir de agora todo o conteúdo das mais de 1.200 edições do Suplemento Literário de Minas Gerais está disponível para consulta na Internet: www.letras.ufmg.br/websuplit. Segundo Júnia Lessa França, bibliotecária da FALE/UFMG (Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais) e responsável pelo projeto “Suplemento Literário, 38 anos. Acervo de 1966/2004”, o movimento surgiu numa parceria inédita da FALE/UFMG, Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte e a FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais). A FAPEMIG já investiu mais de R$ 30 mil. O sítio abrigará todos os exemplares, inclusive o inicial, lançado no dia três de setembro de 1966, pelo editor-fundador, o escritor Murilo Rubião (1916-1991), um dos introdutores do Realismo Mágico na literatura brasileira. O projeto começou em 1998. Uma equipe de bibliotecários da FALE/UFMG, num trabalho pioneiro, produziu um banco de dados, pautado em referências como ano, mês, edição, assunto, ilustrador, título de artigo e autor. Até então, não havia qualquer trabalho de indexação. As digitalizações dos textos começaram em julho de 2004. Os originais impressos, estão encadernados, serão restaurados e guardados numa sala especial da biblioteca da FALE/UFMG. O acervo será doado, através de microfilme, para o suplemento literário. 2. No começo, Murilo Rubião enfrentou vários problemas na implantação do jornal. O principal deles: na época a produção intelectual mineira era escassa. O jeito foi apelar para as colaborações de autores nascidos em Minas Gerais que moravam fora, pensadores e escritores de outros Estados e até de outros países. Guimarães Rosa, no Rio e Murilo Mendes, em Roma, foram os principais nomes. A proposta inicial do SLMG era publicar autores consagrados e desconhecidos - característica que é mantida até hoje -, mas também contemplar outras manifestações culturais como o teatro, o cinema e as artes plásticas. A primeira edição tinha ilustrações internas de Yara Tupynambá e Álvaro Apocalypse (ambos estudaram com Guignard). Os textos principais foram à interpretação de Laís Correa de Araújo sobre os livros de Clarice Lispector, o artigo “Verdade e Ficção” do escritor pernambucano Austregésilo de Athayde e o poema “O País dos Laticínios” de Bueno de Rivera. O sucesso foi tão grande que no primeiro aniversário (1967) circulou uma publicação especial com Carlos Drummond de Andrade, Dalton Trevisan, Haroldo de Campos e Benedito Nunes. As edições especiais eram de capas-duras e plastificadas. Outro destaque foi à edição dupla no segundo aniversário, com trabalhos de jovens escritores e artistas plásticos. Marcou época e ficaram conhecidos como a “Geração Suplemento”, cuja verve contista era formada por Luiz Vilela, Ivan Ângelo, Sérgio Sant´Ana, Jaime Prado Gouvêa, etc. como chama a atenção Humberto Werneck no livro O Desatino da Rapaziada: jornalistas e escritores em Minas Gerais (Cia. das Letras, São Paulo, 1992). 3. Nas décadas de 1960/70, inúmeros intelectuais e escritores participaram das publicações do SLMG. Só para citar alguns nomes, com participações assíduas: Laís Corrêa de Araújo (com a coluna de crítica literária “Roda Gigante e Informais” que permaneceu até a edição de maio de 1969), o poeta da geração de 45 Bueno de Rivera, o pensador e escritor carioca Alceu Amoroso Lima - o “Tristão de Athayde”, Abgard Renault, Emílio Moura, Pedro Nava, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Oswaldo França Júnior, Henriqueta Lisboa (primeira mulher a pertencer à Academia Mineira de Letras), Affonso Ávila, Silviano Santiago, Fábio Lucas, Márcio Sampaio (artes plásticas), Jota D’Ângelo (teatro) e Flávio Márcio (cinema). Observa-se também o namoro da literatura com o jornalismo em seções de depoimentos e reportagens literárias assinadas por Zilah Corrêa de Araújo e Neil Ribeiro da Silva (influências de Tom Wolfe e do movimento do Novo Jornalismo). Murilo Rubião foi o editor até 1969. Denunciado como subversivo, teve que deixar o cargo. Foi substituído pelo escritor, ensaísta e professor Rui Mourão (premiado em 2002 com o Jabuti da ABL com a ficção Invasões do Carrossel), que antes estava no Distrito Federal, lecionando literatura brasileira na Universidade de Brasília (UnB), criada por Darcy Ribeiro. Na imagem ao lado, da esquerda para a direita, Murilo Rubião, Rui Mourão e Paulo Campos Guimarães na posse de Rui Mourão como editor do SLMG em dezembro de 1969. Entretanto, Rui Mourão é demitido dois meses após a posse, por ordem do comandante da 11a. Região de Infantaria, sediada em Belo Horizonte, general Gentil Marcondes Filho, por não concordar com as brutalidades da ditadura militar. Foi o mais curto espaço de tempo assumido por um editor na história do suplemento. Depois de Rubião e Mourão outros nomes assumiram a direção: Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Ayres da Mata Machado, Duílio Gomes, Mário Garcia de Paiva, Paschoal Motta, Wilson Castelo Branco, etc. 4. Mais recentemente, já sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, foi definido que seria nomeado pelo governador eleito um editor e um conselho editorial. O primeiro foi Carlos Ávila que permaneceu de 1995 a 1998. Em 1999, assumiu Anelito de Oliveira que foi substituído em janeiro de 2004, por Fabrício Marques e um novo conselho editorial composto por Affonso Romano de Sant’Anna, Edimilson de Almeida Pereira, Ricardo Aleixo, Maria Esther Maciel, Otávio Ramos e Régis Gonçalves. Nesta nova fase, o SLMG lançou a edição nr. 1.264 em janeiro de 2004 com ilustrações do artista plástico Antônio Sérgio Moreira, poemas inéditos de Manoel de Barros, Fabrício Carpinejar e Ricardo Aleixo, conto de Guiomar de Grammont, artigo de Édimo de Almeida Pereira sobre a poesia de Adão Ventura, resenha crítica de Nelson de Oliveira sobre o livro “A Teia Selvagem” de Otávio Ramos, Daniel Antônio bate um papo sobre o cineasta e artista multidisciplinar Peter Greenaway com a professora da UFMG Maria Esther Maciel, além da entrevista exclusiva com o jornalista e poeta iconoclasta Millôr Fernandes, entre outras matérias. 5. Atualmente, o SLMG sempre traz em suas capas desenhos de artistas plásticos ou fotógrafos convidados (que ilustram também o restante das páginas). Novas seções foram criadas e sistematizadas: Ensaio, Conto, Poema, Entrevista, Cinema, Primeira Pessoa, Reportagem (em estilo jornalístico, com traços e características da literatura), Crônica, Perfil, Outras Pulsações (semelhante à coluna “Roda Gigante” de Laís Correa de Araújo), Novos Autores, Tradução, Cartas e Fotografia (reprodução de fotografias e textos sobre a imagem). São 24 páginas em formato tablóide. Com um projeto gráfico e programação visual (de Alexandre Mota) marcado pela “clareza” e “limpeza”, fator condizente com a estética textual e artística. Convém relembrar também que este cuidado estético esteve presente na década de 1980 - com Sebastião Nunes - e no período de Guilherme Mansur, nas gestões de Anelito de Oliveira e Carlos Ávila. 6. Enquanto a primeira fase do SLMG segue os padrões rígidos do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (décadas de 1960/70), a versão contemporânea surge de modo mais livre e solto, permitindo uma disposição criativa e original dos textos e ilustrações, garantindo maior leveza ao jornal (ao lado imagem da capa da edição nr. 1.275 de dezembro de 2004, de autoria do artista plástico mineiro Jayme Reis). Características do apurado senso estético nesta nova versão, que é composta de muitos “brancos” e “jogos” com a escrita, fazendo lembrar as resoluções concretistas da década de 1950. Outras observações: o número de autores publicados é maior no período atual. E a quantidade de páginas triplicou (24 na atualidade contra apenas oito nas duas primeiras décadas). Nesta nova fase, o suplemento apresenta delimitações de seções e roteiros mais consistentes e com nomes fixos. As fotos das edições das décadas de 1960/70 não possuíam créditos ao fotógrafo, que é uma característica do jornalismo tradicional (apesar de terem legendas). Hoje, o tratamento das fotografias é diferente, pois além dos créditos, a qualidade de impressão melhorou. 7. A forma dos discursos nos suplementos das décadas de 1960/70, primava por uma divulgação artística não exclusivamente literária – já que tratava com mais ênfase outros temas como o cinema e o teatro, além de contar também com ilustrações de artistas plásticos (que continuam nas edições atuais). Pode-se dizer também que, nas décadas passadas, existia uma preocupação mercadológica, pois os números que não acompanhavam o Diário Oficial, o “Minas Gerais”, eram vendidos em bancas de jornais. Nesta época o jornal possuía uma coluna com o título dos dez livros mais lidos, nacionais e internacionais. Isto pode ser interpretado como uma forma de induzir o consumo de literatura. As fontes são praticamente as mesmas das épocas passadas. O SLMG sempre contou com a participação de autores novos e consagrados, ensaístas, jornalistas, artistas plásticos, fotógrafos e colaboradores (a elasticidade de estilos dos escritores publicados é alta. As variações de assuntos são grandes e as edições especiais em suas diferentes temáticas também mesclam escritores mais experientes e novatos. A última edição especial foi no mês de julho de 2004, e contemplou a fortuna, o legado e a ponte cultural entre Minas Gerais e Portugal). Outra questão relativa às imagens: hoje, a valorização da fotografia se configura com finalidades artísticas e sugestivas. E, não meramente informativas, como nas décadas passadas. 8. O público alvo anteriormente constituía-se de escritores, jornalistas, professores, leitores comuns, políticos, estudantes e funcionários públicos. Atualmente, a partir dos seus pontos de distribuição, o SLMG se destina aos cidadãos, consumidores de cultura e freqüentadores de bibliotecas e livrarias (as edições são lançadas normalmente, mês a mês, em livrarias, espaços culturais e feiras de livros tanto em Belo Horizonte, capitais de outros Estados e cidades do interior de Minas Gerais). O SLMG conta com uma lista de destinatários, pelo correio, elaborado e composto na sua maioria por leitores, escritores, jornalistas, pesquisadores, estudantes de letras, de jornalismo, ciências humanas e sociais, editores de revistas culturais e literárias impressas e da Internet, formadores de opinião pública cultural e literária; universidades, bibliotecas, jornais e revistas do Brasil e exterior. A distribuição é gratuita na sede do jornal em Belo Horizonte, nos eventos culturais promovidos pela Secretaria de Estado da Cultura do governo do Estado de Minas Gerais, nas bibliotecas, centros culturais, teatros, galerias de artes, nos lançamentos mensais, nas prefeituras e inúmeras bibliotecas espalhadas pelo interior do Estado de Minas Gerais. Os exemplares, como no passado são confeccionados em papeljornal e a tiragem impressa é de 15.000 exemplares. José Aloise Bahia (Belo Horizonte/MG). Jornalista e escritor. Autor de Pavios Curtos (anomelivros, 2004). Colaboraram na pesquisa em conjunto as jornalistas Carolina Ximenes Santos e Isadora Troncoso Doehler. Também colaborou o bate-papo pelo telefone com o escritor Rui Mourão, ex-editor do SLMG na década de 60. . . revistas em destaque telescópio (brasil) diálogo entre everi rudinei carrara & claudio willer Dos sites e revistas aqui examinados, na Agulha, o periódico eletrônico Telescópio é o que mais se assemelha a uma trincheira. Seu criador-editor, Everi Rudinei Carrara, de Araçatuba (SP), advogado, músico e poeta, dispara emails para uma lista de algumas centenas de interlocutores, anunciando a discussão de temas da política - um de seus assuntos tem sido o modo como o Governo Lula trai o programa e a história de seu próprio partido - e das artes, especialmente música, cinema e poesia. O leitor deste número encontrará de Sandro Garcia ao Velvet undergroud e Arrigo Barnabé, Buñuel e Pasolini seguidos por um fotogênico elogio a Elizabeth Taylor, entrevistas com o cineasta negro Jefferson De e o poeta Roberto Piva (uma das mais completas, a do Memorial da América Latina), e com a artista teatral Denise Stoklos, entre outros assuntos. Everi Rudinei Carrara montou, portanto, uma constelação eclética, onde têm seu lugar tanto o esteticismo quanto os chamados à rebelião. Vai do fetichismo à revolução. Seu inconformismo visionário resultou em uma imediata simpatia por Agulha, plenamente correspondida. [CW] CW - Você é capaz de resumir, em umas poucas linhas, o que é Telescópio? ERC - Telescópio é um meio de divulgação da cultura alternativa produzida no país e fora dele através da Internet, rádio, jornal, vídeo, leituras em lugares públicos, etc… Começamos como um jornal impresso, mas chegamos à conclusão de que não podemos nos restringir a um determinado formato, pois a própria cultura se manifesta através de vários meios. CW - Dê-nos um histórico, conte-nos faz quanto tempo e como surgiu Telescópio. É iniciativa mais individual ou algo coletivo, desdobramento ou conseqüência de atividades de um grupo? Que papel você desempenha em Telescópio? Faz tudo, ou há colaboradores regulares? ERC - A iniciativa foi exclusivamente minha em relação ao tablóide, cuja primeira edição foi lançada em 1995. Logo em seguida o amigo Marcelo Duarte tornou-se coresponsável pela diagramação e inserção de matéria visual impressa e on-line. Agimos em perfeita coesão, discutindo e trabalhando amigavelmente. Recentemente o amigo Fernando Dagolds também tornou-se um parceiro regular. Os colaboradores são os amigos e pessoas que estejam produzindo algo interessante e que procuram espaço para divulgar seus trabalhos. Há pessoas de toda parte do Brasil e alguns colaboradores estrangeiros também. CW - Quero um perfil seu, uma minibiografia. Dê-me os antecedentes dessa sua relação com poesia e com música, algo sobre sua formação. ERC - Sou advogado e músico profissional (piano e sax), minhas primeiras leituras em poesia se deram por volta dos 15 anos de idade. Sempre gostei de ler poetas e autores diversos, ouvir e tocar músicas e estilos variados, mas tenho especial carinho pelos autores transgressores, o jazz, bossa nova, blues, música oriental, latina, tropicalistas, rock, música concreta, folk, eletrônica, experimental, enfim de tudo um pouco. Os autores que sempre releio, entre outros, são Nietzsche, Voltaire, Sartre, Edgar Morin, Chomsky, Artaud, Murilo Mendes, Octávio Paz, Tchecov, Hess, Kropotkin, Piva, Pessoa, Oswald de Andrade, Ésquilo, Li-Tai-Po, toda a geração beat, e por aí vai… CW - Por que Araçatuba? Circunstância, por você residir aí, ou escolha? Araçatuba já deu algum sinal de reconhecimento por projetar-se assim através da net? Havia (parece-me) parceria com um jornal regional? ERC - Araçatuba é uma “cidade-dormitório”, circunstancialmente mudei-me para cá, vindo de Bauru no começo dos anos 70. Se eu pudesse gostaria de morar e trabalhar em São Paulo, ou em outras cidades mais relevantes que Araçatuba. Se pudesse, até sairia do país… Tivemos em Araçatuba algum reconhecimento e espaço através da extinta Agência Interior (Universidade Toledo) e Folha da Região, um jornal local. No mais, o reconhecimento se restringe a artistas consagrados do rock e da MPB, como Tom Zé, Tetê Espíndola e Arnaldo Baptista, além de jornalistas, poetas, editores, acadêmicos de outras cidades (Caxias do Sul - RS, em especial), movimentos sociais, partidos como o PCO, PSTU, estudantes, anarquistas, sites culturais, de algumas prefeituras (Ribeirão Preto - SP), bandas e gravadoras de rock, programas de rádio (Oscar Quessa Rádio Cultura e Hilda Costa -Jovem Pan). Estes são nossos maiores divulgadores e incentivadores, e ficamos contentes de estarmos inseridos dentro de um universo tão eclético. CW - O que mais diferencia Telescópio de outros periódicos eletrônicos e lhe confere identidade? ERC - A abordagem de temas que normalmente não estão na grande mídia, abrindo espaço para a divulgação de trabalhos e obras marginais. Além disso, parte do que é publicado no Telescópio não provém de fontes tradicionais como agências de notícias, por exemplo, sempre passíveis de manipulação, mas dos próprios artistas e geradores do fato em si. A independência dos meios tradicionais de comunicação é uma das características que buscamos sempre. CW - Chama a atenção Telescópio ser ao mesmo tempo selecitivo, ter preferências manifestas, e eclético. Abrange bossa-nova, com uma espécie de culto a Nara Leão e Menescal, poetas contemporâneos, com destaque para, entre outros, Roberto Piva, cinema, especialmente Glauber, algo de política, inclusive, durante uma época, com atenção ao MST, parece-me. Há uma proposta, uma filosofia ou visão de mundo que unifica ou articula tudo isso? ERC - Nara Leão é minha cantora preferida, representou a modernidade da MPB em pessoa, como advertiu Caetano Veloso em seu livro “Verdade Tropical”. Isso já seria suficiente para justificar minha admiração por Nara, que nunca fez concessões ás gravadoras e aos poderosos, e produziu ao lado de Roberto Menescal discos maravilhosos, sempre apoiando novos compositores, redescobrindo os sambistas negros do morro, esquecidos pela mídia. Além disso, Nara abriu caminho para o samba de protesto, foi irmã da Tropicália, e contestou a ditadura militar num momento crítico, quando muitos se calaram. Gravou de tudo que fosse bom, e sempre se afastou do estrelato, do glamour, da mediocridade reinante. Piva é uma inspiração constante, porque só acredita em “poetas experimentais que tenham vida experimental”, sem desvincular poesia e vida. Piva foge da idolatria, dos clubinhos e academias estéreis de poesia. Glauber também apreciava Nara, houve influência mútua. A virulência poética de filmes como “Deus e o Diabo na Terra do Sol” e “Terra em Transe” ainda são imprescindíveis para quem pretende ver de perto esse país, nossa realidade miserável, nossa pavorosa colonização hollywoodiana, nossa educação cristã debilitada, nossa “esquerdalha” que emperra todas as revoluções possíveis… O MST é um movimento muito importante, na medida em que se insere de forma incisiva na realidade brasileira, na questão do uso da terra, um tema secular e sempre relegado pelas elites no poder. As conquistas nessa área só podem ocorrem através de atitudes de mobilização e organização, e o MST é extremamente atuante e corajoso nesse sentido. CW - Diga algo sobre a expansão de sites e divulgação de poesia e outros temas culturais pela internet. Quais são seus principais parceiros e interlocutores? ERC - Há na Internet uma série de sites culturais muito bons: a Barata, Agulha, Whiplash, Blocos, Jornal de Poesia, sites de Tom Zé e Tetê Espíndola, Fausto Wolff, Continental Combo, Senhor F… a lista é enorme. Mantemos contato e colaboração com todos eles. CW - Em matéria de acessos, como está Telescópio? Quem o acessa ou consulta? ERC - Temos um público restrito, mas seleto: são músicos, escritores, poetas, jornalistas, atores, curiosos ligados às artes em geral. Algo em torno de 400 a 500 visitas mensais. Considerando que a coluna não tem a visibilidade de sites mais consagrados e que é dedicada ao espaço das artes, diria que está razoável. CW - O que você gostou mais de publicar ou divulgar em Telescópio? ERC - A divulgação de bandas de rock, poesia visual, agenda cultural, protestos contra os governos Lula, Bush, Sharon, Blair… Tudo o que publicamos nos dá prazer, mas ajudar a divulgar novos artistas e novos trabalhos acredito ser o mais satisfatório. CW - O que você gostaria de apresentar ou pôr em Telescópio e ainda não fez? ERC - Maiores recursos audiovisuais: trechos de músicas e vídeos, que por exigirem muito espaço e largura de banda, não podem ser utilizados dentro da estrutura atual. Temos espaço restrito de hospedagem, basicamente só utilizamos texto e imagens estáticas, mas o espectro das artes vai muito além disso. CW - E o futuro? Quais serão os próximos passos? Há planos de expansão, haverá crescimento de Telescópio seja na própria net, seja no meio impresso, sobre papel? Quantitativo, qualitativo ou ambos? Algo deverá ou deveria mudar? ERC - Na verdade, o Telescópio surgiu como um tablóide, ou seja, versão impressa. Devidos aos crescentes custos de impressão, houve uma migração para a Internet, um meio que, além de permitir o uso mais amplo de recursos visuais e sonoros, é mais barato de se manter. O ideal seria manter as duas frentes, versão impressa e Internet, mas, uma frase resume tudo: não há dinheiro. Pelo menos não aqui em Araçatuba, onde o interesse dos patrocinadores é mínimo. Mesmo na Internet, dependemos de uma série de colaboradores voluntários, que fazem todo o trabalho por amor à arte. Isso ainda existe, acredite. Há planos de expandir a coluna, incorporando novos colaboradores e novos recursos tecnológicos, mas esse deverá ser um processo lento e contínuo, um verdadeiro exercício de sobrevivência. E estamos atentos às novas possibilidades da tecnologia, faremos uso de tudo aquilo que nos permita acompanhar a velocidade da arte. www.telescopio.vze.com [email protected] . jornal de poesia triplov . revistas em destaque alpha (chile) depoimento de eduardo barraza ALPHA – Revista de artes, letras y filosofía ISSN: 0716-4254 [www.ulagos.cl/alpha/Index.html] Departamento de Humanidades y Arte, Universidad de Los Lagos Casilla 933, Osorno - CHILE. Tel. (56-64)205385; fax: (56-64).239517, e-mail: [email protected] Editores: Eduardo Barraza [[email protected]] y Sergio Mansilla [[email protected]]. ALPHA es publicada en Chile -desde el año 1985- por el Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad de Los Lagos (Osorno). Se publica un número al año que aparece en el transcurso del último trimestre (octubre-diciembre). Durante 20 años se ha publicado de manera ininterrumpida y, actualmente, el equipo editor está preparando el N° 21 correspondiente al año 2005 que aparecerá en diciembre. Equipo Editorial Director responsable y Editor Eduardo Barraza Jara Consejo de Redacción Pilar Alvarez-Santullano Busch Nelson Vergara Muñoz Raúl Aguilar Gatica Secretario de Redacción Sergio Mansilla Torres y Editor Consultores externos Jorge Acevedo, Universidad de Chile, Santiago de Chile Fernando Burgos, Memphis State University, Memphis, U.S.A. Manfred Engelbert, Georg-August Universität, Göttingen, Alemania Daniel Lagos Altamirano, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Pedro Lastra, Universidad de Nueva York, en Stony Brook, U.S.A. Amadeo López, Universidad de Paris XNanterre, Francia Portada Osvaldo Rodríguez Pérez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España HERNAN URRUTIA, Universidad de Deusto, España Jorge Zepeda Traducción y revisión de Gregory Lagos Montoya abstracts Supervisión de impresión Diana Kiss de Alejandro Colaboración Ricardo Ortega procesamiento de textos ALPHA publica artículos y documentos inéditos sobre teoría y crítica literaria, de lingüística, filosofía, arte, estudios culturales y, también, sobre temas que sin pertenecer exclusivamente a alguna de esas zonas del conocimiento constituyen puntos de encuentro de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales. Precisamente, ése uno de los aspectos fuertes de la revista y la distingue de otras de su mismo campo, pues, al equipo editor le asiste la convicción de que es necesario contar con una publicación que sea un espacio disponible para el ejercicio de la diversidad intelectual y académica. Para asegurar la continuidad del perfil académico de ALPHA, que le permita mantener y acrecentar su calidad de revista especializada, el Equipo Editor convoca anualmente -y de manera abierta- a autores chilenos y de otros países para que publiquen en ALPHA. Además, se invita a autores ya conocidos, con los cuales la Revista mantiene algún tipo de vínculos, para que envíen colaboraciones inéditas que garanticen un conjunto de artículos de alto nivel. En ambos casos, sin embargo, los manuscritos son rigurosamente evaluados -conforme a una pauta- por el pleno del Consejo de Redacción de la Revista, que se reúne semanalmente. Para su publicación, cada artículo requiere ser aprobado por la unanimidad del Consejo de Redacción, formado por cinco profesores graduados y competentes en el campo de estudio de ALPHA (entre ellos, el Director y el Secretario de Redacción, que actúan como editores). En el caso de opiniones divididas, se solicita la evaluación de los especialistas externos que forman parte del Comité Alterno de ALPHA, evaluación que constituye un juicio definitivo sobre el manuscrito. Por lo mismo, desde su fundación, ALPHA se ha caracterizado por ser una Revista con un alto nivel de exigencia para la admisión de manuscritos y, estadísticamente, se acepta no más de un 40% de las colaboraciones recibidas. El aspecto relevante de ALPHA es que reúne autores e investigadores de diversos centros universitarios nacionales y extranjeros, tal como se aprecia en los índices que se publican en su página weeb (www.ulagos.alpha/Index.html) y en la inclusión de esta Revista en los registros de MLA, Latindex y en el Catálogo de Revistas Científicas Chilenas de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y SciELO (Scientific Electronic Library on Line). Esto revela que la Revista tiene un reconocimiento internacional importante y constituye un aval para la publicación de estados de avance de tesis y de proyectos de investigación oficialmente concursados. El reconocimiento logrado a la fecha por ALPHA es importante de destacar pues esta publicación periódica revela el esfuerzo una Universidad pequeña, pero de considerable tradición, ubicada lejos de los principales centros metropolitanos de Chile. El reconocimiento internacional de la Revista se debe, pues, exclusivamente a la persistencia del equipo editor y a la sostenida calidad de sus artículos. La revista Alpha acoge artículos, notas, documentos y reseñas. 1. Los temas deben ser inéditos y apropiados para una revista de humanidades (literatura, lingüística, filosofía, artes, estudios culturales, teoría crítica) o temas que sin pertenecer exclusivamente a alguna de estas zonas del conocimiento constituyen puntos de encuentro de las mismas. 2. El tipo de trabajo puede ser en la modalidad de estudio, ensayo, documento, nota o reseña, escrito en español. 3. Extensión recomendable de los artículos: 12 a 20 carillas mecanografiadas a doble espacio incluyendo bibliografía. Para las notas y documentos se recomienda entre 5 a 10 páginas. 4. Todos los trabajos, exceptuando las reseñas y documentos, deberán enviarse con un resumen (abstract) en castellano y en inglés, de una extensión de entre 5 a 10 líneas. Incluir traducción del título del artículo y entre cuatro a seis palabras claves, en español e inglés. Los resúmenes deberán aparecer inmediatamente después del título del artículo. Asimismo, al final del artículo deberá escribirse la dirección postal y electrónica del autor, indicando la institución a la que pertenece (si corresponde). 5. Los trabajos se publican sólo sin son aprobados por unanimidad por el Comité de Redacción de la Revista. En los casos que corresponda será decisiva la evaluación de los Consultores Externos. 6. Los trabajos deben enviarse a la Secretaría de Redacción o a la Dirección de la Revista; una copia en papel y otra en disquete usando procesadores de texto (para IBM o compatible o Macintosh); la copia computacional deberá grabarse usando el formato RTF. También se pueden enviar por correo electrónico a través del sistema de archivo adjunto (attached file), igualmente en formato RTF. Si se opta por esta forma de envío, es igualmente recomendable enviar copia de respaldo en papel por correo ordinario, sobre todo, para el caso de trabajos que incluyan esquemas, tablas, gráficos. 7. Para el número 21, correspondiente al año 2005, se recibirán colaboraciones hasta el 31 de julio de 2005 y su aceptación será comunicada a los autores el 30 de octubre. La Revista aparece en el transcurso del último trimestre de cada año. 8. El aspecto formal de uso de citas y referencias debe ceñirse en lo esencial a la estilo MLA (Modern Language Association). Las especificaciones básicas requeridas son las siguientes: 8.1. Citas de libros o revistas académicas en papel. Las citas directas breves deben ir entre comillas en el cuerpo del texto. Si son extensas (cuatro líneas o más), en renglón aparte, haciendo doble retorno a inicio y final de cita, con margen adentrado y sin comillas. En ambos casos, al fin de la cita, en paréntesis se indica el apellido del autor y la (s) página (s) desde donde se extrajo la cita. Si se está trabajando con más de una obra del mismo autor, se indica el apellido del autor, el título abreviado de la obra citada escrito en itálica y la (s) página(s) desde donde se extrajo la cita. Si en el cuerpo del texto se anuncia la cita indicando el apellido (o nombre y apellido) del autor, al fin de cita en paréntesis sólo se indica la página (o el título abreviado de la obra y la página si se está trabajando con más de una obra del mismo autor); no se menciona el apellido del autor, pues, ya fue mencionado en el encabezamiento de la cita. Ejemplos (sólo se ejemplifica con citas breves): a) Según Nelly Richard, “los textos de crítica cultural serían textos intermedios que no quieren dejarse localizar según los parámetros institucionales que definen los saberes ortodoxos” (144). b) Se ha dicho también que “los textos de crítica cultural serían textos intermedios que no quieren dejarse localizar según los parámetros institucionales que definen los saberes ortodoxos” (Richard 144). c) “La sacralización del texto corresponde a la problemática de la concepción del texto como absoluto” (Carrasco, Nicanor Parra 95). d) “Para el antipoeta no sólo la escritura está en crisis; la sociedad entera lo está” (Carrasco, Para leer 88). Se procede exactamente de la misma manera si la fuente citada es de un autor institucional o corporativo (Naciones Unidas, Consejo de Libro y la Lectura). 8.2. Citas de fuentes en internet. En lo fundamental, se procede de la misma manera que con fuentes tomadas de publicaciones en papel. La diferencia es que en lugar de indicar página, se escribe la expresión “en línea”. Ejemplo: “La necesidad de preservar la biodiversidad se hace cada día más urgente, especialmente por los graves cambios climáticos y, también, por la profunda saturación existencial a la que nos está llevando una modernidad contraria al orden natural del mundo” (Poland, en línea). 8.3. Citas tomadas de comunicaciones electrónicas (e-mails). Al fin de cita, en paréntesis, se indica el autor y se escribe “correo electrónico” y la fecha que corresponda. 8.4. Cita tomada de entrevista inédita realizada por el autor del artículo. Al fin de la cita, en paréntesis, se indica el apellido del autor, y luego se escribe “entrevista personal”. 8.5. Cita tomada de un programa de televisión. Al fin de cita, en paréntesis, se indica el apellido del autor (si procede), el título del programa y la estación que lo emitió. 8.6. Cita tomada de un film. Al fin de cita, en paréntesis indicar el apellido del director y título de la película. 9. Lista de obras citadas (o bibliografía citada). Al final del artículo se hace la lista de las obras de hecho citadas cuyas referencias básicas se han dado parentéticamente en el texto del artículo. Se ordena por orden alfabético tomando como base el apellido de los autores (excepto en los autores institucionales). Si se ha trabajado con más de una obra de un mismo autor, ordenar sus obras desde la más reciente a la más antigua. Se utiliza sangría francesa. 10. Se recomienda se usen las notas al pie exclusivamente para agregar información o hacer comentarios cuyo texto no es conveniente que vaya en el cuerpo del artículo. REVISTA ALPHA – VERSION ELECTRONICA A partir del N° 20, y como consecuencia de su indexación en SciELO, Alpha tendrá una versión electrónica que reproduce los objetivos, modalidades de publicación y de evaluación de la versión impresa. Esto significa que —salvo indicación en contrario del colaborador— los artículos será presentados en estas dos modalidades de publicación. 1.- Política de Acceso Abierto. Alpha, versión electrónica, proporciona acceso libre a todos los artículos que publica de forma que estén disponibles para propósitos educativos, académicos y de investigación y, en general, para cualquier uso no comercial. Los artículos publicados en Alpha, versión electrónica, son además indexados a través de la Open Archives Initiative, con el objeto de hacer más accesibles los trabajos para otros investigadores y, en especial, proporcionar facilidades para un intercambio global y fluido del conocimiento. Para obtener más información acerca de estos aspectos, por favor, visite Public Knowledge Project, una iniciativa de la Universidad de la British Columbia en Canadá, a través de la que se diseñó Alpha, en su versión electrónica. 2.- Normas de Publicación. La publicación en Alpha está abierta a cualquier persona que quiera aportar sus trabajos, cualquiera que sea el carácter de éstos siempre y cuando estén relacionados con la temática de la revista. Las aportaciones deberán ser originales e inéditas. La protección de los derechos correrá a cargo del autor, que es el único legalmente capacitado para este cometido. Los trabajos deberán ser remitidos en formato digital, con la extensión .doc o .rtf. Se aceptarán trabajos escritos en castellano, aunque, excepcionalmente, el Comité de Redacción se arroga la capacidad de reservar el derecho a aceptar trabajos en otras lenguas siempre y cuando la calidad de los mismos justifique su inclusión en la revista. Deberán ir acompañados de un resumen (de extensión de 5 a 10 líneas) y de palabras clave (de cuatro a seis), en ambos caso en castellano e inglés. La extensión de los trabajos es de 12 a 20 carillas a doble espacio incluyendo notas y referencias bibliográficas. Para Notas y Documentos se recomienda entre 5 y 10 páginas. Las notas y referencias bibliográficas irán al final con numeración seguida y redactadas de acuerdo con las publicaciones académicas (preferentemente estilo MLA) Alpha, en su versión electrónica, no se responsabiliza de los juicios y opiniones expresados por los autores en sus artículos y colaboraciones. 1.- Requerimientos para Artículos Originales. (Todos los requisitos deben ser cumplidos) a) El trabajo no debe haber sido publicado ni estar bajo proceso de evaluación por parte de ninguna otra revista. En caso contrario se deben proporcionar las explicaciones necesarias. b) El documento debe estar en formato RTF o Microsoft Word. Todas las URL del texto (e.g., http://www.ulagos.cl/) deben estar activadas y listas para ser usadas. c) El texto debe estar escrito a doble espacio y con tipo o fuente de 12 puntos; utilizar cursiva, en vez de subrayado (excepto para las direcciones URL); y las figuras y tablas se disponen a lo largo del texto, en vez de al final. d) El texto debe reunir las condiciones expresadas en las Normas de Publicación que encontrarás en "Acerca de Nosotros". Si la sección de la revista para la que envía el texto evalúa por pares, el nombre del autor se deberá escribir al final del artículo, indicando su dirección postal y electrónica e institución a la que pertenece. 2.- Derechos de Autor. La propiedad intelectual de los artículos pertenece a los autores y los derechos de edición y publicación a la Alpha, versión electrónica. Los artículos publicados en la revista podrán ser usados libremente para propósitos educativos, académicos y de investigación, siempre y cuando se realice una correcta citación del mismo. Cualquier uso comercial queda expresamente penado por la ley. 3.- Protección de Datos Personales. Los nombres y direcciones de correo, además de cualquier otra información de tipo personal suministrada a esta revista será utilizada exclusivamente para los fines declarados de la misma. La revista no suministrará en ningún caso los datos proporcionados a terceros. 4.- Proceso de Evaluación por Pares. Todos los trabajos que sean enviados a Alpha, versión electrónica, serán tenidos en cuenta y revisados por el Comité de Redacción y por su Comité Externo. Una vez se emita el dictamen del Comité de Redacción se informará al autor de la decisión que se haya tomado y de si debe hacer alguna modificación en el trabajo propuesto. En caso de la no aceptación por razones de confidencialidad, no se remitirá al autor el dictamen de nuestro Comité de Redacción. REVISTA ALPHA INDEXADA COMO REVISTA DE CORRIENTE PRINCIPAL EN SciELO (ISI-CHILE) Recientemente Revista Alpha, publicada por el Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad de los Lagos ha sido incorporada a los índices de la Biblioteca Científica SciELO (Scientific Electronic Library on Line), equivalente en Chile de ISI Internacional. El proceso de evaluación requirió un seguimiento de los tres últimos años de Alpha y comprendió el examen del cumplimiento de las normas internacionales de edición, establecidos por el sistema Latindex y la calidad académica del contenido. Este último indicador considera la cobertura de la revista desde el punto de vista de la disciplina, la calidad científica de los miembros del comité editor interno y alterno, la calidad y el origen de los artículos, tanto como los criterios y el sistema de evaluación que se les aplica. En consecuencia, a partir del próximo año, Alpha aparecerá en su habitual edición impresa y en la página webb de CONICYT a texto completo, con accesibilidad ilimitada para todo tipo de usuarios, versión que ya habia empezado a implementarse desde el N° 20 por intermedio de la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de Los Lagos. En la actualidad, Internet se constituye en un instrumento clave para la investigación académica, pues, las bibliotecas virtuales y catálogos bibliográficos pueden ser consultados desde cada puesto de trabajo sin necesidad de desplazamiento hacia los archivos físicos. La versión electrónica de Alpha proporciona acceso libre a todos los artículos de manera que estén disponibles para propósitos educativos, académicos y de investigación y, en general, para cualquier uso no comercial. Aparte de esta indexación, los artículos de Alpha están disponibles en Open Archives Initiative lo que facilita un intercambio global y fluido de conocimiento en artes, letras y filosofía. Lo decisivo de esta evaluación de Alpha es que la califica excepcionalmente entre las revistas de corriente principal de nuestro país y permite que los trabajos publicados en ella sean acreedores de mayor reconocimiento académico. Además, por esta vía, la Universidad de los Lagos, incrementa sus opciones porcentuales en el Aporte Fiscal Indirecto (AFI). UNA REVISTA DE CALIDAD INTERNACIONAL Recientemente la Revista Alpha, publicada por el Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad de Los Lagos ha sido incorporada a los índices de la biblioteca del Scientific Electronic Library on Line (Scielo), equivalente en Chile de ISI Internacional. Ello, tras un seguimiento evaluativo de tres años que comprendió el examen de cumplimiento de las normas internacionales de edición establecidas por Latindex y la calidad académica del contenido. “Este último indicador considera la cobertura de la revista desde el punto de vista de la disciplina, la calidad científica de los miembros del comité editor interno y alterno, la calidad y el origen de los artículos, tanto como los criterios y el sistema de evaluación que se les aplica”, afirmó Eduardo Barraza, director responsable y editor de Alpha. Según acotó el académico, “a partir del próximo año, Alpha aparecerá en su habitual edición impresa y en la página web de Conicyt a texto completo, con accesibilidad ilimitada para todo tipo de usuarios, versión que ya empezó a implementarse desde el número 20 por intermedio de la Dirección de Bibliotecas de la ULA”. Cabe destacar que la versión electrónica proporciona acceso libre a todos los artículos para disponerlos a usos educativos, académicos e investigativos. Aparte de la indexación mencionada, los artículos de la revista están disponibles actualmente en Open Archives Initiative, para facilitar el intercambio global y fluido de conocimientos en artes, letras y filosofía. “Lo decisivo de esta evaluación de Alpha es que la califica excepcionalmente entre las revistas de corriente principal de nuestro país y permite que los trabajos publicados en ella sean acreedores de mayor reconocimiento académico. Además, por esta vía, la Universidad de Los Lagos incrementa sus opciones porcentuales en el Aporte Fiscal Indirecto, AFI”, sintetizó Barraza. editores da agulha Floriano Martins (Fortaleza, 1957). Poeta, editor, ensaísta e tradutor. Tem se dedicado, em particular, ao estudo da literatura hispano-americana, sobretudo no que diz respeito à poesia. Foi editor do jornal Resto do Mundo (1988/89) e da revista Xilo (1999). Em janeiro de 2001, a convite de Soares Feitosa, criou o projeto Banda Hispânica, banco de dados permanente sobre poesia de língua espanhola, de circulação virtual, integrado ao Jornal de Poesia. Críticas sobre sua obra, assim como entrevistas com o poeta, já foram publicadas no Brasil e no exterior, a exemplo de jornais como El Universal (Panamá), El Comércio (Peru), El Universal (México), El País (Uruguai), El País (Colômbia), O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Folha de S. Paulo, Correio Brasiliense, O Povo, Diário do Nordeste, Estado de Minas, O Globo, O Estado do Tapajós, e revistas como Prisma (Colômbia), Común Presencia (Colômbia), Paréntesis (México), Storm Magazine (Portugal), Alforja (México), Mapocho (Chile), TriploV (Portugal) e Voces (Estados Unidos) - material crítico assinado por nomes como Sérgio Campos, Carlos Felipe Moisés, Wilson Martins, José Paulo Paes, Maria Esther Maciel, Rolando Toro, Jorge Rodríguez Padrón, Ivan Junqueira, José Castello, Rodrigo Petronio, Eleuda de Carvalho, Carlos Germán Belli, Miguel Gomes, Alfredo Fressia, Maria Estela Guedes, Nicodemos Sena. Com larga trajetória de colaboração à imprensa, tem escrito artigos sobre música, artes plásticas e literatura, incluídos nas publicações citadas e também em outras, como Comércio do Porto (Portugal), Letras & Letras (Portugal), International Graphitti (Costa Rica), El Artefacto Literario (Suécia), Exégesis (Porto Rico), Crítica (México), Blanco Móvil (México), Casa del Tiempo (México), e brasileiras como Rascunho, Alô Música e Poesia Sempre. Organizou para as revistas mexicanas Blanco Móvil e Alforja duas edições especiais dedicadas à literatura brasileira, respectivamente "Narradores y poetas de Brasil" (1998) e "La poesía brasileña bajo el espejo de la contemporaneidad" (2001), bem como as edições especiais "Poetas y narradores portugueses" (Blanco Móvil, México, 2003) e "Surrealismo" (Atalaia Intermundos, Lisboa, 2003), respectivamente em parceria com Maria João Cantinho e Maria Estela Guedes. Como artista plástico participou de exposições como "O surrealismo" (Núcleo de Arte Contemporânea, Escritório de Arte Renato Magalhães Gouvêa, São Paulo, 1992), "Lateinamerika und der Surrealismus" (Museu Bochum, Köln, 1993) e "Collage - A revelação da imagem" (Homenagem ao centenário de André Breton 1896-1996, Espaço expositivo Maria Antônia/USP, São Paulo, 1996). Em maio de 2000 realizou o espetáculo Altares do Caos (leitura dramática acompanhada de música e dança), no Museu de Arte Contemporânea do Panamá. Um ano antes também havia realizado uma leitura dramática de William Burroughs: a montagem (collage de textos com música incidental), na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Dentre algumas conferências que tem proferido, destacam-se "América Latina e Identidade Cultural" (Centro de Humanidades, Universidade de Brasília, Brasília, 1998), "Linguagens contemporâneas e identidade nacional: literatura" (SESC Pompéia, São Paulo, 1999), "Algunos poetas brasileños (Ivan Junqueira, Dora Ferreira da Silva, José Santiago Naud, Sérgio Campos, Claudio Willer, Ruy Espinheira Filho, Adriano Espínola e Donizete Galvão)" (Faculdad de Humanidades de la Universidad de Panamá, 2000), "Sobre a condição editorial de algumas revistas de cultura na América Latina" (Instituto Goethe, São Paulo, 2001), "Surrealismo & Brasil" (Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, 2003) e “La modernidad de la poesía hispanoamericana” (Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Caracas, Venezuela, 2004). Participou dos seguintes volumes coletivos: Camorra (volume monográfico sobre Harold Alvarado Tenorio, Ediciones La Rosa Roja, Bogotá, 1990), Focus on Ludwig Zeller, poet and artist (Mosaic Press, Oakville-New York-London, 1991), Adios al siglo XX (Edição dedicada à poesia de Eugenio Montejo, Separata da revista Palimpsesto, Sevilla, 1992), O olho reverso. 7 poemas e um falso hai-kai (Edição comemorativa dos 41 anos de poesia de José Santiago Naud, Thesaurus Editora, Brasília, 1993), Tempo e antítese. A poesia de Pedro Henrique Saraiva Leão (Editora Oficina, Fortaleza, 1997), Surrealismo e Novo Mundo (Ensaios sobre Surrealismo na América Latina, org. Robert Ponge, Editora da Universidade UFRS, Porto Alegre, 1999), Festival Mundial de Poesía Venezuela 2004 (Antologia poética, org. Andrés Mejía, Monte Ávila Editores, Caracas, 2004), El Bacalao - Diatribas antinerudianas y otros textos (Ensaios, org. Leonardo Sanhueza, Edicones B, Santiago, Chile, 2004), e Escolas literárias no Brasil (Conferências, org. Ivan Junqueira, Ed. da Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, 2004). Livros publicados Cinzas do sol (poesia). Mundo Manual Edições. Rio de Janeiro. 1991. Sábias areias (poesia). Mundo Manual Edições. Rio de Janeiro. 1991. El corazón del infinito. Trés poetas brasileños (traducción de Jesus Cobo) (entrevistas). Cuadernos de Calandrajas. Toledo, Espanha. 1993. Tumultúmulos (poesia). Mundo Manual Edições. Rio de Janeiro. 1994. Ashes of the sun (translated by Margaret Jull Costa) (poesia). Incluído em The myth of the world (The Dedalus Book of Surrealism 2). Dedalus Ltd. London. 1994. Escritura conquistada (Diálogos com poetas latino-americanos) (entrevistas). Letra & Música. Fortaleza. 1998. O começo da busca (Escrituras surrealistas na América Hispânica) (ensaio). Coleção Memo. Fundação Memorial da América Latina. São Paulo. 1998. Poemas de amor (antologia poética), de Federico García Lorca. Ediouro Publicações. Rio de Janeiro. 1998. [tradução e prólogo] Delito por bailar o chá-chá-chá (contos), de Guillermo Cabrera Infante. Ediouro Publicações. Rio de Janeiro. 1998. [tradução] Alma em chamas (poesia). Letra e Música. Fortaleza. 1998. Dois poetas cubanos (ensaios), de Jorge Rodríguez Padrón. Coleção Memo. Fundação Memorial da América Latina. São Paulo. 1999. [tradução] Três entradas para Porto Rico (ensaios), de José Luis Vega. Coleção Memo. Fundação Memorial da América Latina. São Paulo. 2000. [tradução] Alberto Nepomuceno (biografia). Edições FDR. Fortaleza. 2000. A nona geração (contos), de Alfonso Peña. Edições Resto do Mundo. Fortaleza. 2000. [tradução e prólogo] Cenizas del sol (poemas y esculturas). [com o escultor Edgar Zúñiga]. Ediciones Andrómeda. San José, Costa Rica. Setembro de 2001. Extravio de noites (poesia). Ed. Poetas de Orpheu. Caxias do Sul. 2001. O começo da busca - O surrealismo na poesia da América Latina (ensaio e antologia poética). Escrituras Editora. São Paulo. 2001. Nós/Nudos (25 poemas sobre 25 obras de Paula Rego), de Ana Marques Gastão. Editora Gótica. Lisboa, Portugal. 2004. [tradução] Un nuevo continente (Antología del Surrealismo en la Poesía de nuestra América). Ediciones Andrómeda. San José, Costa Rica. 2004. Estudos de pele (poesia). Editora Lamparina. Rio de Janeiro. 2004. Homenagem à realidade (poesia), de Cruzeiro Seixas. Escrituras Editora. São Paulo. 2005. [organização e prefácio] A idade da escrita e outros poemas, de Ana Hatherly. Escrituras Editora. São Paulo. 2005. [organização e prefácio] Antologia poética, de Carlos Pellicer. En Sol Editora. Recife. 2005. [tradução - juntamente com Everardo Norões, Geraldo de Holanda, Ivo Barroso, Pedro Américo de Farias e Thiago de Mello] Claudio Willer (São Paulo, 1940). Poeta, ensaísta e tradutor. Sua formação acadêmica é como sociólogo e psicólogo. Depois de ocupar outros cargos e funções em administração cultural, foi assessor na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, responsável por cursos, oficinas literárias, ciclos de palestras e debates, leituras de poesia, de 1994 a 2001. Dezenas de participações em congressos, seminários, ciclos de palestras, apresentações públicas de autores etc., no Brasil e no exterior. Presidente da União Brasileira de Escritores, UBE, eleito em março de 2000 para o cargo que já exerceu em dois mandatos anteriores, entre 1988 e 92; reeleito em março de 2002; além disto, também secretário geral da UBE em outros dois mandatos (198286), e presidente do Conselho da entidade (1994-2000). Livros publicados Anotações para um Apocalipse, Massao Ohno Editor, 1964, poesia e manifesto. Dias Circulares, Massao Ohno Editor, 1976, poesia e manifesto. Os Cantos de Maldoror, de Lautréamont, 1ª edição Editora Vertente, 1970, 2ª edição Max Limonad, 1986, tradução e prefácio. Jardins da Provocação, Massao Ohno/Roswitha Kempf Editores, 1981, poesia e ensaio. Escritos de Antonin Artaud, L&PM Editores, 1983 e sucessivas reedições, seleção, tradução, prefácio e notas. Uivo, Kaddish e outros poemas de Allen Ginsberg, L&PM Editores, 1984 e sucessivas reedições, seleção, tradução, prefácio e notas; nova edição, revista e ampliada, em 1999; edição de bolso, reduzida, em 2.000. Crônicas da Comuna, coletânea sobre a Comuna de Paris, textos de Victor Hugo, Flaubert, Jules Vallés, Verlaine, Zola e outros, Editora Ensaio, 1992, tradução. Volta, narrativa em prosa, Iluminuras, 1996. Lautréamont - Obra Completa - Os Cantos de Maldoror, Poesias e Cartas, edição prefaciada e comentada, Iluminuras, 1997. Estranhas experiências (poesia). Editora Lamparina. Rio de Janeiro. 2004. Como crítico e ensaísta, colaborou em suplementos e publicações culturais: Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, revista Isto É, jornal Leia, Folha de São Paulo, revista Cult, Correio Braziliense, Xilo etc, e projetos da imprensa alternativa como Versus e revista Singular e Plural. Filmografia e videografia, com destaque para Uma outra cidade, documentário de Ugo Giorgetti com os poetas Antonio Fernando de Franceschi, Rodrigo de Haro, Roberto Piva, Jorge Mautner, Claudio Willer, exibido na TV Cultura, São Paulo e na Rede Pública de TV, disponível em vídeo, produção SP Filmes e TV Cultura de São Paulo. Textos seus foram incluídos nas seguintes antologias e publicações coletivas: Alma Beat, L&PM Editores, 1985; Carne Viva, coletânea de poemas eróticos, org. Olga Savary, Achiamé, 1984; Folhetim - Poemas Traduzidos, org. Nelson Ascher e Matinas Suzuki, ed. Folha de S. Paulo, 1987, com uma tradução de Octavio Paz; Artes e Ofícios da Poesia, org. Augusto Massi, ed. Artes e Ofícios - Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, 1991; Sincretismo - A Poesia da Geração 60, org. Pedro Lyra, Topbooks, 1995; Antologia Poética da Geração 60, org. Álvaro Alves de Faria e Carlos Felipe Moisés, Editorial Nankin, 2.000; 100 anos de poesia brasileira - Um panorama da poesia brasileira no século XX, Claufe Rodrigues e Alexandra Maia, organizadores, O Verso Edições, Rio de Janeiro, 2001; Azougue 10 anos, publicação em livro de entrevistas, depoimentos e poemas publicados na revista Azougue, organização de Sergio Cohn, Azougue Editorial, Rio de Janeiro, 2004; Paixão por São Paulo Antologia poética paulistana (comemorativa dos 450 anos de fundação da cidade), Luiz Roberto Guedes, organizador, Editora Terceiro Nome, São Paulo, 2004. Traduzido e publicado no exterior, entre outros lugares, em Quinta Intermundia, Rassegna di Poesia Internazionale, 1992, coletânea por Márcia Teófilo; Modernismo Brasileiro und die Brasilianische Lyrik der Gegenwart, antologia da poesia brasileira por Curt Meyer-Clason, Druckhaus Galrev, Berlim, 1997; Narradores y Poetas de Brasil, coletânea de Floriano Martins, revista Blanco Móvil, primavera de 1998, México, DF; Brasil 2000, Antologia de Poesia Contemporânea Brasileira, org. Álvaro Alves de Faria, ed. Alma Azul e Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, Coimbra, Portugal, 2000; Alforja XIX - Revista de Poesía, México DF, fevereiro de 2002, edição dedicada à poesia brasileira, coordenação e seleção de textos de Floriano Martins, coordenação dos tradutores Eduardo Langagne, com os poemas Poética e Llegar allá, tradução de Adolfo Ruiseñor, o ensaio Poeta en São Paulo - Paranóia de Roberto Piva, tradução de Eduardo Langagne, além de entrevista, depoimento e textos de apresentação; Cena poética - scène poétique, coletânea bilíngüe de poetas do Brasil e da Bretanha, tradução de Luciano Loprete, organização de Celso de Alencar e Yvon le Man, editora Limiar, Cena - Centro de Encontro das Artes, São Paulo, 2003; Un nuevo continente - Antologia del Surrealismo en la Poesía de Nuestra América, antologia de poesia surrealista latino-americana, organização de Floriano Martins, vários tradutores, Ediciones Andrómeda, San José, Costa Rica, 2004. Poemas e depoimentos também em revistas literárias: Poesia Sempre, Azougue, Alguma Poesia, Anto (Portugal), Continente Sul-Sur, Orion etc. Bibliografia crítica formada por ensaios, resenhas, reportagens e citação em obras de consulta por Afrânio Coutinho, Alfredo Bosi, José Paulo Paes, Luciana Stegagno-Picchio, entre outros.