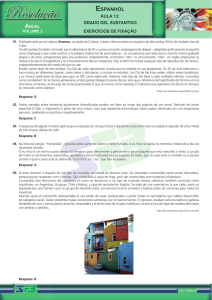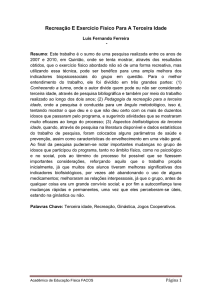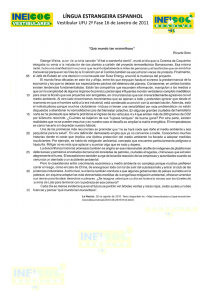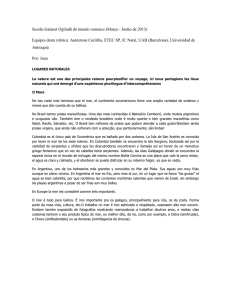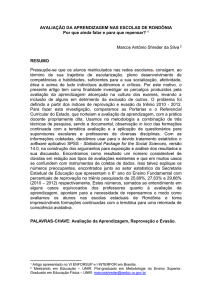revistas em destaque
Anuncio

. . . revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 editorial Eternamente mão única 1. Um tema da hora, motivo de preocupação, é o Mercosul. Quais serão suas perspectivas? Avança ou retrocede? Corre risco de acabar? A discussão é exclusivamente comercial. Fala-se de proteção a geladeiras, máquinas de lavar, carne, trigo. Não se toca em publicações, espetáculos, mostras, circulação de informação. Sob o aspecto cultural, o Mercosul não é um zero absoluto: ocorre regulamente a Bienal do Mercosul, tem havido encontros de autores, distribuição comercial de filmes e até sua veiculação na TV progrediu. Mas a cultura nem sequer foi incluída nos acordos que lhe deram origem. Quanto a espetáculos, a agenda brasileira deste ano é francesa, ou, antes, parisiense: como o Brasil vai ser objeto de homenagens na França, todo mundo vai lá, ou vai tentar estar lá. Carnaval em Paris. Novamente. 2. Já foi comentada aqui, em Agulha – na edição anterior, de número 42 – a publicação de João Guimarães Rosa: Correspondência com seu tradutor alemão Curt MeyerClason (Nova Fronteira, ABL, UFMG, 2003), por sua importância para se entender melhor a poética do autor de Grande Sertão: Veredas. Mas o livro também toca em questões de política cultural. Bem ao final da série de cartas, a 11 de julho de 1967, Meyer-Clason diz que gostaria de preparar uma antologia de poesia brasileira. A dificuldade para levar o projeto a bom termo é econômica. Esclarece Meyer-Clason: “Para uma antologia de Cabral (selecionada por mim), mais apêndices e uma longa introdução, recebi 1.300,00 marcos [...], mas gastei mais de 4.000,00 marcos, porque eu e minha família precisamos aqui de aproximadamente 2.000,00 marcos por mês para uma vida simples.” Por isso, diz o tradutor, precisaria, para cobrir custos de pesquisa, preparação de prefácio, tradução propriamente dita, de dois mil dólares “a mais”, além do que a editora lhe pagaria, pela tabela normal para traduções. Sem patrocínio, teria que recusar o projeto. E consulta: “Será que o senhor poderia me sugerir como devo agir? O projeto tem alguma chance? Devo apresentar um requerimento ao M.C. ou diretamente ao Departamento Cultural?”. Não sabemos se houve resposta. A correspondência termina logo a seguir, com a morte de Guimarães Rosa em novembro de 1967. Meyer-Clason chegou, entre outras traduções importantes, de Cabral, Drummond etc., a publicar uma antologia de poesia brasileira em 1975, Brasilianische Poesie des 20. Jahrhunderts, e outra, de autores mais recentes, em 1997, Modernismo Brasileiro und die Brasilianische Lyrik der Gegenwart. Valeria a pena perguntar-lhe se teve o apoio que, com tanta razão, reivindicava em 1967. 3. Há uma nota, na abertura de The Angel of the West Window, a tradução para o inglês da biografia romanceada do mago John Dee por Gustav Meyrink pela Dedalus Books, de 1991, que diz o seguinte (traduzindo): “Dedalus Europa 1992: Ao final de 1992, os 12 estados membros da CEE [a então Comunidade Econômica Européia, antes Mercado Comum Europeu e agora União Européia] inaugurarão um mercado aberto que Dedalus comemora com um amplo programa de novas traduções das 8 línguas da CEE para o inglês.” Seguem-se 20 títulos a serem lançados, traduções para o inglês do francês, alemão, italiano, holandês, flamengo, português (duas narrativas de Eça de Queiroz), dinamarquês, grego e espanhol. Ao final, a nota de agradecimento aos patrocinadores, o Arts Council of Great Britain e o governo austríaco, que possibilitou a tradução de Meyrink. Evidentemente, essa é uma ínfima amostra do que a CEE e a UE já fizeram, em matéria de cooperação cultural, ao longo de sua consolidação nas últimas décadas. 4. Se dirigidas a um europeu, soariam estranhas essas consultas de Meyer-Clason. Estaria perguntando o óbvio. É evidente que há bolsas, subvenções, auxílios, para esse tipo de iniciativa, traduzir autores. Em outros países latino-americanos, também já se registram boas iniciativas. Mas prejudicadas pelo unilateralismo e absenteísmo brasileiro. Por exemplo, ao longo de décadas, em ações culturais conjuntas Brasil-México, o México foi quem pagou a conta, arcou com os custos, na maior parte dessas ocasiões. O que dizer então das inúmeras edições de autores brasileiros, levadas a termo pela Fundação Biblioteca Ayacucho, da Venezuela, sem que haja, por natural correspondência, edição de um único autor venezuelano no Brasil? 5. Há um estilo crepuscular, nebuloso, nas respostas de órgãos culturais brasileiros (FNC e Biblioteca Nacional) a pedidos de apoio a traduções de autores brasileiros em outros países, inclusive latino-americanos, inclusive da esfera do Mercosul, mesmo com editoras interessadas. Colaboradores de Agulha têm passado por essa experiência. Tudo é vago, reticente. Transparência, nenhuma. Ao final, nada acontece. Ou acontece algo, porém raramente, a título de exceção. Consolidar cooperação econômica e política não passa, aqui, por temas culturais. Meyer-Clason, hoje, faria as mesmas perguntas. Enfrentaria as mesmas dificuldades. Quanto aos negócios, na esfera da cooperação econômica interamericana, com geladeiras, soja, trigo, automóveis, televisores, parece que vão mal. Crises ameaçam o Mercosul e outros projetos de intercâmbio e cooperação ibero-americana. 6. Agulha vem divulgando protestos encabeçados por Berthold Zilly, outro tradutor e divulgador importante de literatura brasileira na Alemanha, e por Viviane de Santana Paulo, escritora e colaboradora desta revista, contra o fechamento de um Instituto Cultural Brasileiro em Berlim. O motivo alegado pelo Itamaraty é falta de verbas. Manutenção de institutos culturais brasileiros é vista apenas como despesa, e não como investimento, algo que tenha lugar em uma estratégia, em uma política de relações exteriores. Depois, não reclamem quando o Instituto Goethe reduzir suas verbas para o Brasil. Os editores sumário 1 a escritura coletiva de jacques prévert com surrealistas. eclair antonio almeida filho 2 a imagem criativa na poesia de orides fontela. josé carlos a. brito 3 amavisse, de hilda hilst: pacto com o hermético. claudio willer 4 biblioteca ayacucho: notas para una primera historia. oscar rodríguez ortiz 5 crônica de consumo: a lâmpada queimada da poesia. 6 floriano martins espiritualidade e erotismo na poesia de leonard cohen. alexandre marino 7 estranhas experiências: claudio willer e a geração beat. lucila nogueira 8 fantástico e estranho mundo de péricles prade (entrevista). marco vasques 9 freud, oswald de andrade & antropofagia. mário chamie 10 julien schnabel: "a arte me faz sentir vivo" (entrevista). antonio jr. 11 lucia vasconcelos: lisboa - a felicidade estranha da princesa. teresa martins marques 12 música/ciudad: la ecología del sonido. enrique verástegui 13 remedios varo: pintora mágica de lo surreal. carolina moroder 14 três visões da obra de adélio sarro. alberto beutenmüller 15 vanguardismo, espacio y movimiento en la poesía moderna. juan calzadilla artista convidado mario maffioli (pintura) texto de otto apuy resenhas livros da agulha carlos figueiredo vera lúcia de oliveira - nicodemos sena (por adelton gonçalves) - boris fausto & fernando j. devoto (por adelto gonçalves) - maría zambrano & reyna rivas - floriano martins (por maria da paz dantas) - leo zevala - tomás eloy martínez (por adelto gonçalves) - ivan cavalcanti proença (por mirian de carvalho) - maimônides - mauro mota (por ivan junqueira) - & mário chamie música discos da agulha afonso machado romero lubambo - hamilton & seus estados (por fabrício mazocco) - nó em pingo d'água - césar camargo mariano - leila maria (por hugo sukman) & paulo moura cumplicidade galeria de revistas l matérika (costa rica) l palavreiros (brasil) l piel de leopardo (argentina) expediente editores floriano martins & claudio willer projeto gráfico & logomarca floriano martins jornalista responsável soares feitosa jornalista - drt/ce, reg nº 364, 15.05.1964 correspondentes alfonso peña (costa rica) américo ferrari (peru) benjamin valdivia (méxico) bernardo reyes (chile) carlos m. luis (uruguai) carlos véjar (méxico) eduardo mosches (méxico) edwin madrid (equador) francisco morales santos (guatemala) harold alvarado tenorio (colômbia) jorge ariel madrazo (argentina) jorge enrique gonzález pacheco (cuba) josé luis vega (porto rico) marcos reyes dávila (porto rico) maría antonieta flores (venezuela) maria estela guedes (portugal) mónica saldías (suécia) rodolfo häsler (espanha) saúl ibargoyen (méxico) sonia m. martín (estados unidos) artista plástico convidado (pintura) mario maffiloi apoio cultural jornal de poesia banco de imagens acervo edições resto do mundo os artigos assinados não refletem necessariamente o pensamento da revista agulha não se responsabiliza pela devolução de material não solicitado todos os direitos reservados © edições resto do mundo escreva para a agulha floriano martins ([email protected]) claudio willer ([email protected]) . revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 A escritura coletiva de Jacques Prévert com surrealistas Eclair Antonio Almeida Filho . Ce fut au surréalisme où j’ai fait mes humanités. Jacques Prévert Pouco importa ou exporta: Jacques Prévert é surrealista. Sua poesia transita pelos mesmos caminhos que os surrealistas seguem: o “umor”, a revolta contra os que oprimem o ser humano, a exaltação do amor e do sonho que levam à revolução. Para determinar o encontro de Jacques Prévert com o Surrealismo (depois ele se encontraria com os surrealistas), podemos marcar três momentos. O primeiro se dá no fim de 1924 na livraria Les amis du livre, de Adrienne Monnier onde, além de entrar em contato com a revista La Révolution Surréaliste, a qual muito lhe impressiona e entusiasma, Prévert tem acesso a uma literatura surrealista avant la lettre: os Cantos belos e terríveis de Maldoror, do Conde de Lautréamont, os Campos Magnéticos, de Philippe Soupault e André Breton, Le mariage du Ciel et de l'Enfer, de William Blake, Le refrain du Décervelage, do Roi Ubu de Alfred Jarry. O segundo encontro com o Surrealismo ocorre quando, de um ônibus, pelo fim do mesmo ano de 1924, Prévert e o pintor Yves Tanguy, que então moravam com Marcel Duhamel na famosa Rue du Château 54, avistam numa vitrine da galeria Paul Guillaume em Paris o quadro Cerveau d’enfant, de Giorgio de Chirico, o qual lhes mostra a escritura dos sonhos. De acordo com Yves Courrière, Yves Tanguy sofreu um inpacto tão grande ao ver essa tela que, ao chegar em casa, destruiu alguns de seus quadros por considerá-los ingênuos demais. No início de 1925, Marcel Duhamel conhece Breton e o leva para uma visita na Rue du Château; Breton fica tão entusiasmado com Prévert, Duhamel e Tanguy que passa a utilizar a casa como um dos locais de reunião do grupo surrealista. Durante sua passagem pelo grupo de 1925 a 1929, Prévert não publica nada, não participa de sessões de hipnose, não relata seus sonhos nem exerce qualquer tipo de escritura automática. Participa apenas das “pesquisas sobre a sexualidade”, recolhidas nos “Archives du bureau surreáliste”. Os únicos manifestos que subscreve voltam-se para a defesa de dois artistas com quem mantém afinidades poéticas. Um deles é: "Hands off love", publicado na edição de outubro de 1927 da revista "Révolution Surrealiste", a favor de Charles Chaplin, que era acusado, judicialmente, de maltratar sua esposa; o outro é "Permettez", no qual Raymond Queneau protesta contra a inauguração de uma estátua em homenagem a Arthur Rimbaud. Ajuda a criar o "cadavre exquis", atividade que consistia em produzir um texto coletivo em que cada participante continuava um texto, acrescentando uma parte da frase sem saber o que vinha antes, daí resultando em criações livres de qualquer associação lógica. No primeiro texto, Prévert escreveu "le cadavre exquis", em um papel dobrado e o passou a um outro participante que, em segredo, prosseguiu acrescentando "boira"; um terceiro, nas mesmas condições, concluiu o jogo e o texto com "le vin nouveau". Gérard Guillot considera que, graças ao grupo surrealista, Prévert pôde experimentar coisas novas e entrar em contato com várias modalidades de arte. Nas palavras do próprio Prévert, o surrealismo era une rencontre de gens qui n’avaient pas de rendez-vous mais qui sans se ressembler se rassemblaient. Militaires, religieuses, policières, les grandes superencheries sacrées les faisaient rire. Leur rire, comme leurs peintures et leurs écrits, était un rire agressivement salubre et indéniablement contagieux. (Prévert, 1996) Em 15 de janeiro de 1930, Prévert rompe com Breton, ao participar com seu primeiro texto “Mort d’un Monsieur, no panfleto “Un cadavre”, que ele e outros 11 dissidentes do Surrealismo dirigem como resposta aos ataques pessoais que Breton promovera no Segundo Manifesto. Em “Mort d’un Monsieur”, num estilo e num humor que caracterizarão seus poemas, Prévert começa lamentando o desaparecimento daquele que o fazia rir: “Hélas, je ne reverrai plus l’illustre Palotin du Monde Occidental, celui qui me faisait rire! (Prévert, 1996). Depois, Prévert ataca os relatos de sonhos de Breton, dizendo que um dia num sonho, após se olhar seriamente (ou seja, sem humor) no espelho, ele se achou belo. Para Prévert, foi o fim de Breton, que passou a confundir “le désespoir et le mal de foie, la Bible et les Chants de Maldoror, Dieu et Dieu, […] la Révolution Russe et la Révolution Surréaliste. (Encore… et toujours la plus scandaleuse du monde) (Prévert, 1996). Depois de sua ruptura com Breton, Prévert decide fazer “route à part”, sem, no entanto deixar de se reencontrar com o Surrealismo nem com o próprio Breton, com o qual se reconcilia em 1937. A partir então de 1930, passa a escrever para revistas como Biffurs, Documents, Commerce. Em 1932, tornase dramaturgo do Groupe Octobre, escrevendo peças teatrais inspiradas em acontecimentos, querendo fazer a Revolução por meio do teatro. Com o fim do Groupe Octobre em 1936, passa a participar ativamente como roterista de filmes com diretores como Jean Renoir e Marcel Carné, com o qual realizou sua obraprima, Les enfants du Paradis (1945). Ainda em 1945, lança seu primeiro e mais famoso livro, Paroles, no qual se dirige violentamente contra as instituições com letras maiúsculas: a Igreja, a Família, a Propriedade, o Estado. Seguem-se a Paroles: Histoires (1947), Spectacle (1951), Grand bal du Printemps (1951) Charmes de Londres (1952), La pluie et le beau temps (1954), Fatras (1966), Imaginaires (1970), com colagens do autor, e Choses et Autres (1972). Além desses livros, Prévert escreveu outros a 4 (quatro) mãos com artistas ligados ao Surrealismo como: Max Ernst (Les chiens ont soif), Picasso (Portraits de Picasso), Miró (Miró e Adonides) e Georges Ribemont-Dessaignes (Arbres). De acordo com Bersani, em seus poemas, Prévert realiza a síntese de duas correntes que atravessam o Surrealismo: as correntes “dos jogos de linguagem” e “a libertária”. Para Bersani, Prévert é um “poète qui joue des mots, qui sait, comme le recommandait Breton, leur laisser “faire l’amour” pour mieux engendrer la merveille, Prévert est aussi et en même temps celui qui se joue des mots pour mieux se jouer de la société d’exploiteurs et d’oppresseurs qu’il vitupère”. Por causa de seu humor (subversivo), Prévert figura na Anthologie de l’humour noir, organizada por André Breton. De Prévert, Breton seleciona “Tentative de description d’un dîner de têtes à Paris-France”, poema que abre Paroles. A propósito de Prévert, escreve Breton que “il dispose souverainement du raccourci (atalho, caminho abreviado) susceptible de nous rendre en un éclair la démarche (conduta) sensible, rayonnante de l’enfance, et de pourvoir indéfiniment le réservoir de la révolte”. (Breton, 1998). Em toda sua obra poética, Prévert empreende a busca surrealista pelo surreal, com a criação de uma realidade de liberdade, amor, poesia, sonho e revolução. Em um dos mais belos poemas de Fatras, "La veille au soir", são as crianças que ao sonhar sopram apagando a vela do vigilante da noite e dos sonhos. Eis o poema: La veilleuse du surveillant s'est éteinte Et le surveillant dans la nuit S´est éteint aussi Les enfants en rêvant Avaient soufflé sur lui. (Prévert, 1996). Num maravilhoso jogo de palavras, Prévert aproxima semanticamente veille (vigília, privação do sono à noite), veilleuse (lanterna, vela e também o feminino de veilleur, guardião da noite) e surveillant (vigilante). Nesse jogo, imaginase que um vigilante, um guardião do sono, munido de sua vela e ao mesmo tempo sua companheira, vigia os sonhos das crianças, para depois puni-las. Entretanto, estas são mais fortes que os guardiães, e, sonhando, destróem a realidade que as oprime, apagando – isto é, eliminando seus opressores. Nas palavras de Breton, no Primeiro Manifesto: “L’esprit qui plonge dans le surréalisme revit avec exaltation la meilleure part de son enfance. […] C’est peut-être l’enfance qui approche le plus de la “vraie vie” (Breton, 1986). No poema “Ministère du ludique-action-publique” (que também dá título a uma colagem de Prévert), o poeta apresenta um artigo dos direitos universais da criança (e do ser humano), conforme o qual ela tem total liberdade: Art. I L’enfant n’a pas de contrat, il n’a pas signé son acte de naissance. Il est libre de refuser tôt ou tard l’âge qu’on “lui donne” et d’en choisir un autre, d’en changer selon ses désirs, comme de le garder le temps qu’il lui plaît. (Prévert, 1996) Assim, não estaria Prévert realizando o que Breton disse no Primeiro Manifesto: que os surrealistas deveriam reescrever os direitos do ser humano para libertá-lo totalmente? No último poema de Paroles (1946), “Lanterne magique de Picasso”, Prévert demonstra que sua obra procura a surrealidade, o ponto onde as contradições deixam de ser percebidas: Les idées pétrifiées devant la merveilleuse indifférence d’un monde passioné d’un monde retrouvé d’un monde indiscutable et inexpliqué d’un monde sans savoir-vivre mais plein de joie de vivre d’un monde sobre et ivre d’un monde triste et gai tendre et cruel réel et surréel terrifiant et marrant nocturne et diurne solite et insolite beau comme tout. (Prévert, 1992) Assim, a busca pela surrealidade continua a ser o ponto de contato entre aqueles que querem, através da união entre o Amor, a Poesia, o Sonho, o Humor e a Revolução, transformar o mundo e mudar a vida. Neste mesmo poema, a lanterna mágica de Picasso ilumina “le visage d’André Breton et de Paul Éluard”. Nas entrevistas de Breton a André Parinaud, ao ser perguntado se a grande fonte do Surrealismo nos anos 1920 e 1930 seria o amor, Breton responde: “Oui: indépendamment du profond désir d’action révolutionnaire qui nous possède, tous les sujets d’exaltation propres au surréalisme convergent à ce moment vers l’amour”. (138) Para Prévert, não existem nem cinco ou seis maravilhas, mas apenas uma: o amor. Em outro poema, Jacques Prévert aproxima amor e revolução por sua cor vermelha: Rouge, le mot rouge révolution reste rouge malgré les décorations et les décolorations, dissequé et nié le mot amour garde toute sa beauté. (Prévert, 1996) Rouge (vermelho) é a cor pela qual Breton e Éluard no Dictionnaire abrégé du surréalisme definem Jacques Prévert: “Celui qui rouge de coeur” . Para nós, o reencontro com os surrealistas ocorre quando Prévert os convoca tanto para questionar a linguagem, as instituições, a guerra, quanto para buscar a surrealidade. Numa entrevista a André Pozner, Prévert revela, ao falar de sua amizade com Breton, que nunca escreveria sobre (sur) um amigo, mas sim com (avec), expondo dessa maneira uma poética da criação coletiva, que se constrói com a ajuda do outro, mesmo que esse outro esteja morto: "Breton, ou André plutôt, avait tant de choses à dire, on a tant écrit sur lui! On dit toujours ça, écrire sur quelqu'un. Moi, si j'écrivais, j'écrirais avec lui". (Prévert, 1996). Lembro aqui o preceito de Lautréamont: A poesia deve ser feita por todos. A seguir, veremos exemplos de escritura coletiva de Jacques Prévert com Max Ernst, o criador das colagens, André Breton, Paul Éluard, Phillipe Soupault e Robert Desnos. Com Max Ernst, Prévert escreve a quatro mãos o livreto Les chiens ont soif (paródia do título do livro Les Dieux ont soif, de Anatole France), ilustrado com 27 litografias e 2 águas-fortes de Ernst. No início do texto, Prévert retoma o sentido que os surrealistas haviam dado à palavra littérature quando lançaram a Revista Littérature: J’écris au raturant de la plume d’un stylo. Ou seja, em litté-rature (rasura da letra), Prévert escreve contra a literatura, a letra “oficial”, não escrevendo num belo estilo. A Ernst Prévert deve seu gosto pelas colagens. Em Imaginaires, Prévert dedica a Ernst o poema Roi image du collage: Max Ernst. No título lê-se não Roi mage (Rei mago) mas Roi image (Rei Imagem). Para compor seu poema, primeiro Prévert apresenta-nos a definição dicionarizada de colagem, a definição oficial, petrificada, que não apreende a revolução que a colagem imprime em nosso modo de ver a realidade: Collages Collage: Situation d’un homme et d’une femme qui vivent ensemble sans être mariés. Papiers collés: Composition faite d’éléments collés sur la toile. (Petit Robert) (Prévert, 1996) Depois, mostra suas definições, até mesmo a de décollage (que em francês pode-se ler como “descolagem” ou “decolagem”): Roi image du collage: Max Ernst Chiens collés: Châtiment infligé aux chiens n’ayant pas d’âme et vivant en concubinage. Décollage: Image d’un avion arraché de l’image de l’aéroport (ou aérodrame s’il s’écrase sur le sol). Image réconfortante s’il s’agit d’un bombardier. (Prévert, 1996) De um título de um livro de colagem de Ernst, La femme 100 têtes, Prévert cria « La femme acéphale », um de seus poemas que mais questionam a sociedade com seu autoritarismo, seus lugares-comuns. Vejam que Prévert inclui esse livreto em Fatras, seu primeiro livro que traz colagens de sua autoria. Entendemos que assim Prévert presta uma homenagem a Ernst, o criador da colagem. Em Spectacle, Prévert transforma o livro em espaço de convocação coletiva. Na seçào “Intermède”, além de outros escritores, Prévert convoca, entre outros surrealistas, André Breton, Paul Éluard, Philippe Soupault e Robert Desnos para escreverem juntos. De André Breton e Paul Éluard, Prévert cita poemas do livro L’Immaculée Conception que Breton e Éluard escreveram a quatro mãos, reforçando assim a coletividade na ação de escrever: J’ai ma femme avec moi dans mon lit même quand je suis debout. J’ai scalpé le public. J’ai mis ma verge dans toutes les cheminées le jour de Nöel. Je signe la paix et je vais porter le buvard aux Invalides. André Breton et Paul Éluard. (In Prévert, 1992) Com Soupault, Prévert escreve: Un éléphant dans sa baignoire Et les trois enfants dormant Singulière singulière histoire Histoire du soleil couchant. Philippe Soupault. (In Prévert, 1992) A este poema, Prévert coteja um poema de Minoutte, sua filha, no qual três gatinhos se banham também numa banheira, a fim de enfatizar o caráter infantil que deve constar na ação poética. Trois petits chats dans une baignoire Tournent la manivelle de satin Et s’en vont dans les broussailles Et partir et revenir, et partir et revenir Et partir et revenir. Et mangèrent leur déjeuner. Ton... Ton.... (In Prévert, 1992) De Desnos, Prévert apresenta um trecho do poema “Au bout du monde”, da seção “Les portes battantes”, do livro Fortunes (1942), no qual um desertor parlamenta com sentinelas que não entendem sua linguagem: Quelque part dans le monde Au pied d’un talus (escarpado) Un déserteur parlemente Avec des sentinelles Qui ne comprennent pas son langage. Robert Desnos (In Prévert, 1992) A linguagem da vida, do desertor, não é compreendida por aqueles que falam a linguagem da guerra, da guerra que matou Desnos. Ao utilizar um poema de uma seção chamada “as portas que batem”, Prévert retoma uma das imagens que Breton atribui à poesia surrealista: aquela que deixa as portas sempre batendo, para dentro e para fora. Aliás, dentre os surrealistas é com Robert Desnos que a obra de Prévert mantém maior afinidade. Tanto Prévert quanto Desnos são conhecidos por sua militância política, sendo que, enquanto o primeiro militava apenas através de sua obra, o segundo participou ativamente de grupos de resistência, tendo um fim trágico em 1945, durante a Segunda Guerra. Em suas obras, há partes dedicadas a jogos com palavras, como o “Rrose Selavy”, de Desnos, e os graffitti, de Prévert. Se Desnos escreveu Trente chantefables pour des enfants sages, Prévert escreveu, mas não ironicamente, Contes pour enfants pas sages, uma vez que a simples leitura dessas obras demonstra o respeito que os poetas tinham por seu público infantil. Em um depoimento de Michel Leiris a Jean Paul Corsetti, Leiris afirma que no surrealismo Desnos e Prévert haviam criado juntos um ramo original de poesia que apresentava uma verve popular, a qual destoava do restante da poesia praticada pelos surrealistas: Il était avec Desnos, qu’il ne faut pas oublier, le creáteur de ce rameau original du surréalisme dont nous parlions tout à l’heure et, en ce sens, il échappait à la menace de “littératurisme” qui pesait sur le mouvement. […] En tout cas, Prévert incarnait pour nous une poésie du “merveilleux”, mais du “merveilleux populaire”. C’est son innovation en tant que surréaliste. (Corsetti, 1991) Embora, em vida, Desnos nunca tenha escrito nenhum texto com Prévert, consideramos que, em alguns dos poemas de Prévert dedicados a Desnos, pela magia da criação poética, podemos ler textos que trazem ao mesmo tempo as marcas desnosianas e as prevertianas. Para nós, no poema “Aujourd’hui”, podemos ver claramente a presenç dessas marcas. A princípio, para entendermos que o poema se constitui como uma criação coletiva de Prévert com Desnos, devemos observar que, além de ser dedicado a Desnos, ele traz uma epígrafe retirada do poema “Aujourd’hui je me suis promené”, de Desnos, escrito em 1936, mas só publicado em État de veille em 1942. Eis a epígrafe: Aujourd’hui je me suis promené avec mon camarade Même s’il est mort Je me suis promené avec mon camarade. Robert Desnos. État de veille, 1936, (Prévert, 1996) Em relação ao diálogo entre seu texto e a epígrafe, Prévert dissemina pelo texto trechos da epígrafe a fim de marcar enfaticamente a presença tanto de Desnos quanto do poema desnosiano. Logo no primeiro verso de “Aujourd’hui”, Prévert dialoga diretamente com o poema desnosiano ao utilizar o termo “Aujourd’hui”. Note-se que nesse poema “Aujourd’hui” entra numa rede de referência tripla. Primeiro, remete imediatamente ao poema desnosiano. Segundo, refere-se à revista homônima em que Desnos trabalhou como crítico literário no início dos anos 1940. Terceiro, marca o momento da enunciação, chamando a atenção para o fato de que, para Prévert, Desnos continua. Em seguida ao termo Aujourd’hui Prévert faz seguir lugares e datas ligados à vida de Desnos, como a Rue Mazarine onde Desnos viveu durante muito tempo e seu período de militância que começou em 1936 e terminou tragicamente em 1945, quando Desnos morre contaminado pela febre tifóide. Depois, Prévert apresenta o segundo verso da epígrafe, porém com a substituição do termo “mon camarade” pelo nome de Robert Desnos: “je me suis promené avec Robert Desnos” (PRÉVERT, 1996). Quatro versos depois, Prévert cita o “même s’il est mort”. Ao retomar o último verso da epígrafe, Prévert também opera uma modificação acrescentando-lhe na primeira enunciação um “moi aussi” e na segunda, que vêm no verso seguinte em elipse, substitui o “mon camarade” pelo termo “mon ami”. Na primeira modificação Prévert nos diz que, além dele, vários outros também passeiam com Desnos, ou seja, que tal passeio é possível a todos aqueles que entram em contato com a obra desnosiana e aceitam empreender a caminhada poética. Já na segunda modificação, Prévert estabelece uma maior intimidade com Desnos, pois o autor de Paroles prefere o termo “mon ami” ao termo “mon camarade”, uma vez que este termo traz uma conotação de militância. Assim, em “Aujourd’hui”, ouvimos dos poemas de Prévert e de Desnos um canto ao amor, de saudação à amizade. Vemos a exaltação da poesia como uma das formas de se chegar a esses momentos de confraternização que ultrapassam a vida e a morte. Termino convocando André Breton e Jacques Prévert. Com Breton cito um trecho do poema “Hommage-hommage”, contribuição de Prévert para o número especial “Hommage à Picasso”, da Revista Documents (março de 1930): o surrealista está com “un pied sur la rive droite, un pied sur la rive gauche et le troisième sur le derrière des imbéciles”. Com Prévert, rendo uma homenagem aos surrealistas: ils aimaient la vie. Pour les uns, c’était la poésie, pour les autres, c’était l’humour, pour d’autres n’importe quoi, mais pour tous c’était l’amour. En souriant ils envisageaient la mort, mais c’était pour mieux dévisager la vie. Pour la rendre plus libre, plus belle, plus heureuse même. Beaucoup d’entre eux ont disparu. Mais grâce à eux, cette vie réelle, comme leurs rêves, continue. (Prévert, 1966) Eclair Antonio Almeida Filho (Brasil, 1974). Ensaísta e notável pesquisador da obra de Jacques Prévert. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 A imagem criativa na poesia de Orides Fontela José Carlos A. Brito . Orides Fontela nasceu em São João da Boa Vista, cidade do interior de São Paulo, em 21 de abril de 1940, de família pobre e pais analfabetos. Desde 1969, publicou 5 livros de poesia e, do último, Teia, extraímos os poemas para os comentários. O jornalista Luis Nassif, que conviveu esporadicamente com ela e escreveu uma crônica relatando passagem histórica de sua vida, afirma “Orides já faz parte do Olimpo das maiores poetas do século…”. Soma-se esta afirmação a uma reputação merecida que a poeta vai ganhando, com o tempo. Tendo sido considerada uma pessoa muito pobre - cursou a faculdade de filosofia com muito sacrifício - sua miséria foi comparada à de Cruz e Souza, mas na verdade possuía uma pequena renda de aposentadoria como bibliotecária. E, segundo o poeta Donizete Galvão, em artigo, Orides encontrou em São Paulo apoio de diversas pessoas, como Antonio Cândido, José Mindlin, Marilena Chauí, entre outros. Completando, Galvão confirma que “mesmo em vida, Fontela teve um reconhecimento crítico considerável (…) em conversas que tive com ela, reconhecia que era áspera, sem travas na língua e que se indispunha com as pessoas. Muito isolada nos últimos anos, dizia que estava mais amena. A própria fragilidade física tirara-lhe a disposição para a briga(…) embora tenha sido desleixada até mesmo com sua saúde, era zelosa com sua poesia…” Pelo que se sabe, a vida da poeta Orides Fontela, repleta de contradições, não lhe permitia o menor tipo de adaptação ao convívio social e, por estranho que pareça, não se refletia isso em sua poesia meiga, de convívio harmônico com elementos da natureza, como pássaros, pedras, água, rio, estrelas, entre outros. Esse conflito, provavelmente tenha sido seu elemento trágico e, porque não, também condutor de sua intensa criatividade, lembrando-nos aquele ditado, “Deus escreve certo por linhas tortas”. Provavelmente a criatividade de Orides estivesse entre essas duas extremidades tensionadas, como pontos atuantes de posições contrárias; de um lado seu inconsciente repleto de imagens e, de outro, o Daimon incendiado de seu comportamento rebelde com a vida real a enfrentar. Vejamos isso nas palavras de Nassif: “… Vivia miseravelmente. Fez carreira no serviço público e se aposentou como bibliotecária. Teve consagração em vida dos maiores críticos nacionais, dentre os quais Antonio Cândido de Mello e Souza. O professor a ajudou como pôde, com críticas consagradoras e com uma bolsa de estudos que ele recebera de uma fundação estrangeira (…) Orides reagia como um bicho acuado, um vulcão de sensibilidade que explodia na poesia, mas não conseguia canalizar para relações pessoais (…) do professor, cortou as roseiras. Deve ter feito pior com David Arrigucci. Fazia escândalos com amigos, explodia com protetores, se perdia e perdia tudo o que tinha e, quando nada mais tinha, ia abrigar o corpo magro no velho prédio da Casa do Estudante…” A seguir, o próprio Nassif estabelece os sinais do contraste da poeta, dizendo: “…a única luz que provinha dela saía pelos poemas que rabiscava desesperadamente, até se esvair de vez em um sanatório de Campos de Jordão, anos atrás…” Na sociedade em que vivemos, esses milhares de coisas chamadas de “criação”, verdadeiramente não o são; trata-se apenas do alimento diário, repetitivo, para engordar o grande ego consumista, a que foram transformados os seres comuns, via uma persona coletiva, revestida de comportamento mascarado, objeto do marketing comercial. Ela induz o ego ao único exercício de consumir todo o tempo na pretensa conquista do produto inútil. Portanto, a cultura predominante torna “compreensíveis” tais absurdos, inculcados no ser humano comum, pela excessiva produção da mercadoria, desnecessária e violenta, onde a simplicidade da poesia, em sua lógica de alma, passa a não ser compreendida. A poesia, ao não conviver com a violentação do ser, torna-se um contrasenso para a cultura de mercado. E Orides consumiu seu corpo, colocando-o diante das máquinas de guerra desse exército da realidade crua. Alguém poderia imaginar um tanque de guerra desviar-se de seu caminho para não amassar uma flor? Orides Fontela, sem levar em conta sua própria fragilidade, iludia-se, ao super valorizar sua energia interior, de flor, cuja beleza serlhe-ia uma verdade suficiente para enfrentar as armas da barbárie. Uma lógica ingênua? Ou uma entrega de corpo e alma, assumida? E seu profundo viver, no mundo subjetivo, criava-lhe dificuldades para distinguir entre amigos aliados e reais inimigos. A máscara de “novidades”, que ilude consumidores, estabelece dificuldades para entender o processo criativo da poesia, e tal compreensão só pode ser conseguida por uma alma liberta, não escravizada aos poderes inúteis e mórbidos do grande impostor da realidade. Em contrapartida, trilhar o caminho da alma corresponde ao encontro psíquico da auto realização, que convive em harmonia com sua matéria-prima de criação: a natureza. E, através da poesia, pode-se viver com um consumo material mínimo, porque a maior felicidade, nesse caso, é o fazer alma; sendo muito precioso todo o tempo para essa grandiosa operação de amor. Nesse contexto, o tempo de vida torna-se uma questão relativa: muitos podem viver 90 anos ou mais, entregandose ao serviço das relações de mercado exigidas pelo monstro, que devora cada minuto; e outros viverão sua autonomia, talvez em 10 ou 20 anos de intensa criação, a produzir o próprio mundo interior, de símbolos fantásticos e estranhos, em expansão por um cosmo quase infinito. E no momento mais inesperado esse infinito reverte-se, por um buraco negro, para a própria noite estrelada da imaginação pessoal, também, por sua vez, quase infinita, formando uma espécie de círculo animado, em forma de espiral. Mas de natureza autônoma, quer dizer, criativa, pois, o conceito é de natureza repetitiva e a imagem é geradora da novidade. Criar significa realizar coisas inteiramente novas, que proporcionam energia libidinal e não alienação nos deuses alheios. E os próprios seres, ao nascer, são sempre diferentes, sempre uma conclusão que transcendeu o passado e desprendeu-se em forma de um intermédio novo e autônomo. O nascer, ao produzir elementos inesperados, portanto, criações, assemelha-se ao processo animado da alma em vida, isto é, produção de novidades por intermédio da fantasia, no nascimento de seres simbólicos que alimentam o sentido de viver, e dão gosto. Provavelmente não seja a poesia a criadora de símbolos, mas sim de imagens, e o símbolo nasce delas, como figura de vida própria, com a qual o poeta se surpreende e passa a conviver, muitas vezes tão profundamente que se esquece da outra vida, a realidade de ganhar dinheiro para comer. A partir do momento do nascer - que para Orides Fontela se dá no grito - os seres são tomados, paulatinamente, pelo processo repetitivo da “novidade” consumista, adaptando-se de variadas formas a essa consciência “racional”, em que o desenvolvimento mergulhou o mundo numa destruição continua, até a morte. Os seres “desenvolvem-se” imperceptivelmente nessa corporificação, como produtos, com suas respectivas máscaras; aquelas da concorrência violenta ou mesmo do bom comportamento, incluindo uma ética adaptada a isso. Serão operários, médicos, engenheiros, professores, desempregados, e até mesmo revolucionários; ou mulheres reflexos desses espelhos masculinos (onde emancipar-se é ascender à condição do masculino), enfim, seres do repetitivo viver destruindo, com a matriz reprodutiva num fator subliminar da máscara, absoluto e onipotente; um ou vários deuses complementares, porém externos a suas vidas. Os seres humanos são, de uma maneira geral, pessoas desesperadas para cumprir uma missão, desprezando e estabelecendo como “função secundaria” as solicitações da alma, sedenta de libido para alimentar e despertar a Psique, adormecida de tanto padecer e ser torturada em sua procura de Eros. E a vitalidade erótica da alma, será tachada pelo mercado como inútil e indolente. Porém, alguns parecem ter sido revestidos pela natureza com o prêmio de sua capa protetora, constituída de elementos intuitivos de extrema sensibilidade e vidência, que se concretizam em uma chama primordial do fogo criativo. Tais pessoas entregam todas as forças de seu frágil ser a um exercício incansável, e surge a surpreendente energia. Nesse processo, suas almas se apaixonam e nunca mais largam a luz primitiva e reveladora com que incendeiam a vida e incomodam a tranqüilidade repetitiva dos outros. Assim nos parece Orides Fontela. E ela própria resume sua vida nesta poesia: Apocalipse - Uma estrela/ atrai/ a luz – uma estrela/ suga/ o resto do/ resto, o/ silencio – elide os deuses, im/ plode – acaba morre/ finalissi/ mamente. Orides Fontela, em sua vida cotidiana é possuída por um Eros que na antiguidade, nas tragédias gregas, era considerado como “…hostil, louco, mentiroso, portador de infortúnios, tirano, enganador” ou “deus temível em vista da devastação que ocasiona na vida humana (…) um tigre, não um gatinho de estimação” (A.E.Taylor, citado por J. Hillman). Mas segundo o próprio Hillman, esse Eros violento, rebelde, é assim enquanto não for contido pela Psique (o fruto adormecido de seu amor) “…enquanto continuar inconstante e possuído pelo complexo materno, devido sobretudo, a uma anima (alma) que ainda não emergiu de falsos valores, de noções vãs de beleza e da incerteza psicológica sobre si mesma, como alma, e que, por isso ainda não é um vaso capaz de conter a força criativa de Eros…”. Diríamos que assim foi nossa poeta Orides, em seu comportamento externo, na vida social, encarnada ao espírito do Eros desgovernado, enquanto ela própria não fosse possuída e contida por sua Psique adormecida, só despertando, constantemente, no outro mundo da poesia. Na transcendência dessa passagem para o amor, onde Eros aplica sua flecha dolorida, a Psique da poeta seria constantemente despertada de um sono de profundo sofrimento e se enlaçaria a esse amor - por isso… Sempre é melhor/ sofrer/ que não sofrer (Axiomas) - para um amor tranqüilo no símbolo poético, onde Psique deixa também de ser inocente: Balada: Os anjos são/ livres. // Podemos sofrer/ podemos viver/ o acontecer/ único// – os anjos são/ livres –// podemos morrer/ inocentemente// - e os anjos são/ livres/ até da inocência. Mais do que um significado correspondente ao sofrimento de Psique, que esperaríamos encontrar através de uma possível reclamação de amor, em poemas de paixão frustrada – coisa comum em poesia lírica – ou uma possível violência louca de Eros, carente de Psique (e vice versa), ao contrário, em Orides, isso fica plasmado nos poemas, em símbolos formados, com novas figuras (transcendentes) da união intermediaria de uma Psique, que habita com certa tranqüilidade vivências do encontro com Eros. Sofrimento explicitado - dessa forma diferente - por exemplo, no poema Adivinha; O que é impalpável/ mas/ pesa // O que é sem rosto/ mas/ fere // o que é invisível/ mas/ dói. Aqui o “encontro” é nítido, pois, Eros vem amar e some (impalpável); esconde sua identidade (sem rosto); fere ao amar e ao partir; mas, mesmo invisível machuca; no bom ou mal sentido. Portanto, o encontro da psique de Orides se dá no imaginário. E ali, a poesia é uma vida calma, coerente, criativa. A alma da poeta entrega-se toda às imagens, na encubação, gestação e nascimento do símbolo: Ouvir um/ pássaro/ é agora ou/ nunca… (Cantiga) …Pano branco/ integralmente branco//…para receber o sangue/ de todas/ as coisas…(Toalha). E nesse mergulho profundo (ao fundo), de todas as partes vivas nas imagens formadoras da unidade interior -da alma habitando seu deus- ela vive, provavelmente, estados de delícia (ou felicidade?) esquecendo o corpo magro e cada vez mais debilitado. Essa força física, biologicamente necessária, é inteiramente trocada pela resistência simbólica do poema, onde o conteúdo forma as imagens de sua vida e de sua força (a outra). A poesia de Orides, em nada corresponde a suas atitudes nas relações sociais, pois, a verdadeira amizade habita mais dentro do mundo interno. E a poesia, de formato especialmente seu, terá lirismo próprio, será amorosa, delicada, suave e compreensiva, em convívio com os personagens da natureza, seus amigos, suas metáforas de redenção, aquelas de um Eros contido no amor de Psique. Assim no poema Para C.D.A. somos tocados pela seguinte imagem: …Perdi o bonde/ (e a esperança), porém/ garanto/ que uma flor nasceu… Para essa perfeição, buscada na síntese voluptuosa e simbólica dos personagens transcendidos, sua poesia, como dizíamos, prescinde dos elementos tradicionais da linguagem amorosa, como: paixão, amor, sexo, saudade, traição, remorso, entrega, desejo, ciúme, mágoa, corpo, frustração, retomada, despedida, encontro, ou toda sorte de relação fisiológico-sentimental entre masculino e feminino. As figuras serão: pássaro, pedra, estrada, rio, água, silêncio, ou elementos (mãos) da fisiologia, relacionados à expansão cósmica: esse mundo sedutor e de mistério do além, algo como uma vida metafórica da união amorosa percorrida pela alma, onde sua Psique vai ensinando Eros a viver, e recebendo dele uma permanente energia vital, através das figuras e do mundo solidamente fantasiado …Um pássaro/ resiste aos/ céus. E perdura./ Apesar. (O antipássaro). No entanto, quando um dos pólos apodera-se literalmente do comportamento, anulando paulatinamente o oposto - o que significa paralisar o fluxo energético global e parar a produção de libido a poeta tende a desequilibra-se perigosamente, com um estancar repentino de vida prática. No caso, o corpo reclama através da tuberculose, ou qualquer outra doença. Vejamos o processo neste significativo poema: …Numa hora/ secreta/ as águas/ dormem// (rios detidos/ fontes inertes/ introvertido oceano)// numa hora/ impossível/ cessa o/ fluxo/ e eis a/ estrela: amor/ cristalizado (sem título). A Teia – A teia, não/ mágica/ mas arma, armadilha// a teia, não/ morta/ mas sensitiva, vivente// a teia, não/ arte/ mas trabalho, tensa// a teia, não/ virgem/ mas intensamente/ prenhe:// no/ centro/ a aranha espera. Teia lembra preparação entre a produção, que a poeta espera do seu rico imaginário inconsciente e a consciência, esta preparada para recolher as imagens, transformando-as em símbolos vivos. A teia, portanto, não se apresenta simplesmente como uma situação unilateral, com predominância de um ou outro dos pólos (inconsciente x consciente). Não será apenas o clima mágico do mundo interior, mas trata-se também de ação da consciência, no armar armadilhas, justamente para captar as figuras originarias da parte obscura. Não somente o rico mundo do além, na metáfora de (fantasmas) não mortos, mas sensitiva, vidente, isto é, desperta para abocanhar o poema. E não apenas a virgem imaculada dos mistérios que estão por vir, mas prenhe para produzir e criar no centro, isto é, na mediação, onde nasce a intermediação do símbolo, para criar a figura nova e transcendente: a aranha, aquele si mesmo, que reúne na Psique todas as forças psíquicas, vindas dos mais diversos lugares. Unida a um eu (ego equilibrado), espera, para alimentar-se do símbolo, ou das visitas inconfundíveis de Eros. Fala – Falo de agrestes/ pássaros de sois/ que não se apagam/ de inamovíveis/ pedras// de sangue/ vivo de estrelas/ que não cessam.// Falo do que impede/ o sono. Falo: o membro erótico da libido e do despertar (também flecha de Eros dirigida a Psique), confunde-se com o pronunciar o verbo, o poema; esse produzir do falo através da fala. O pássaro é a comunicação de uma imagem primordial (arquétipo)…de sois; o sol é símbolo da criação ou do falo permanente, que se introduz em psique. E a pedra, cristaliza a imagem de que o coito é uma junção permanente, inamovível; não se apaga. Mas logo as pedras tomam vida, para que sua permanência seja igual a um ente vivo, onde corre sangue (a projeção e a identificação com o próprio corpo, ou analogia subliminar a ele; pedra que precisa animar-se). O sangue, consciente, é vivificado dentro do símbolo de Psique, isto é, dentro do inconsciente, por estar relacionado ao fogo vivo das estrelas, junto ao habitat da alma. E a energia vital da libido é acionada pelos pássaros que circulam livremente entre os pólos. Lembrando o mito de Eros e Psique: a princesa Psique, após muito sofrer em busca do deus Eros perdido, e tentar o suicídio, desanima e é castigada com um profundo e eterno sono, do qual, somente Eros poderá acordá-la com suas flechadas de amor. A poeta transforma a flecha em falo e sinaliza que essa palavra impede o sono, ao falar no poema daquilo que impede o sono: provavelmente o amor, metaforizado nas coisas eternas; não se apagam, inamovíveis, coisas eternas. Consideremos que Orides, em várias ocasiões tentou suicídio e também se refugiava em boemia e na depressão (dormência?). Para James Hillman, são formas da psique ir em busca da alma, ou do fazer alma; caminho sedutor, repleto de dificuldades e riscos, às vezes trágicos. Maiêutica: Gerar é escura/ lenta/ forma in/ forme// gerar é/ força/ silenciosa/ firme/ gerar é/ trabalho/ opaco:// só o nascimento/ grita. Parece-nos que, para Orides, o silêncio é a chave e a porta de entrada no seu vasto mundo interior (ou do inconsciente: imaginário); essa força silenciosa e firme do gerar. Após a descoberta do nascer, gerar precisa despir-se das formas (in forme), para ser a força escura, difusa - a noite onde vivem os mistérios - indo à procura das imagens no trabalho opaco, noturno. E silenciosamente arranca as figuras, desse seu outro mundo, da treva, para viver as fantasias de sua autonomia. Gerar, portanto, trabalha na parte oculta, com o silêncio, instrumento oposto ao das palavras. Pois, as palavras, correspondem ao trabalho da consciência na tradução das figuras em objeto arquétipo da arte poética. Por outro lado, gritar se dá no lado consciente, isto é, no nascimento; significando a conversão da imagem do silêncio para o grito. É como se cada ser, no ato de nascer e ao pronunciar o primeiro som, tivesse rompido um silêncio de milhares de anos, situação incorporada ao inconsciente coletivo de todos os seres, em imagens primordiais. Portanto, a sua primeira fala pressupõe automaticamente a existência desse silêncio milenar, compondo sua existência anterior nessa ligação coletiva de memória arquetípica, ou melhor, a sedimentação das imagens comuns, desde o início de tudo, neste caso extraídas para a criação pessoal. No caso da poeta, o silêncio e a fala, o gerar e o nascer, são pólos de tensão em pontos opostos, cuja manutenção equilibrada no símbolo impede também a loucura, quer dizer, a invasão absoluta de um dos lados, tanto do inconsciente, anulando a outra parte, como o da inflação excessiva da consciência de um ego aumentado, que reforçaria a máscara, anulando a fantasia. No caso, a invasão unilateral do inconsciente corresponderia, como já vimos antes, ao Eros enlouquecido, inconseqüente (que assim age enquanto não é contido por Psique) e que no caso da poesia de Orides acaba controlado por sua psique do nascimento. Quer dizer, da mesma forma que seu silêncio é a descoberta do mundo mágico, seu grito (de nascer) é sua poesia plasmada; seu símbolo realizado. João: De barro/ o operário/ e a casa//…O pássaro/ faz o seu/ trabalho/ e o trabalho faz/ o pássaro//… O duro/ impuro/ labor: construir-se//…O canto é anterior/ ao pássaro// a casa é anterior/ ao barro// o nome é anterior/ à vida. O pássaro faz o seu trabalho. Novamente temos aqui o pássaro, como mensageiro da alma (confundindo-se com a própria) que trabalha incansavelmente fazendo a casa, isto é, a construção do seu próprio ser, seu habitat, seu logos (o si mesmo, onde também habita o eu da poeta, numa síntese dos contrários). Mas esse trabalho faz o pássaro na consciência, que resgata a imaginação para o símbolo e, bem provavelmente, permite o equilíbrio consciente da poeta, quando ela enxerga realizada sua obra (incluindo a edição de seus livros, que ela mesma curte, com especial atração). É duro construir-se; algo como Psique sofrendo na espera, para o despertar. Mas o canto, figura primordial no nascimento é anterior ao pássaro (alma) e anterior ao início da vida no mundo. Será o canto - aquele primeiro som, símbolo do feminino, que dá inicio à criação - algo como a figura de um inconsciente coletivo do nada, essa função arquetípica anterior à matéria? Ou será ele o espírito coletivo, a acompanhar a vida do mundo? Da mesma forma, a casa, o si mesmo individual, que em termos coletivos corresponderá à mesma imagem primordial, é anterior ao barro (a consciência), no sentido de a imaginação do completo estar antes de iniciar-se a realidade. O nome – origem do arquétipo feminino da existência ou imagem da mãe geradora (e gestadora) na anima mundi (alma do mundo, ou anima(a)ção da matéria) – é anterior à vida (consciência do mundo). Ditado: I - Mais vale um/ pássaro/ na mão pou/ sado que o vôo da/ ave além/ do sangue.// II - Mais vale o/ canto/ agreste/ do que o vívido/ silêncio branco/ além do humano/ sangue//. III Mais vale a/ luz/ aberta/ do que austera/ noite primeva para além/ do sangue//. IV - Mais vale o/ pássaro/ mais vale o/ sangue. O pássaro na mão é a alma sob controle da psique e, o vôo além do sangue, que para a poeta tem menor valor, é a vida consciente, racional, humana: a responsabilidade que a sociedade exige dela, o mesmo que “dar o sangue”. E note-se bem, ao representar isso de menor valor, também por uma noite primeva, corresponde a uma dúvida e a um medo em avançar no inconsciente, pois, o mergulho na imaginação também pode afogar. Volta-se a refletir, ou a intuir o inconsciente como integridade fornecedora de imagens (o canto agreste) ação equilibrada pelo oficio da consciência que recolhe as imagens (a luz aberta). Porém, antes de partir para o desconhecido, onde pretende exercitar-se no fazer alma, paira novamente, sobre ela, a dúvida e o medo (esse necessário instrumento de contato com a alma). O menor valor dado ao vívido silêncio branco (aquele que sempre foi corajosa chave da porta de entrada no inconsciente), por acaso representará o medo e a dúvida em relação a rupturas com os elementos geradores do aquecimento da libido? E, nesse caso, não seria perigoso voar sem reabastecer? Ao ter procedência tal temor, digamos que esse fato confirma a situação equilibrada da poeta, considerando tratar-se de reflexão ponderada, que atesta a presença do cuidado em prevenir-se, quando se trata de planejar ações de profundidade. Mas, na quarta e última estrofe do poema, passamos a observar que, apesar das dúvidas e temores da poeta, ela acaba valorizando equilibradamente o todo; tanto o pássaro, como o sangue, pois, para chegar à noite primeva é requisito atravessar o sangue, o sofrimento, e as provas de amor, inclusive suportar a flecha de Eros e a dor necessária. Pesca: I – A beira do rio o silêncio/ dos peixes/ a beira do rio nem/ a espera.// II – A água não cessa/ e o rio/ nunca passa.// III – A beira rio/ a lucidez/ a/ pedra// e a pedra é/ pedra: não germina./ Basta-se. O rio é a (bela?) paisagem do inconsciente (imaginação ativa)? Neste caso já transcendido (transformado) em símbolo de água vitalizada pela corrente das coisas imponderáveis? A psique da poeta permanece à beira desse rio, numa posição confortável de visão e reflexão. O silêncio é a abertura para a entrada do clima perfeito de integração, tão profundo, ao ponto desse silêncio ser figurado na vivacidade dos peixes. Os peixes são vivos, silenciosos e integrados absolutamente ao rio da própria vida interna e ao caminho percorrido pela alma (a água não cessa); um silêncio necessário para energizar a vida. Não há espera, porque nessa imaginação vitalizada, em que agora a poeta seguramente está mergulhada, as figuras borbulham e a libido não cessa. Uma imagem dinâmica é desencadeada, na medida em que dois extremos são criados como pólos em posição de gerar energia: de um lado “a água não cessa” de outro “o rio nunca passa”. E dessa relação para produção de imagens, nasce o novo símbolo, deslumbrante: a lucidez e a pedra. Outra vez a pedra é o vivo espelho do próprio ser vital, pois ela não germina, é a filha de si mesma ao desdobra-se em outros eus, sendo cada um o reflexo da poeta, algo como a psique despertada, reunindo em si as varias funções do Eros integrado, o si mesmo: união do mundo interno (e noturno) do imaginário com a consciência de luz do dia. Talvez, um mergulho tão profundo e sedutor, que arrebata o símbolo de Eros, de tal forma, para a extremada vitalidade da fantasia, tenha sido a causa do eu ter ficado tão desprezado. E provavelmente, neste caso, a consciência ressente-se da falta de energia e deixa penetrar a tuberculose pelo corpo ressequido. Provavelmente tenha faltado à poeta um pouco de água do rio caudaloso, para dar de beber à consciência. Feito peixe vivo, seu imaginário deliciou-se na água, onde o corpo humano tem limites de resistência sem respirar, e Orides Fontela passou a viver um silêncio cósmico: “…a estrela da tarde está/ madura (…) depois dela só há/ o silencio (Vésper) José Carlos A. Brito (Brasil, 1947). Poeta e articulista. Autor de livros como O Nascimento do Mundo (Prêmio da editora Taba, RJ), Poemas do Amor Quebrado (Prêmio da Academia Il convívio, Itália, 2003), e O Romance de Meiga e Sátiro (peça de teatro em versos) Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Amavisse, de Hilda Hilst: pacto com o hermético Claudio Willer . Prossigo na recuperação de textos que alguma vez saíram impressos, transferindo-os para o meio digital e colocando-os à disposição, on line. Desta vez, algo entre a resenha e o ensaio, a propósito do lançamento, ao final de 1989, de Amavisse de Hilda Hilst, na época lançado por Massao Ohno e agora integrando um dos volumes de Obras reunidas de Hilda Hilst pela Editora Globo, organizada por Alcir Pécora. Meu texto saiu no Jornal do Brasil de 17/02/1990, no Caderno Idéias/ Livros. Já havia escrito sobre Hilda Hilst. Em 1980, registrei meu entusiasmo com as imagens poéticas de Da Morte – Odes Mínimas, na revista Isto É. Em 1987, escrevi sobre a coletânea de textos em prosa Com os meus olhos de cão (então lançada pela Brasiliense). Logo a seguir, em 1991, voltaria à carga, a propósito do Cadeno Rosa de Lory Lamby, dessa vez no Jornal da Tarde, rebatendo as críticas à pornografia nessa narrativa, sustentando tratar-se de um relato alegórico. Também já comentei Diário de um sedutor, e dei palestras sobre sua poesia e sua prosa. Nesta versão on line, fiz alterações mínimas. A retificar ou rever, apenas o último parágrafo, no qual bato na tecla da falta de reconhecimento e reclamo mais estudos sobre Hilda Hilst. Felizmente, a situação mudou. Hoje, a poeta da Casa do Sol, falecida há um ano, tem mais leitores, e uma bibliografia crítica muito mais consistente, embora, evidentemente, ainda haja muito a ser dito sobre sua obra tão densa, complexa, e aparentemente paradoxal em sua coerência (ou, antes, coerente em seus paradoxos). PACTO COM O HERMÉTICO Amavisse, de Hilda Hilst, teria que figurar entre os principais lançamentos de obras poéticas da década de 1980. Obra de síntese e integração, corresponde a um clímax de sua produção, que ela agora ameaça encerrar, depois da próxima publicação de um livro debochado, o Caderno Rosa. Na obra de Hilda Hilst, poesia e prosa são vertentes distintas, porém complementares (acrescidas ainda por sua produção teatral). A poesia freqüentemente é mais concisa e contida, com um sentido de apuro formal, mais evidente no lírico Júbilo, memória, noviciado da paixão. É esplêndida nas imagens poéticas do tipo visual, particularmente em Da Morte - Odes Mínimas. A prosa, reunida em Com os meus olhos de cão, publicado pela Brasiliense em 1986, é anárquica, transgressiva, delirante. Cada livro parece fragmento de um texto infinito (o que é indicado por um dos títulos, Fluxofloema). Textos de invenção e ruptura, particularmente o escatológico (nos dois sentidos da palavra) A obscena Sra. D. Amavisse representa o melhor do lirismo de Hilda Hilst ao celebrar o amor e o desejo em passagens como esta: “Como se te perdesse, assim te quero./ Como se não te visse (favas douradas/ sob um amarelo) assim te apreendo brusco/ inamovível, e te respiro inteiro/ Um arco-íris de ar em águas profundas […] Como se te perdesses nos trens, nas estações/ Ou contornando um círculo de águas/ Removente ave, assim te somo a mim:/ De redes e de anseios inundada”. É uma poesia noturna, lunar, herdeira do Romantismo: “De ti me vem/ A noite tingida de matizes, flutuante/ De mitos e de águas. Inaudita”. Ao falar da experiência do noturno em seu lado revelador e abissal, permite paralelos com obras da envergadura de Água viva, de Clarice Lispector. Por exemplo, ao enxergar “um oco fulgente num todo escancarado./ E um negrume de traços nas paredes de cal/ Onde a mulher avesso se meteu”. Trechos como esses poderiam ser de prosa poética e estar na obra em prosa de Hilda Hilst. O mesmo vale para uma temática, que também é uma obsessão, presente em Amavisse e em vários dos textos de Com os meus olhos de cão, como Qadós: o confronto com Deus, mas com um Deus mutante, animalesco: “Deus, um cavalo de ferro/ Colado á futilidade das alturas”. Isso é indicado já na abertura do livro: “Porco-poeta que me sei, na cegueira, no charco/ À espera da Tua Fome, permita-me a pergunta/ Senhor dos porcos e dos homens:/ Ouviste por acaso ou te foi familiar/ Um verbo que nos baixios daqui muito se ouve/ O verbo amar?” Essa indagação é um questionamento: “À carne, aos pêlos, à garganta, à língua? A tudo isto te assemelhas?/ Mas e o depois da morte, Pai? […] Hein? À treva te assemelhas?” O diálogo cresce e se torna mais enfático na terceira parte do livro, intitulada Via Vazia (as outras duas são Amavisse e Via espessa): “Que vertigem, Pai./ Pueril e devasso/ No furor da tua víscera/ Trituras a cada dia/ Meu exíguo espaço”. E mais: “Descansa./ O Homem já se fez/ O escuro cego raivoso animal/ Que pretendias”. Discurso da ruptura, blasfêmia declarada, pois: “Não percebes […] / Que há uma luz que nasce da blasfêmia/ E amortece na pena?” Sua cosmogonia paradoxal permite estabelecer vínculos entre Hilda Hilst e outros autores rebeldes, mostrando afinidades que não estão na superfície, na obra manifesta. A imprecação contra um Deus opressor é radicalizada, por exemplo, em Para acabar com o julgamento de Deus, de Artaud. E em estrofes de Os Cantos de Maldoror, de Lautréamont. Em uma delas, é invertida uma passagem da Divina Comédia. Deus, ocupando o lugar do diabo dantesco, devora seres humanos que apodrecem em um charco. Susan Sontag, ao escrever sobre Artaud (no prefácio dos Selected writings de Artaud – esse prefácio foi incorporado à coletânea Sob o Signo de Saturno, publicada no Brasil pela L&PM), vincula-o com propriedade a uma corrente mística, herética e subterrânea, a gnose. Para Sontag, uma das versões do gnosticismo implica a libertinagem – praticar a arte da transgressão. A libertação, entendida como recuperação da unidade anterior à Queda, passa pela ruptura com as leis morais e sociais. A blasfêmia é um caminho do conhecimento, identificado ao estado de graça. Para Colin Wilson, em O Oculto, cristianismo e gnosticismo “não deveriam ser considerados antagônicos, mas manifestações diferentes do humano desejo de escapar à banalidade da existência”. No entanto, a gnose nega o cristianismo, por achar que o Criador, ou Demiurgo, é um produto da Queda, uma divindade decaída. Ainda citando Colin Wilson: “O mundo não foi criado pro Deus, mas por um demônio idiota e presunçoso (ou Demiurgo)”. O gnosticismo é explícito em William Blake, ao designar Deus como “Velho Pai-Ninguém”, Old Nobodaddy. E também no vigor libertário de O casamento do céu e do inferno. São de origem gnóstica heresias como as dos cátaros albigenses, militarmente exterminados no século XIII. Em Lautréamont, os traços gnósticos devem ser involuntários, produto de suas idéias literárias. Mas são propositais em Alfred Jarry, que disfarçava com a prática do humor negro (no texto e na vida) sua formação filosófica e hermética. E o gnosticismo está em vários dos “malditos” e satanistas do final do século XIX. Claramente, o interlocutor de Hilda Hilst, nos trechos citados, é o Demiurgo. É irrelevante se isso corresponde a alguma adesão proposital da autora à doutrina gnóstica, que, além de tudo, é plural, difusa, e se confunde, em suas variantes, com o orfismo, o dionisismo e o tantrismo. Tanto faz, assim como um escritor não precisa ser psicanalista ou semiólogo para que se cite Freud ou Roland Barthes ao discutir sua obra. Em qualquer um desses casos, a operação é como um jogo de espelhos, o confronto de dois sistemas, aquele do texto literário, e outro, que podem, ambos, se iluminar reciprocamente. E o sistema segundo não precisa ser intencionalmente metalingüístico, desde que se queira fugir à tirania cientificista do método. Da mesma forma, o detalhe biográfico de Baudelaire haver ou não conhecido Éliphas Lévi passa a interessar porque a teoria hermética das analogias e correspondências ajuda na leitura do poeta francês. Há um aspecto do gnosticismo que serve como metáfora da criação poética. Trata-se do falar línguas, a linguagem dos rituais gnósticos, abordada em um ensaio de Octavio Paz, Leitura e Contemplação (publicado no Brasil na coletânea Convergências – Ensaios sobre arte e literatura, pela Rocco). Feita de glossolalias, usa um vocabulário próprio, radicalmente distinto da linguagem prosaica e cotidiana. Algo como o que é proposto por Hilda Hilst: “Não cantarei cotidianos. Só te cantei a ti/ Pássaro-Poesia/ E a paisagem-limite: o fosso, o extremo/ A convulsão do Homem”. É a busca da linguagem adâmica, anterior à Queda. Como se comentasse William Blake – em “O caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria” de O Casamento do Céu e do Inferno –, ela proclama: “Dá-me a via do excesso. O estupor/ Amputado dos gestos, dá-me a eloqüência do nada/ Os ossos cintilando/ Na orvalhada friez do teu deserto”, pois “o poeta habita/ O campo das estalagens da loucura”. E mais: é assim que “a distância habita em certos pássaros/ Como o poeta habita nas ardências”. E aqui é possível outra analogia, entre a relação de um místico com o misticismo, e de uma poeta como Hilda Hilst com a poesia: há um compromisso, uma relação vital, muito mais íntima que, por exemplo, a adesão a um sistema de idéias, a uma teoria científica. Quando ela intitula seu livro de Amavisse, é porque amou: as vias indicadas nos subtítulos – Via Vazia, Amavisse e Via espessa – foram, efetivamente, percorridas. Retomando o desregramento dos sentidos de Rimbaud, Hilda estabelece um pacto com a loucura: “Estendi-me ao lado da loucura/ Porque quis ouvir o vermelho do bronze/ […] Um louco permitiu que eu juntasse a sua luz/ À minha dura noite”. Fala do poeta, voz da loucura: “E o que há de ser da minha troca de inventos/ Neste entardecer. E do ouro que sai/ da garganta dos loucos, o que há de ser?” Mas o louco faz parte dela, duplo alquímico ou Doppelgänger romântico: “Minha sombra à minha frente desdobrada/ Sombra de sua própria sombra? Sim. Em sonhos via./ Prateado de guizos/ O louco sussurrava um refrão erudito:/ – Ipseidade, senhora. – / E enfeixando energia, cintilando/ Fez de nós dois um único indivíduo”. Busca da unidade perdida, recuperação da memória primordial, também em: “Canto canções assim tão compassivas/ Na minha língua esquecida”. Assim como na Gnose, uma rebelião que, sendo social, revolta contra o cotidiano, adquire uma dimensão cósmica. Quer resolver a contradição entre o sujeito e seu mundo, e se volta contra o Tempo: “Que as barcaças do tempo me devolvam/ A primitiva urna das palavras”, da palavra fundante, não-instrumental, pois “o poeta preexiste, entre a luz e o sem-nome”, habitante de um mundo animado, revitalizado, onde “De cigarras e pedras, querem nascer palavras”. Há, em Amavisse, uma declaração de princípios e uma poética, baseada na adoção da linguagem transgressora para recuperar outro tempo, realizar simbolicamente o paraíso na Terra. Sua obra, lida à luz dessa poética, apresenta uma cosmovisão, e uma visão coerente da situação do poeta no mundo. Ela tem o pleno direito de citar Georges Bataille, como o faz. Poderia ser invocada pelo autor de A Literatura e o Mal, que aplicou a idéia hegeliana de negatividade à análise da literatura e transformou a noção de transgressão em categoria. Prevalece, no Brasil, o mau hábito de não se ler direito alguns de nossos melhores autores. Há um viés em favor do discursivo e transparente. Fortunas críticas como as de Guimarães Rosa e Clarice Lispector são exceções. A regra é a procura do codificado e a fuga do hermético. Um Jorge de Lima constaria como monumento literário, mundialmente, se fosse melhor lido aqui. O barroco moderno e o realismo fantástico poderiam ter outra cronologia e outra atribuição de origens. Quanto à obra de Hilda Hilst, salvo vozes isoladas, como a do crítico Léo Gilson Ribeiro, nosso meio literário ainda lhe deve discussões e estudos à altura de sua real importância. Claudio Willer (Brasil, 1940). Poeta, ensaísta e tradutor. É um dos editores da Agulha. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Biblioteca Ayacucho: notas para una primera historia Oscar Rodríguez Ortiz . Biblioteca Ayacucho tiene una fecha cierta en 1974 pues ese año se creó oficialmente. Imposible olvidar que mucho antes comenzaron a tejerse los elementos que entonces parecían desunidos pero ahora pueden ser vistos como entrelazados y significativamente históricos. En 1967 Ángel Rama vino por primera vez a Caracas pero Marcha había publicado ya trabajos venezolanos y hasta un libro de cuentos de Salvador Garmendia apareció en Montevideo. En el 67 se celebraba el cuatricentenario de la capital venezolana, que la ciudad festejó con un terremoto. Se entregaba por primera vez el Premio Rómulo Gallegos, ganado por el jovencísimo Vargas Llosa. Se reunía además el XIII Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana y lógicamente tantas personalidades juntas de una sola vez se dedicaron a abordar la novedad de la reciente novelística. Lo que se hizo en la Caracas de esa época en torno a ese tema produjo, como en otras partes de Latinoamérica, algo tan impensable como que para oír hablar de novelas se llenaran los teatros y no cupiera el público en las salas. Así, Rodríguez Monegal tuvo que improvisar un ciclo de charlas sobre la nueva novela en la Cinemateca Nacional, que fue transmitido por Radio Nacional. La clausura del famoso congreso literario se hizo en un espacio menos académico, como el Ateneo de Caracas, y allí hablaron cada uno diez minutos: Vargas Llosa, García Márquez, Fernando Alegría, José María Castellet, Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, Arturo Úslar Pietri, Adriano González León. Nunca se habían visto tantas personalidades juntas en actitud de ser informales, de tratar lo reciente, lo no trillado, lo casi desconocido, y de no parecer profesores estirados. Personalidades que no jugaban a ser personalidades. Lo mismo ocurriría los cinco años siguientes. Desde luego el novel peruano retenía la atención, no sólo de las lectoras. Sin embargo las otras dos verdaderas estrellas protagonistas de la atención pública eran, asunto extrañísimo, inédito y original en Venezuela, precisamente lo que menos se esperaría: los dos críticos, uruguayos ambos, que demostraban gran vivacidad en sus planteamientos, despertaban una insospechada atención por lo que decían y se decían mutuamente, el no menos curioso fenómeno de tener en la cabeza, a la vez, la más reciente cultura literaria latinoamericana entendida como un conjunto y un sistema de relaciones. El presidente del Congreso Iberoamericano era José Ramón Medina. Las visitas de los críticos púgiles se repitieron, y ver u oír discutir acerca de literatura a semejante nivel y con tanta astucia era, en el mejor sentido, un espectáculo que ayudó a popularizar la literatura como hecho y llevó a pensar en la manera de inventar otros medios para que literaturas y libros circularan mejor entre los países, en que lo nuevo no existía en el aire y se extendía hasta el pasado: no era tonto ni asunto escolar, sino cuestión de primer orden, releer y entender otra vez a los escritores realistas, a los románticos, clásicos, etc. Rama terminó por radicarse en Caracas y ser aquí tanto un apetecido profesor como un buscado polemista de foros. Uno de sus vecinos y amigo del mismo edificio, fue el poeta Alfredo Chacón, que sería después, presidente de Biblioteca Ayacucho entre 2001 y 2003. Todo este torbellino de informaciones, teorías e invenciones, estaba en ebullición constante en la cabeza de Rama y lo compartió con José Ramón Medina, veterano de los oficios impresores, dirigente de los complicados gremios de escritores y periodistas, poeta reconocido y exitoso funcionario de alto nivel. En Venezuela hay un dicho popular que reza para ocasiones como las del encuentro Rama-Medina, que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Se completaban y diferenciaban en estilos, formas de reaccionar, y hasta estatura física. Se correspondían en la misma obstinación de conseguir propósitos, en la convicción de que tenían entre manos algo muy grande y serio que suponía respaldos morales y materiales, internos e internacionales. Rama alentaba el preproyecto urgentísimo de una gran colección de libros clásicos, con ediciones modernas y analíticas. Nada de esos libros que se acostumbran como para salir del paso a la hora de publicar la novela María de Jorge Isaac o los textos de la emancipación hispanoamericana: había que romper la inercia, poner a trabajar a todo el mundo, repensar, rehacer, editar los clásicos como si fueran novedades, justamente en el momento en que el mercado del libro en lengua española estaba determinado por el éxito comercial, el rendimiento rápido y por el último alarido de la moda. Si los intentos anteriores hechos en Latinoamérica fracasaron o se interrumpieron, Venezuela parecía un lugar adecuado como para ponerlo en movimiento, toda vez que el Cono Sur estaba asfixiado por las dictaduras militares. Indudablemente Rama sabía, porque lo estudió particularmente como autor egotista, el caso de Blanco Fombona, quien en los años veinte, desde España, produjo por su propio esfuerzo la Biblioteca Americana, una de cuyas colecciones, la de 1924, se llamaba Biblioteca Ayacucho. Al proyecto sólo le faltaba financiamiento seguro y continuo, nada menos. Medina trazó la estrategia para motivar a las más elevadas esferas del gobierno venezolano, y consiguió el milagro de convencer al Estado, en su maquinaria y en sus personeros, que no era un despilfarro, locura o expresión elitesca y antidemocrática publicar libros especiales con lo mejor de la cultura intelectual latinoamericana. Medina se desempeñaba en esa época como fiscal general de la República. Recibida la aprobación oficial y la seguridad de que habría pronto un presupuesto y que se pasaría primero por convocar a los más sabios de América para escuchar sus consejos, se le abrió espacio a Rama en algún lugar de esa dependencia dirigida por Medina. Un escritorio y un teléfono. Y su máquina de escribir portátil con la que inmediatamente hizo colapsar el servicio de correos. Se conservan numerosas cartas en las que, por retazos, aquí y allá, mezclando lo personal con lo político y lo literario con lo práctico, cuenta a amigos, relacionados y desconocidos el proyecto que está tramando y pide colaboración o auxilio. Es muy divertido leer cómo muchos corresponsales se hacen la idea de que Rama, por fin, qué envidia, pudo montar una infraestructura de numerosos investigadores en cubículos aislados. Esta falsa idea de que somos legión los que trabajamos en Ayacucho es una de las leyendas más interesantes e inexactas de la historia de la institución. A mediados de los años noventa alguien escribió al “Departamento de cronologías” de la Fundación solicitando en préstamo o compra los materiales que tuviéramos procesados del último quinquenio. Es decir: Biblioteca Ayacucho evoca a la colectividad intelectual latinoamericana, que está presente, pero a través de sus trabajos, de sus colaboraciones, de su generosidad. Los equívocos han tenido otras manifestaciones tragicómicas: un funcionario oficial encargado de inspeccionar dependencias preguntó no hace mucho dónde estaban las mesas y sillas de ésta, que se hacía llamar biblioteca. Uno de esos profesionales de la medición y cuantificación de tareas, pedía en una planilla que se identificara a los “usuarios” de Ayacucho. Se le explicó el perfil de sus lectores, pero como no estaba satisfecho y supo que nuestros libros iban a las grandes bibliotecas del mundo, propuso que pidiéramos las estadísticas de lectura de Ayacucho a una de esas instituciones. Entonces, la vida de Biblioteca Ayacucho tiene algún parecido con la de los personajes de las novelas clásicas que debe publicar porque es su campo y especialidad. Algunas veces Santos Luzardo, otras Macunaíma, muchas, para quienes empujamos la máquina, Cecilia Valdés. La correspondencia que se ha ido acumulando en los expedientes de cada título publicado o por publicar, acaso comente sin intención los períodos de la historia reciente de Latinoamérica: los problemas para documentarse desde aquí, conseguir las primeras ediciones o sus microfilmes. Seguir muy trabajosamente el rastro de una viuda que debe autorizar nuestra edición, pero como los derechos pasaron a los hijos y éstos se dispersaron por el mundo, las cartas van y vienen sin resultado durante años. Los excesos de un prologuista que envía un trabajo de quinientas cuartillas y no entiende por qué no se le puede aceptar. La magnífica disposición de quien nos fotocopia una edición rara y paga el correo rápido de su bolsillo. La imposibilidad de comunicarse con un escritor de estos días y esta hora porque se niega a tener correo electrónico. Hay cartas impresionantes. Una enigmática y escalofriante: en febrero de 1976, Darcy Ribeiro dice a Rama: “Escríbeme, preciso de ti muy vivo y lúcido hasta octubre de 1983, cuando moriré”. En junio de 1983, seis meses antes de su muerte, Rama escribe a un amigo: está alarmado porque teniendo Ayacucho firmados casi cincuenta contratos de preparación de obras, los colegas latinoamericanos no cumplen los plazos o se demoran en hacerlo. Desde mediados de los años noventa Biblioteca Ayacucho conocería la situación contraria: tiene más de cincuenta obras en distintas etapas de preparación, pero su producción anual comienza a experimentar retrasos e incertidumbres porque su presupuesto anual llega a destiempo y recortado. Del golpe recibido con la muerte de Rama, Ayacucho pudo recuperarse. Siguió existiendo con títulos y autores de la misma calidad que en su etapa inicial. Borges, Sábato, el propio Rama, los tomazos antologados por Sosnowski, etc. Al proyecto original se sumaron dos colecciones de bolsillo, complementarias de la clásica, dirigidas a públicos más amplios. Ya desde el principio se hablaba de diversificar los instrumentos para abarcar de maneras diferentes el único propósito de la cultura latinoamericana como un todo. Se pudo reunir un equipo de conocedores de diversas artes para montar una cronología general que cubre del siglo IX a.C. a 1991. Como en sus primeros momentos convocó a la comunidad intelectual latinoamericana, hubo la respuesta esperada, y unas quinientas firmas sólidas, de todas partes, hicieron posible el monumental Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina. Tal vez cuando Ayacucho termine su labor y cierre su ciclo se entenderá por fin cómo, por razones demasiado complicadas y muchas veces inexplicables los libros de distintas épocas y autores se relacionan y entrecruzan. Esta relación no la explican solamente la historia o la crítica, es más complicada. Dentro de cien años, concluida ya la labor de este sello, en las bibliotecas donde se conserven los grandes libros de la cultura latinoamericana junto a los monumentos escritos de las culturas de todo el mundo, se leerá con la debida perspectiva del tiempo esa trama secreta que enlaza a todos los libros. Oscar Rodríguez Ortiz (Venezuela, 1944). Crítico e ensaísta. Autor de livros como Antología fundamental del ensayo venezolano (1983), Intromisión en el paisaje (1985), e Ensayistas venezolanos del siglo XX (1989). Visite a Biblioteca Ayacucho (www.bibliotecaayacucho.com/intro.html). Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Crônica de consumo: a lâmpada queimada da poesia Floriano Martins . Um dia de crônica não faz mal a ninguém, caminhar pelas ruas a imaginar como seria perambular por elas se acaso não estivessem ali, ou seja, flanar um pouco além da pura vertigem da imaginação, arriscando-se a viver uma outra experiência que não a sua, espécie de estadia não estando, sentindo com todo o espírito como seria o mundo se por ali e naquele momento não se estivesse nele. Claro que isto parte sempre de uma presunção, considerando pertinente minha estadia no mundo. Não há outra: o homem já vem de fábrica com essa débil arrogância. E o termo não é incorreto uma vez que tudo foi transformado em produto. Em um mundo habitado por consumidores, não há distinção mais entre compradores e vendedores, porque todos atuam, ou melhor, sofrem a atuação do mercado, enfim: o que nos diferencia é um dado meramente temporal: quando somos compradores e quando somos vendedores. De tal maneira que nossa personalidade está medida pela carga horária de atuação em uma e outra instância. Nem isso: já nos permitimos tal ambigüidade, ou seja, somos e não somos ao mesmo tempo. Isto quer dizer que abolimos este conceito primeiro da individualidade enquanto característica geradora de um ambiente múltiplo em termos de tendências, percepções, interpretações etc. Pronto. Há que ver detalhes, nada mais. Por exemplo, saber se a amizade pode funcionar como um produto aspiracional. Viver com mais liberdade significa não crer em mais nada, não compartilhar opiniões, radicalizar o status de sua condição solitária no mundo. Apagar todos os rastros de conceitos como os de confiabilidade e discordância explícita. É isto o que está por trás da máscara de uma entrevista com David Shah, [1] o simpático inglês, consultor de tendências que, ao diagnosticar o fim da moda, nos leva a uma indagação: extinto o hábito, extingue-se a cultura em toda sua amplitude? Como então ser teólogo do nada em uma terra de nada? Quais os hábitos de David Shah? O que veste? Com quem se encontra? Em quem confia? Nesta entrevista ele faz uma apologia da “recontextualização”, algo não tão simples como mudar os móveis de posição em uma sala, mas, ao fim, essencialmente isto. As metáforas criam suas ambigüidades, e desgraçadamente anseiam por ambientar-se, e é justamente quando se mostram o que são: desambientadas. Os poetas brasileiros parecem discípulos de David Shah. Ah sim, esta seria uma primeira reação de um poeta brasileiro, porque eu também sou poeta e brasileiro. Mas a coisa não se resolve – a favor de ninguém – assim tão facilmente. Até porque o dilema não se restringe ao comportamento do poeta brasileiro. Há uma passagem na entrevista do inglês Shah em que ele assevera: “Hoje em dia, a maioria dos produtos se parece e tem basicamente a mesma qualidade, sejam japoneses, coreanos ou britânicos. Para diferenciá-los, é preciso atribuir a eles uma personalidade.” Esta, que é a ótica do consumo, em muito se assemelha a uma ótica não declarada do fazer poético no Brasil. Recorda afirmação que me fez Ademir Demarchi, em uma mesa no Instituto Goethe, [2] no sentido de que os poetas brasileiros haviam atingido uma técnica admirável. Sim, é verdade, dentro dos padrões atuantes, de circulação, aceitos pela crítica – hoje restrita ao âmbito da análise acadêmica -, todos escrevem certinho, com boa sintaxe, pausadamente etc. Careceria então aplicar o método Shah, ou seja, atribuir-lhes uma personalidade? Não precisamente, pois do que se trata, antes de tudo, é da aceitação de que essa poesia tornou-se produto, nada mais. Que é outra sua instância de atuação. A partir daí evocar as tendências do mercado livreiro etc. Não importa, aqui, também seguir a trilha da poesia brasileira em si, tanto quando o comportamento de nossos intelectuais. Como reagimos diante de crises? Como as aceitamos? Como passamos por cima delas em um exercício de alheamento? Toda vez que o título de uma matéria na imprensa acusa “Não há mais moda” isto nos leva a pensar em correlatos do tipo “Não há mais orgasmo”, “Não há mais poesia”, quantos mais. Todo dia a imprensa tem que dizer que algo não mais existe, para assim poder reanimá-lo no dia seguinte. Jornalistas não entendem mais de ilusionismo do que poetas, apenas dispõem infinitamente mais de espaço para o exercício de sua perversão. Uma afinidade entre jornalistas e advogados é que o assunto central nunca se restringe a conceitos como verdade e justiça e sim à sua decorrência: o ganho de causa. A manchete é o ganho de causa em se tratando de imprensa. Vivemos um mundo completamente previsível, onde o telejornal, por exemplo, confirma ácida ambigüidade entre o que relata e o ânimo que nos desperta. Em alguns casos é quase como uma conclama: apesar do mundo que lhe apresentamos, tratem de ter esperança. Mas tudo isto porque temos que seguir vendendo. Eis aí onde David Shah está mais implacavelmente correto: “Você pode ter todas as idéias que quiser – é muito fácil ser criativo. O difícil é começar a produzir o que imaginou e colocar na rua para ver se vende.” Ou seja, tudo se resume a técnicas de venda, uma vez que presumivelmente a condicionante estética já tenha sido resolvida de forma conveniente. A pergunta mais certeira então – porque tudo é uma questão de alvo – seria: o que estão vendendo os poetas brasileiros? Já em 1997 suspeitava Jair Ferreira dos Santos que “híbrida e superficial na sua natureza, a poesia pós-moderna (ou qualquer outra) caminha, tudo indica, para o irrelevante e o espectral enquanto criação na cultura e produto no mercado”, e lhe dá até um nobre papel, ao dizer que “talvez esteja reservado a ela cumprir o trânsito do cadáver da poesia como instituição para sua ressurreição como hobby, jogo tribal, adereço nas subculturas de gosto”, logo lembrando que “nesse novo status, vai assemelhar-se à filatelia, à numismática”. [3] Nesta mesma ocasião, um outro observador, Dante Lucchesi, comenta que “a sociedade pós-moderna, ao se tornar uma nebulosa de todas as linguagens possíveis, esvazia o poder de significação da linguagem na medida em que a reifica, instrumentalizando-a, tornando-a um mero acessório, do qual um artista, um estilista de moda ou um publicitário pode lançar mão sem qualquer comprometimento, e com fins absolutamente pragmáticos”. [4] Ora, mas com que enorme facilidade nos tornamos todos vítimas de um sistema qualquer! Acrescentemos, portanto, à nossa lista de afirmações caóticas o cataclísmico “Não há mais história”. E sempre me pareceu tão fascinante a sugestão de Barthes de ir de encontro a todas as idéias recebidas… Acaso não deveria o poeta estar no mundo justamente para tanto? Duas décadas antes dos brasileiros referidos, já alertava Elias Canetti que “ninguém será hoje um poeta se não duvidar seriamente de seu direito de sê-lo”, atento que já se mostrava à “perversa banalidade” que tomaria posse de nosso estar no mundo. [5] O dilema maior ainda estava por vir, considerando hoje que a reificação evocada por Lucchesi não mais incide apenas sobre a linguagem e sim sobre o poeta, que não soube a tempo negar a si mesmo, transgredir-se, desfazer-se do culto do eu com que acabou imaginando o único sentido de sua existência. Tornouse ele a coisa em si, o “adereço nas subculturas de gosto”, o freqüentador de festas, eventos etc., onde a poesia nada mais diz. Se acaso se assemelha tal empresa com o que move a filatelia ou a numismática, talvez seja apenas pelo aspecto de colecionista, no caso um colecionador de facetas, de gestos eloqüentes a compensar a leitura de versos inócuos, por exemplo. Ou compilador de exercícios de simpatia na articulação estratégica da nova marca com a qual se ocupa: ele mesmo. Daí vale retornar ao Mr. Shah quando dispara que “marcas passam a ser como famílias, dão ao consumidor estabilidade, uma identidade”, enfim, “substituem a Igreja e a família real”. Portanto, a coleção do poeta reporta-se à qualidade acessória de sua mais-valia. Evidente que já não cabe falar em pósmodernidade, exceto como “recontextualização”, e então temos que observar uma vez mais a ótica do Shah, quando atenta para a importância de “desfazer as barreiras entre as disciplinas como moda, iluminação, roupas esportivas, carros e começar a pensar tudo isso como uma coisa só”. Ora, mas foi exatamente contrária a opção tomada pelo poeta, que se isolou em um acortinado qualquer da linguagem sem ocupar-se de outras estruturas ou disciplinas. Não sei se aqui cabe a distinção que Roland Barthes compreendia entre contrário e inverso - “o contrário destrói, o inverso dialoga e nega” -, mas é interessante acompanhar seu raciocínio: “pareceme que só uma escrita invertida, apresentando ao mesmo tempo a linguagem reta e a sua contestação (digamos, para abreviar: a sua paródia), pode ser revolucionária”. [6] O fato é que o poeta condenou a lógica de mercado, por exemplo, mas não a inverteu. Apenas a repeliu, sem transgredi-la. O que fez com que retornasse veementemente sacramentada pela desarticulação argumentativa de seu ideal contestatário. Nem isto, pois não houve retorno. Deu passo tranqüilo a seu curso irrefreável de consumismo, com o qual o poeta passou a se identificar. Mas, onde o poeta aprende a ser gente? Na transmissão de conhecimentos, técnicas, fascinações, sonhos. Antepor-se ao pragmatismo tem sua dose de valor, considerando que nele a satisfação esgota-se em si mesma. Contudo, há algo no poeta e na linguagem que encarna, que é suscetível de aplicações práticas. O poeta tem que se dispor a trocar a lâmpada queimada da linguagem, por exemplo. E para tanto necessita compreender que ele não é nada se não compartilha mundos, e se não aplica seus conhecimentos no mundo que habita. Ainda podemos falar no termo revolucionário? Tudo depende do poeta. Antes de tudo, ele terá que aprender a contestar a si mesmo. Se a partir daí conseguirá renovar processos, enigmas, desejos, bom, já ninguém se arrisca a apregoar nada em tal território queimado por descaso de seus granjeiros. Embora o poeta tenha se convertido em peça de consumo, a ele não se aplica a mesma avaliação geral de Shah, de que “o gosto pela ostentação está em baixa” e que “estamos voltando à idéia de inteligência como um luxo”. Por vezes o fulgor de espírito é apenas um efeito. A ostentação foi deslocada da linguagem para a figura do poeta, a ponto dos versos terem se resumido a mera lapidação formal, não cabendo aplicar-lhe sentido algum. O poeta sim, este faz sentido, brilha pelo luxo de sua sagacidade, e não propriamente por sua inteligência. Não está em harmonia com o mundo que o cerca, mas, antes se exibe como alguém acima de todos os olhares. É professoral, distante, ao mesmo tempo simpático, com aquele ar patético de grife estabelecida. O poeta é a glória em si, ainda que a glória não o reconheça. Alguém por dentro do nada e por fora de si mesmo. Ah se ao menos fosse alguém por dentro da dúvida! A poesia perdeu a conta do mito, pura e simplesmente porque o poeta uma bela manhã despertou preocupado apenas sobre o que vestir ou não vestir. Daí que o negócio das tendências tenha encontrado tanto terreno para evoluir. Não que não existisse. O próprio negócio da criação sempre existiu. De alguma maneira um se contrapunha ao outro. A presença contestatória do artista dava segmento a essa trilha de tensão. Mas quando o “fator celebridade” entra em curso, não há dúvida que o negócio de apólices de seguro se sente reconfortado. O seio de uma atriz, o pé de um atleta, e… o poeta faria seguro de quê? Por vezes, é tão simples um cheque-mate. Já não dispunha do mito, do conhecimento mágico, da integridade, da mínima noção de humanismo, sua linguagem havia sido de todo incorporada por um fantasma, de maneira que a moça, sempre tão simpática, na recepção de propostas de apólices, lhe disse: o senhor não vale nada. O poeta já nem tinha a lembrança do último verso cometido. Num último recurso ante a graciosidade da mocinha, ainda tentou: não posso segurar o produto aspiracional que eu sou? Faltou a paródia. O mito considerado e incorporado, a discussão, o diálogo. Em circunstância alguma temer o ridículo em que se incorreu. A idéia de surpresa e excitação defendida por Shah tem aplicação apenas mercadológica. Ele avança em uma área desguarnecida pelo poeta. É um homem astuto, sagaz, que entende mais de poeta – não de poesia – do que qualquer um de nós. Aposta em nossa constante egoísta, um comodismo tanto de linguagem quanto existencial, e sua idéia de “recontextualização” não vai além de um projeto ambientado na manutenção de seu afazer: “colocar objetos e idéias que você conhece num outro ambiente, para criar surpresa e excitação”. Talvez o princípio da criação poética perambule por aí. Mas ainda estamos tratando de consumo. O que o poeta teria a dizer a este respeito? No princípio da conversa eu andava por uma rua qualquer, lá no primeiro parágrafo, e foi interessante pensar que a concepção deste artigo nada teve a ver com um filme que dias atrás fui ver, The Forgotten (2004), de Joseph Ruben, onde havia uma reflexão aparente, sobre a conexão emocional entre pais e filhos, mas que por trás da trama algo que me pareceu mais substancioso se erigia: todo conhecimento se anula em si se não pode ser compartilhado. Andei caminhando por aquela mesma rua, imaginando mil formas de estar nela. É o que tenho feito a cada verso, a cada passo de meu viver. Onde estão a “Igreja e a família real” que perdemos, no dizer de Shah? Nem disto sabemos dar conta. Para que diabos estão no mundo os poetas? Para escrever os versos mais belos esta noite? Ora, mas já não foram escritos? O poeta quer ainda mais beleza? Pois que trate de viver. Que trate de arrancar de si a beleza suprema de existir, contra todas as marcas de luxo e todo o discurso pueril dos consultores de comportamento. Tornem-se, portanto, imprevisíveis. NOTAS 1. “Não há mais moda”, entrevista conduzida por Luciana Stein. Época # 336, São Paulo, 25/10/2004. 2. Ciclo de palestras e debates: “Além do mercado: Literatura/As revistas literárias”. Instituto Goethe. São Paulo, SP. Outubro de 2001. 3. “O corpo despedaçado de Orfeu”. Revista Poesia Sempre # 8. Rio de Janeiro. Junho de 1997. 4. “Poéticas do pós-moderno”. Revista Poesia Sempre # 8. Rio de Janeiro. Junho de 1997. 5. “O ofício do poeta” (discurso proferido em Munique, em 1976). 6. “Sobre O sistema da moda e a análise estrutural das narrativas”. Entrevista a Raymond Bellour. Les Lettres Françaises. Paris. Março de 1967. Floriano Martins (Brasil, 1957). Poeta, ensaísta e tradutor. É um dos editores da Agulha. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Espiritualidade e erotismo na poesia de Leonard Cohen Alexandre Marino . Um garoto de nove anos caminha por um jardim coberto de neve, nos fundos de uma casa na cidade canadense de Montreal. Agacha-se e cava. Com gestual sério e solene, fruto do primeiro encontro com a morte, enterra uma gravata de seu pai, onde acabou de costurar uma mensagem de despedida. Dessa forma, ele cumpriu seu ritual particular de sepultamento, depois de observar no caixão o rosto austero do pai. Aquela mensagem foi o primeiro texto que o poeta, romancista e compositor canadense Leonard Cohen escreveu, levado pela força interior que move os grandes criadores. Cohen completou 70 anos no dia 21 de setembro. Sua dedicação à música e à literatura rendeu até agora nove livros (sete de poesia, dois romances) e 11 discos, incluindo Dear heather, seu mais recente CD, lançado pela Sony Music do Brasil em dezembro. Um disco belo e estranho, como vários de seus mais importantes álbuns. Cohen canta poemas do inglês Lord Byron (1788/1824) em Go no more a-roving, faixa de abertura, e de Frank Scott em Villanelle for our time, que, unidos à sua própria poesia, asseguram a unidade e a coerência do álbum. Sua voz, cada vez mais grave, áspera e paradoxalmente suave, canta ou apenas declama poemas carregados de lirismo, acompanhada pelos vocais de Sharon Robinson e Anjani Thomas e sutis arranjos instrumentais. Nascido de tradicional família judaica, Cohen escreveu os primeiros poemas aos 15 anos, dando início a uma busca pessoal que o levou também à boemia, à música, às drogas e a insolúveis conflitos em todos os caminhos que tem percorrido, incluindo o religioso. “Como um pássaro no fio, como um bêbado numa cantoria noturna, eu vou buscando o meu jeito de ser livre”, definiu em sua mais emblemática canção, Bird on the wire. Foi a leitura do poeta espanhol Federico Garcia Lorca que o arrebatou para a poesia e o levou a estudar o flamenco. Take this waltz, do CD I’m your man, de 1988, é uma adaptação do poema Pequena valsa vienense, de Garcia Lorca. E Lorca é o nome de sua filha com Suzanne Verdal, musa inspiradora de um de seus hits, Suzanne (“Suzanne leva você para seu canto à beira-rio/ você ouve os barcos partindo/ e passa a noite ao seu lado/ sabe que ela está quase louca/ mas é por isso que quer ficar ali”). Em 1956, Cohen publicou seu primeiro livro, Let us compare mithologies, pelo selo McGill Poetry Series. Passaram-se 10 anos até que decidiu dedicar-se á música, depois de lançar o polêmico romance Beautiful losers, conhecido e discutido, mas um fracasso comercial. Já publicara outro romance, The favourite game, e quatro volumes de poemas, sempre com vendas “insuficientes para sobreviver como escritor”. A cantora Judy Collins gravou a primeira canção de Cohen, Suzanne, em 1966, e outras três em seu álbum de 1967, Wildflowers. Finalmente, em 1968, aos 34 anos, lançou Songs of Leonard Cohen, que já trazia alguns de seus hits, como Sisters of mercy e So long Marianne, além de Suzanne. Assim como Songs from a room, de 1969, esse disco apresentava as principais características de sua obra musical, feita de melodias suaves, aparentemente monótonas, quase declamativas, porém dotadas de uma beleza que dispensa teorizações. “Suas canções cada vez mais se parecem com orações”, definiu Bob Dylan quando ouviu o álbum Various positions, de 1984. Veículo de poemas complexos e elaborados, sua música leva a multidões uma poesia que seria para poucos. Seu CD anterior, Ten new songs, de 2001, vendeu mais de um milhão de cópias e lhe valeu Discos de Platina no Canadá, Noruega e Polônia, e de Ouro na França, Espanha, Dinamarca, Irlanda, Suíça, Hungria e Suécia. Ao lançá-lo, estava há nove anos sem gravar, e acabara de deixar o mosteiro zen budista de Mounty Baldy, onde durante cinco anos cumpriu com humildade a rotina de qualquer monge: acordava às 3 horas da manhã para meditar, estudava, fazia faxina, cozinhava e trabalhava como secretário de Joshu Sasaki Roshi, 92 anos, líder do mosteiro e guia espiritual de Cohen. Dessa mistura entre Zen e Judaísmo ele retira os elementos necessários para lidar com a vida espiritual e a carreira. Os conflitos com a ideologia burguesa dos judeus de Westmount o levaram várias vezes a isolar-se para escrever e estudar, tanto em quartos de pensão e hotel, quanto na casa que adquiriu na ilha grega de Hydra em 1960, quando lá não havia eletricidade nem telefone, e mantém até hoje. Ali escreveu algumas de suas obras-primas, incluindo Bird on the wire, inspirado pelos pássaros que pousavam nos primeiros fios de luz elétrica. Suas origens, além do hábito de se vestir bem, não raro de paletó e gravata, afastaram dele os poetas da geração beat. Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, William Burroughs e seu grupo o consideraram “muito classe média para nós”. Foi em 1956, quando chegou a Nova York, em busca de ambiente mais cosmopolita e “menos burguês”, para estudar literatura na Universidade de Columbia. Anos depois, numa noite de 1977, Cohen gravava as canções de Death of a ladies’man quando Ginsberg apareceu inesperadamente no estúdio, ao lado de Bob Dylan. Ambos fizeram “backing vocals” na faixa Don’t go home with your hard on, um rock satírico cujo título é uma expressão vulgar. Dear heather deve seguir a trilha de sucesso de Ten New Songs. A propósito do novo álbum, só de canções inéditas, o crítico Jon Wilde escreveu na revista musical inglesa Uncut: “Os vocais soam sepulcrais como nunca, como se Cohen pretendesse que esta última fornada de canções sobre anseios espirituais, paixões eróticas e os limites da intimidade seja sua palavra final a respeito destes temas.” “Sepulcral” e “melancólica” são adjetivos que se encaixam com perfeição à voz de Cohen, tanto para os fãs quanto para seus detratores. “Minha voz se tornou mais profunda, depois de 50 mil cigarros”, define. Grave, rouca e afinada, sempre emoldurada por delicados vocais femininos, é o veículo ideal para canções de tom marcadamente intimista, quase sempre autobiográficas, que levam a supor que Leonard canta não com o corpo, mas com a alma, e estabelecem imediata empatia entre ele e quem o ouve. Não apenas o ouvinte comum, mas astros como Elton John, Bono, a banda R.E.M., Sting e Peter Gabriel lhe prestam reverências. Esses e outros artistas se uniram para gravar suas canções em dois álbuns antológicos, I’m your fan (1991) e Tower of song (1995). O site Leonard Cohen Files, mantido na Finlândia pelo fã e amigo pessoal Jarkko Arjatsalo, listou, até setembro, 903 regravações de suas canções ao redor do mundo. São artistas do Canadá, Estados Unidos, dos principais países europeus e também do Irã, Croácia, Israel, Eslovênia, Índia, Japão, África do Sul, Tchecoslováquia, Nova Zelândia… Há um único brasileiro na lista: Renato Russo, que gravou Hey, that’s no way to say goodbye, lançada em seu álbum póstumo, O último solo, de 1997. A matéria-prima de Leonard Cohen é a mesma dos grandes criadores da literatura — o amor, a paixão, os altos e baixos da condição humana e as questões cruciais de nosso tempo. Em Dear heather, ele faz referências, com sutileza, ao 11 de setembro: “Algumas pessoas dizem/ é isso que merecemos/ pelos pecados contra Deus/ pelos crimes ao redor do mundo/ eu não saberia/ estou apenas segurando a onda/ desde aquele dia/ que feriram New York” (On that day). E também volta a falar de paixão e mulheres, agora abordando sua condição de septuagenário: “Mulheres têm sido/ excepcionalmente gentis/ para minha avançada idade” (Because of). Como os grandes vinhos, Leonard Cohen usa o tempo a seu favor. Obras de Leonard Cohen 1. Livros Let’us compare mithologies (poesia, 1956). The spice-box of earth (poesia, 1961). The favourite game (romance, 1963). Flowers for Hitler (poesia, 1964). Beautiful losers (romance, 1966). Parasites of heaven (poesia, 1966). Selected poems 1956-1968 (poesia, 1968). The energy of slaves (poesia, 1972). Death of a lady’s man (poesia, 1978). Book of mercy (prosa poética, 1984). Stranger Music – Selected poems and songs (antologia poética, 1993). 2. Discos Songs of Leonard Cohen (1967). Songs from a room (1969). Songs of love and hate (1971). Live songs (1972). New skin for the old ceremony (1973). The best of Leonard Cohen (1975). Death of a ladie’s man (1977). Recent songs (1979). Various positions (1984). I’m your man (1988). The future (1992). Leonard Cohen live in concert (1994). More best of Leonard Cohen (1997). Field commander Cohen – Tour of 1979 (2000). Ten new songs (2001). The essential Leonard Cohen (2002). Dear heather (2004) 3. Principais CDs de tributos por outros artistas I’m your fan (vários, 1991). Famous blue raincoat (Jennifer Warnes, 1991). Tower of song (vários, 1995). Judy Collins sings Leonard Cohen: Democracy (Judy Collins, 2004). Alexandre Marino (Brasil, 1956). Escritor e jornalista, autor de O delírio dos búzios (1999). Artigo originalmente publicado no suplemento Pensar, do Correio Braziliense (Brasília, 15/01/2005). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Estranhas experiências: Claudio Willer e a Geração Beat Lucila Nogueira . Ainda diante da publicação recente, pela Editora Lamparina, do livro Estranhas Experiências, de Claudio Willer, importa salientar que nos anos sessenta em São Paulo, os poetas do grupo chamado “novíssimos” não se limitaram apenas a fundar, no Brasil, um núcleo surrealista. Voltados ao cosmopolitismo, atuavam e sentiam e escreviam em sintonia com a inquietação da juventude de sua época; reuniam-se regularmente nos anos 63/64 Roberto Piva, Sérgio Lima, Claudio Willer e sua rejeição à burguesia e ao academicismo pontuaria uma disposição anárquica que retomava a primeira pessoa na enunciação lírica desafiando os formalismos e construtivismos, aproximando-se do existencialismo, da contracultura, da geração beat. Esse grupo de poetas, assim como liam os livros de Artaud à medida que eram publicados na França, também liam os poemas de Allen Ginsberg em primeira mão, assim que eram lançados nos Estados Unidos, num verdadeiro exercício da cidadania sem fronteiras. De modo que é uma injustificável omissão acadêmica, no Brasil, a inexistência de estudos sobre as relações entre o surrealismo, geração beat e contracultura na literatura dos anos sessenta em diante no nosso país. Os “novíssimos” voltavam-se para uma poesia que valorizava as imagens, a musicalidade, a leitura em voz alta dos poemas em recitais onde os poetas consagravam sua dimensão pública. Trabalhavam a fusão do gênero lírico à prosa de ficção, herança do Rimbaud de “Iluminações” e “Uma temporada no inferno”, processo anteriormente denominado “poesia em prosa” por Baudelaire, referindo-se às sua crônicas e narrativas curtas, assim como na face transversal Lautréamont viria a chamar de ”Poesias” às suas reflexões dialogais com diversos autores. Estavam estes autores paulistas no outro lado das propostas cerebralistas e figurativas teorizadas, por exemplo, em nosso país, pelos ditos concretistas, os quais, na visão de um antigo crítico, “para salvar a poesia, acharam necessário destruí-la”. A tendência a uma enunciação de teor lírico, marcada pela experiência vital, foi confundida com facilidade e descuido pelos que se obstinavam no excesso de rigor formal e na celebração obrigatória do novo; “ostinato rigore x make it new” - essa fórmula, satisfatoriamente realizada por um poeta, por exemplo, como João Cabral, não iria resultar bem acabada quando expressa por alguns outros, nos quais instalou-se um vazio expressional e de idéias, epígonos cabralinos a repetir os cacoetes em que conseguiram transformar a lírica Valeryana do pernambucano, marcada de certa forma pela contenção e razão cartesianas. Essa criação literária contida e raciocinada com certeza se opunha à escrita automática delirante e espontânea do poema surrealista. A linha Baudelaire/Lautréamont/Rimbaud primava pelo irracionalismo articulando revolução social e rebelião individual, desejando não só transformar a sociedade como também mudar a vida, situações que ao invés de antagônicas, resultam de fato, como efetivamente o foram, complementares e dialogais. Por outro lado, importa lembrar Lautréamont/Rimbaud sob o signo da aventura literária, a provocarem assombro e escândalo pela exemplaridade artística da transgressão, esta notoriamente contrária à literatura de gabinete acadêmica e conservadora, dissociada da vida em sua força oceânica e imprevisível. A geração beat americana, como lembra o poeta Claudio Willer foi, em primeira instância, literária: “Ginsberg, Kerouak, Burroughs, Corso, foram leitores vorazes; por isso tornaram-se escritores e outsiders. Chocaram-se com o academicismo formalista dominante no ambiente universitário, de extração eliotiana. Em matéria do ensino e crítica assépticos, sob orientação cientificista, submetido às regras do bom comportamento literário, pode ser que tenhamos retroagido, e a crítica beat ao formalismo e ao bom-mocismo literários seja, hoje, mais atual ainda”. [1] O legado beat e da contracultura no mundo de hoje é reiterado pelo mesmo autor em outra entrevista: “Quanto ao legado beat e contracultura, ele existe e é decisivo. Comparando-a com a década de 50, vivemos hoje em uma sociedade mais aberta, menos repressiva, com maior liberdade no plano da conduta individual, da sexualidade, maior respeito pela diferença e interesse pela diversidade e multiculturalismo. A beat e contracultura foram determinantes dessa abertura da sociedade burguesa”. [2] É assim que deve ser feito pouca gente é capaz de fazer tudo isso que fizemos nos encontrar e ficarmos juntos nesta hora mais inexplicável clarões de incêndios distantes refletindo-se em nossas peles nossos gritos de prazer chicoteando as esferas da noite nossos gritos de prazer explodindo pela madrugada afora nossos uivos de prazer ecoando pelas ruas desta cidade agora adormecida e esta confusão de pedaços de corpos todos gritando o mesmo nome selvagem espalhados sobre a colcha nossos corpos druídicos formando círculos mágicos sinalizando o reinício dos tempos nossos corpos que se precipitam como os regatos que escorrem pela encosta da montanha buscando seu rápido destino final nossos corpos de vísceras entrelaçadas redescobrindo a pulsação das galáxias nossos corpos no turbilhão do galope de potros bravos à beiramar nossos corpos com seus relâmpagos rompendo o calor denso da noite na selva tropical nossos corpos sobre os quais viajamos como navegantes em busca da Terra Prometida nossos corpos recobertos de inscrições que passamos dias e noites tentando decifrar [Claudio Willer, in Jardins da Provocação] A busca apaixonada do prazer passa a caracterizar uma juventude voltada às mais variadas formas de hedonismo o que vem detonar uma revolução sexual ao som de muito rock em cenário de velocidade psicodélica. A liberdade de expressão da beat generation vai permitir a expressão de tendências à margem e sua criatividade será essencialmente literária embora atue como fonte da contracultura e do movimento hippie. Atraída pelo prazer das imagens radicalizadas e também do sexo, essa juventude reclama a abolição do dinheiro, critica a sociedade de consumo e parte para a aventura dos caminhos geográficos e interiores imbuídos de um orientalismo favorável à expansão da consciência. Preferem ao princípio da realidade o princípio do prazer e diante da civilização opressiva, combatem o imperialismo, a pobreza, as desigualdades raciais e sociais, desenvolvendo uma nova sensibilidade política. Esse culto ao erotismo e direito ao prazer, o amor pela vida e o lugar privilegiado do corpo desencadearam uma libertação coletiva nos anos sessenta constituindo-se essa revolução sexual num fenômeno de massa em uma época onde não havia aids, conseqüentemente o livre exercício da sexualidade não oferecia risco. Além disso, a nudez perde os bloqueios que a cercavam, pois libertos de suas inibições, os jovens começam a gostar de mostrar seus corpos e de ver os dos outros, tudo levando a uma visão de mundo que reforçava a importância do prazer. E então, o corpo oprimido desde a culpabilidade do “pecado original”, vai resgatar sua inocência primitiva, dissolvendo o maniqueísmo da antiga ordem fundada sob a dicotomia corpo x espírito. Reivindica-se uma liberdade individual total e as mulheres vão ser favorecidas pela difusão das pílulas anticoncepcionais, podendo assim dispor do uso de seu corpo, dissociando o ato sexual propriamente dito do aspecto familiar e social da procriação. Dá-se uma apologia do erotismo e a condição da mulher se reveste de novos caracteres destacados pelo surgimento do movimento feminista, com repercussão nas áreas econômica, política, universitária. Essa revolução sexual que acompanha a contracultura, constitui um dos elementos que ainda tem grande impacto na sociedade contemporânea, demarcando mudanças no âmbito da moral tradicional e dominando uma crise de valores em que se resgata o hedonismo em uma perspectiva pagã e pré-cristã, na qual a satisfação sexual é obtida acompanhada de um sentimento de participação em um culto que transcende o indivíduo e o prazer por uma mediação, ingressa de modo sagrado na esfera da vida cósmica. O alargamento do corpo individual torna o homem senhor de si e do universo, habilitando-o à consolidação do corpo social; no excesso e na dissolução, o corpo inteiro se restaura enquanto tal - trata-se de uma nova relação que se torna objeto de função, atestando o retorno ao dionisíaco através da prática cotidiana. Retoma-se a magia do sexual e o fantástico do erótico em um contexto social já bem distante daquele século XIX envergonhado pela condenação de Baudelaire pelas “Flores do Mal” que conduziam à excitação dos sentidos de um modo ofensivo ao pudor; na verdade, o que fez Baudelaire foi associar o erotismo à melancolia e à inquietação metafísica; de qualquer forma, já naquele século surgiu a tradução inglesa do sânscrito do Kama Sutra (1883) além do Ananga-Ranga, dois anos depois - isso vai influir na emersão do erotismo inglês (Swinburne, Sellon Potter) até o surgimento do americano: por causa do decreto de 1842, proibindo a chegada das obras eróticas vindas da Inglaterra, os americanos passaram então a produzir as suas; entre eles George Thompson. Na França, surge o naturalismo de Zola e Maupassant; a seguir, o movimento anarquista vem reivindicar o amor livre. Nos Estados Unidos num futuro não muito distante, vão surgir Henry Miller e Anaïs Nin, esta última autora também de um ensaio sobre D. H. Lawrence cujas obras representam a glorificação do corpo, o caráter sagrado da carne, havendo, no entanto, sido proibida a venda na Inglaterra e nos Estados Unidos quando da publicação (1928) o volume O Amante de Lady Chatterley; apesar de doente D. H. Lawrence o defendeu bravamente: “Eles (os censores) tem a doença cinzenta do ódio ao sexo… eles consideram o sexo um segredinho sujo que deve ser cultivado às escondidas”. [3] […] “Quero que homens e mulheres sejam capazes de pensar as coisas sexuais plenamente e completamente, honestamente e claramente.” [4] De modo que os poetas das vanguardas que iniciaram o século XX fortaleceram o erotismo em sua dimensão universal; dizia Apollinaire que não se conhecia maior coragem em um escritor do que exprimir com liberdade o domínio dos costumes; Robert Desnos definiu o erotismo como um retiro espiritual, uma ciência individual contendo questões secundárias que cada um resolve a seu modo, e questões eternas que somente a poesia determina. [5] Considerando o amor “puro e licencioso no absoluto”, Desnos e seus companheiros surrealistas vão preferir o erótico-velado, a nudez jogo de claro-escuro, coisas sugeridas em coisas caladas são eles André Breton, Paul Éluard e René Char; outros surrealistas cultivaram a expressão direta dos fatos sexuais em publicações clandestinas, como Aragon (1928); um filósofo como Georges Bataille consagra um ensaio ao erotismo (1957) e Benjamin Péret produz o primeiro romance erótico em escrita automática, redigido em 1928 e publicado em 1934. Henry Miller começa Trópico de Câncer aos quarenta anos (1934); suas confissões eróticas de língua inglesa narram sua própria sexualidade e a odisséia amorosa do homem sozinho nas grandes cidades tipo Paris e Nova Yorque: Lawrence Durrel considera esse livro o manual de sua geração; a seguir, surgem Trópico de Capricórnio, Sexus, Nexus e Plexus, tornando-se o iniciador dos americanos que quiseram, depois dele, tratar a fundo a sexualidade. Sua marca é nítida em Norman Mailer, John Updike e Kirby Doyle; há quem diga haver influenciado mais a geração beat do que o poeta caminhante Walt Whitman (1819-1892). nossos corpos participantes de estranhas reuniões em clareiras sob a lua cheia nossos corpos estabelecendo alianças e pactos secretos na calada da noite, sussurrando sob as cobertas formulando planos para explodir obeliscos e estátuas eqüestres, falsificar identidades nossos corpos rabiscando muros com inscrições anunciando a próxima temporada de orgias pronunciando as palavras sagradas, o agora, mais, põe, vem, mais, com certeza messiânica de um orador agitando as massas nossos corpos preparando um gigantesco patuá de uma magia negra das mais pesadas para desviar o rumo da história e acabar de vez com a barbárie capitalista nossos corpos anarquistas defendendo a formação de sociedades igualitárias regidas unicamente pelo princípio do prazer”. [Claudio Willer, in Jardins da Provocação] Observe-se que, assim como Henry Miller, Claudio Willer nos passa a impressão de escrever sobre si próprio. Ele procede esteticamente de modo próximo ao escritor norte-americano o qual nos enumera diante dos olhos personagens espantosamente reais, desde a sua mocidade no Brooklyn até Nova York e os tempos de Paris, restaurando dessa forma a importância literária de uma vida múltipla e da narrativa da experiência, muito especialmente as cenas de amor descritas com um lirismo salmódico permeado de palavras cruas a formar uma tensão erótica que prenuncia o universo underground da beat generation, inclusive pela velocidade tanto das imagens como das sensações e acontecimentos. Assim também como Walt Whitman, Willer fala em versos longos e sem medida fixa, na tradição do autor de “Canto a mim mesmo” que afirma um discurso poético marcado de oralidade, sendo considerado por seu caráter andarilho o primeiro beatnik (“Eu canto a mim mesmo” / ”Eu canto o corpo”/”a vida plena de paixão”). Leia-se Willer: nossos corpos entregues a um êxtase canibal nossos corpos percorrendo os labirintos do prazer e suas alamedas ladeadas por tufos de azaléia elétrica nossos corpos de bruma, mapa de penugens, texto sânscrito nossos corpos pisoteando o braseiro da memória dançando animados por um batuque que sai do centro da terra nossos corpos mergulhando na água transparente de um lago gelado no desvão de uma gruta calcária nossos corpos embarcando em uma nave especial feita de palha trançada nossos corpos investidos de seus plenos poderes, salvocondutos para qualquer viagem, licença para voar, passaporte para o delírio” [Claudio Willer, in Jardins da Provocação] Viagem, licença para voar, passaporte para o delírio: plataforma da geração beat. Foi em 1943 que William Burroughs (1914) conheceu Jack Kerouac e Allen Ginsberg. Publicou em 1953 Junkie e fez uso do yage em busca de poderes telepáticos, mas que também lhe proporcionou efeitos afrodisíacos. E então, tornando seu corpo um campo de experiências, escreveu The naked lunch, a partir das sensações alucinatórias provocadas pelo uso de estimulantes. Kerouac (1922) surge como escritor em canais com a filosofia existencialista, assim como J. D. Salinger (1919) em “Apanhador em Campo de Centeio” escreve combatendo estruturas tradicionais fundadas no racionalismo e no materialismo, além de defender a busca da identidade pessoal, da verdade de cada um, mas em uma perspectiva pacifista. Se a existência precede a essência, então, primo vivere, postea philosophare; o movimento existencialista vai surgir durante a I Guerra Mundial como um “revival” das idéias do dinamarquês Sören Kierkgaard (1813-1855); há uma carga poética e psicológica que se comunica com o vitalismo de Nietzsche (1844-1900), com Bergson (1859-1941) destacandose o lirismo de figuras como Sartre e Jean Genet. Segundo Kierkgaard o intelecto não é suficiente para dar ao homem o conhecimento de si mesmo e sua existência como um corpo vivo - esse ponto de vista está refletido na obra da beat generation, especialmente na de Kerouac e Salinger - sem esquecer a prosa inglesa dos Angry Young Men (1951), como John Osborne (1930) e Colin Wilson (1913), este último autor de “O Inconformista” (“The Outsider”, 1956) e o primeiro expressando em “Recordando com Ira” seu agnosticismo, seu anti-monarquismo e sua aversão às várias formas do establishment britânico. Ao tempo em que os ingleses de 50 se insurgem contra o sistema de seu país, os norte-americanos dessa mesma época protestam contra o american way of life, postura que já tinha nos EUA uma ascendência ilustre: o mencionado Walt Whitman e Henry David Thoreau (18171862), autor de “Walden, ou a Vida nos Bosques”, bíblia naturalista precursora do movimento ecológico, a alertar o homem para o perigo da preocupação excessiva com o dinheiro, o conforto material e que vem ensiná-lo a redescobrir a terra e a natureza, as árvores, os rios, as estrelas, assim como princípios da sabedoria oriental; Thoreau escreveu também “A Desobediência Civil” (“quando o funcionário desiste de aplicar a lei está consumada a revolução”) ensaio sempre relacionado à resistência passiva de Gandhi, qual se fora seu evangelho político. Também Herman Melville e Henry James vão se caracterizar como moldes a seguir: Henry foi o primeiro a caminhar até a Europa, servindo de exemplo 50 anos mais tarde a Hemingway, John dos Passos, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Ezra Pound, E. E. Cummings e outros a que se deu o nome de “geração perdida”. Autores como Guillermo de Torre [6] consideram essa “geração perdida” como antecessora da geração beat americana de Kerouac, Ginsberg, Corso, Ferlinguetti. E entre uma e outra, é que encontramos uma terceira, integrada por nomes como Norman Mailler, Saul Bellow, J. D. Salinger - cita Guillermo ainda uma geração posterior, a de 1960, com Bernard Malamud, John Updike, Katherine Anne Porter. Os autores da beat generation não vão abandonar já o seu país: vagabundeiam livremente de um extremo a outro da América e sua emigração se faz no tempo - e não no espaço mergulhando no budismo zen; entretanto, mantém a tendência de andarem em grupos: descendem verdadeiramente do confessionalismo de um Henry Miller, pretendem atingir os delírios de um Antonin Artaud, praticando quase o amoralismo de um Genet na submersão no labirinto que caracteriza um Samuel Beckett. [7] A relação entre the angry young men e a beat generation foi analisada por Gene Feldman e Max Gartenberg. Os beat arremeteram no misticismo zen e na sensualidade; a diferença talvez residisse em que os ingleses procuram uma conexão com a sociedade enquanto que os norte-americanos tenderiam a um libertarismo anárquico que recusa a ordem estabelecida sem a elaboração racionalista de um programa, por se considerarem fora do que chamam “mentira social” (além de out siders, também out laws). agora podemos falar revelar nossas identidades e contar tudo que aconteceu falar de nossas memórias e aventuras de 1968 para cá desta nossa condição de sobreviventes e de cúmplices algo explode a Leste do tempo estamos invadindo o coração da História estamos vestindo as horas de outra cor enquanto nos abraçamos e nos beijamos no centro desta cratera de um vulcão extinto faz 40 milhões de anos Setor Comercial Sul madrugada deserta porte azulado prédios flutuam sobre o cerrado elétrico outra paisagem que vibra sóis latejam sob o cimento esta cidade é uma loucura tesão sei que nos reencontraremos voltaremos a nos ver neste pedaço de hemisfério neste chão feito para nos possuirmos neste país dos nossos corpos [Claudio Willer, in Jardins da Provocação] Uma relação direta da poesia de Claudio Willer com a beat generation se complementa historiograficamente quando da sua tradução de o “Uivo”, de Allen Ginsberg, cujo autor representa ao lado de Burroughs e Kerouac a pirâmide referenciada quando se estuda esse movimento. Há quem considere o poema como o maior protesto da geração beat; assim como Baudelaire traduziu Edgar Allan Poe ao público francês, Claudio Willer entregou a poesia de Allen Ginsberg ao leitor brasileiro; isso em 1984, um ano após nos oferecer, pela mesma editora L&PM, os “Escritos de Antonin Artaud”. O poeta americano escrevera esses versos durante a estada de seu amigo Carl Salomon em um hospital psiquiátrico; o “Uivo” critica o modelo de vida nos EUA e o fracasso de uma geração inteira que desejou mudar alguma coisa. Em 1967, Claudio já traduzia Ginsberg para leitura pública, vindo apenas a publicá-lo em 1984. É claro que o ato de traduzir, não se tratando de encomenda ou obrigação editorial, já traz em si algo de afinidade, de magnetismo, ímpeto de tirar o véu das significações. Significa que o autor original está sendo estudado; sua poética, sendo desvendada; sua crítica, sendo lida e analisada. Não foi diferente a já mencionada tradução de Poe por Baudelaire, que iria fundar radicalmente na Europa o início da Modernidade. Traduzindo o poema de Ginsberg para o leitor brasileiro, Claudio Willer fez com que pudéssemos participar ao menos intelectualmente da abertura de consciência proporcionada pela beat generation e incorporar o percurso ético e estético das suas conquistas. Esse trajeto de Willer como tradutor já havia sido iniciado quando difundiu em 1970, pela Editora Vertente de São Paulo os “Cantos de Maldoror”, de Isidore Ducasse, o Conde de Lautréamont (1846-1870); no prefácio, o poeta brasileiro assinala o centenário da morte do poeta uruguaio, mas nega à difusão do seu texto em português o caráter laudatório habitualmente feito por outros tradutores, nessas circunstâncias, para efeito de um “verniz da respeitabilidade acadêmica“ ou mesmo “redução a peça obrigatória de museu”. Willer conecta Lautréamont ao romantismo e a Rimbaud, Baudelaire, Poe e Nerval, mas destacando ser o escritor uruguaio o mais radical e também a sua modernidade, inclusive pelo tom confessional e coloquial, além de uma espécie de consciência premonitória: “somente mais tarde, quando certos romances tiverem aparecido, compreendereis melhor o prefácio do renegado de aparência fuliginosa”. (sexto canto, primeira estrofe) - daí ressaltar Willer que essas palavras se dirigem a qualquer leitor de cem anos depois, já ultrapassada a desmitificação da retórica tradicional e havendo sido complementada o “transformar a sociedade” (Marx) com o “modificar a vida” (Rimbaud). De modo que a leitura da edição brasileira de Lautréamont marcou novo rumo na sensibilidade de um grupo bastante representativo da nossa poesia contemporânea. Já na orelha do volume ilustrado por Maninha, Livio Xavier creditava ao uruguaio, junto com Baudelaire e Rimbaud, a inovação da poesia moderna; na contracapa, citação de André Gide (“ele é, como Rimbaud, o padrão para aqueles que surgirão na literatura de amanhã”) e Antonin Artaud (“tiveram que calar Baudelaire, Edgar Poe, Gérard de Nerval e o inconciliável Conde de Lautréamont. Pois tinham medo de que a poesia deles fosse capaz de saltar fora dos livros e deixar a realidade em completa desordem”). Observe-se que, um século após a sua partida deste mundo, Lautréamont é traduzido no Brasil pelo mesmo poeta que traduzira o beat Allen Ginsberg ; este último a ele sempre se dirigia como dear translator friend . Em 1986, com ilustração de Carlos Clémen, sai pela editora Max Limonad (São Paulo) uma outra edição dos “Cantos de Maldoror” (dois anos após a tradução do “Uivo” publicada no Brasil). Nela, Willer republica o prefácio da edição anterior acrescido de dezesseis notas; observa-se existirem modificações no próprio texto da tradução. Já em 1997, pela Editora Iluminuras, Willer novamente publica os “Cantos”, acrescidos de Poesias I e II, Cartas e um depoimento de Paul Lespés (que conheceu Lautréamont pessoalmente) mencionando as edições originais utilizadas. O antigo prefácio é desdobrado em estudo mais detalhado com 86 notas explicativas, numa abordagem intercultural e ideológica mais definida, inclusive no que concerne às questões ligadas a estudos sobre o gênero (homoerotismo) intertextualidade, bilingüismo e busca metafísica de identidade; as anteriores 16 notas dos Cantos passam, na terceira, a 59, o que demonstra naturalmente evolução a um conhecimento muito especial, pelo tradutor, quanto ao texto literário traduzido. “Éramos uma câmara de ecos de poesia, e prosa, e filosofia. Dois ângulos ou duas perspectivas para apreender o que vem a ser liberdade de expressão e criação: as leituras sincrônicas, quase simultâneas, de Os Cantos de Maldoror de Lautréamont e de Uivo e Kaddish de Ginsberg. Se havia quem escrevesse daquele modo, então tudo era permitido.” […] “Houve uma intervenção afortunada do acaso objetivo, ao ser convidado para selecionar, traduzir e prefaciar autores especialmente significativos para mim: Lautréamont. Ginsberg, Artaud.” [8] Lendo e traduzindo autores que marcaram a literatura como emblema de rebeldia, não poderia ser muito diferente, entre nós, a poesia e o perfil intelectual de Claudio Willer. Lautréamont, Ginsberg, Artaud: no prefácio à tradução dos Escritos deste último (L&PM, Porto Alegre, 1983 - Escritos de Antonin Artaud, Coleção Rebeldes e Malditos) Willer procura dar uma visão ampla do singular intelectual francês, divulgando cartas, manifestos, textos sobre teatro, poemas e ensaios do marselhês descendente de gregos que, nascido a 1896, desde criança teve problemas neurológicos, meningite, convulsões, primeiro internamento aos 19 anos, começando a tomar láudano aos 24, para aliviar suas dores de cabeça. Em Paris, em 1920, Artaud é introduzido na vida cultural francesa por um tio produtor teatral e por seu próprio psiquiatra M. Toulouse, trabalhando de início como ator - foi o Tirésias na “Antígona” de Cocteau e atuou no cinema sob a direção de Abel Gance e Fritz Lang. Sua obra completa como escritor são 16 volumes pela Gallimard e apesar de sua expressão preferida serem as cartas, considerava-se, em primeira instância, um poeta. Participou do surrealismo de 1924 a 1926 e rompeu com o movimento, junto com Resnos, Soupault, Vitrac e outros por ocasião da adesão ao marxismo; dedica-se ao teatro Alfred Jarry e traduz “The Monk” de Lewis (1931) obra de horror gótico dita por Breton como precursora do surrealismo. Claudio Willer destaca que então Artaud decide trocar o texto pela vida e vivenciar pessoalmente a realidade mítica que tanto o fascinava e que era tematizada na sua obra: vai ao México estudar o ritual do peyote entre os índios Tarahumaras; escreve posteriormente sobre essa experiência e publica sob o pseudônimo “O Iluminado”, “Les Nouvelles Revélations de L’Être” inspirado no Tarot e na Cabala. Convidado a uma conferência na Bélgica, a uma certa altura Artaud abandona o texto e passa a encarnar o assunto de que trata, em vez de discorrer sobre ele. Viaja em 1937 à Irlanda com sua “bengala mágica” e torna à França preso em uma camisa-de-força. Passa 9 anos em hospícios vários até chegar a Rodez, por atuação de Robert Desnos, onde é melhor tratado apesar da aplicação de eletrochoques. Breton, Picasso, Camus, Sartre e outros fazem uma mobilização para retirá-lo de Rodez e garantir a sua subsistência: ele passa a residir na clínica de Ivry como paciente voluntário e não mais como internado compulsório, vindo a morrer no mesmo quarto onde morrera Gérard de Nerval, sobre quem escreveu belo estudo, assim como sobre Van Gogh. Willer lembra que, enquanto viveu, os textos de Artaud foram publicados em pequenas tiragens e lidos apenas por uma minoria de intelectuais esclarecidos. Sobre sua morte, as possibilidades de câncer no reto, overdose de heroína e morfina, ou suicídio. Depois dela, no entanto, as propostas de Artaud sobre teatro são práticas correntes, sobretudo o primado do gestual e da expressão corporal, bem como das formas de comunicação não verbal e ruptura entre palco e platéia. Willer ressalta que manifestações tipicamente de vanguarda como o happenning, a performance e a body art (quando o artista se põe no lugar da obra encarnando-a) têm em Artaud seu interlocutor: salienta, ainda, o poeta paulista que, para Michel Foucault, autor de “História da Loucura”, Artaud virou pelo avesso as relações entre criação e loucura, porque a partir dele não são as várias obras dos loucos e malditos que precisam se justificar diante da psicologia, mas esta que passa a ter que se explicar diante daquelas. Além disso existe um pensamento sobre a linguagem e sua relação com o corpo e a consciência, a partir da obra de Artaud, que se constitui referência fundamental para os estudos mais avançados no campo na linguística, da semiologia e da semiótica. Juntamente com Lautréamont, Artaud passa a ser cultuado pelos que se agruparam em redor da revista francesa “Tel Quel”, como Júlia Kristeva, Philipe Solers, Jaques Derrida. Deriva de Artaud essa postura de rebelião radical, de inconformismo e recusa à civilização que aí está, daí todas as correntes da chamada “contracultura” lhe deverem alguma coisa: a substituição do texto pela realidade, pela vida e a transformação da vida e da realidade em obra; a identidade entre linguagem e vida; a eficácia da linguagem como a capacidade de transformar a consciência e a realidade; uma linguagem com a força das invocações da magia primitiva e da cabala; o teatro como uma poesia posta em prática e transformada em realidade, sendo sua finalidade a de toda linguagem: trazer vida para dentro da arte, tornando-a real; a busca de uma forma vital de cultura, em contraposição à cultura européia: daí a viagem ao México, país que atraiu autores como D. H. Laurence, Aldous. Huxley, Benjamim Péret, André Breton, William Burroughs. Sofrer a obra, antes de escrevê-la. E o ser saído da dor toma corpo e recupera a palavra: “Quero que os poemas de François Villon, de Charles Baudelaire, de Edgar Poe ou de Gerard de Nerval tornem-se verdadeiros e que a vida saia dos livros, das revistas, dos teatros… para captá-la e passando-as ao plano dessa intensa magia do corpo, desse transbordamento uterino de alma a alma que, corpo por corpo e fome de amor por fome, libere uma energia sexual enterrada sobre a qual as religiões jogaram a excomunhão e o proibido”. [9] […] “Essa é a voz sobre a qual a poesia se funda: somente fora da página impressa ou escrita é que um verso autêntico pode ter sentido”. [10] Escandir, recitar, declamar é dar relevo ao corte das silabas e unidades métricas, produzindo o que a poesia escrita não é capaz de dizer: escandir consiste em encenar o texto poético, fazendo-o respirar por si mesmo, desejo de capturar a palavra em seu nascimento, antes do próprio sentido que ela carrega. [11] Chegar lá E agora, quero a palavra reduzida ao simples gesto de agarrar alguma coisa, pura denotação, linguagem-referência, mão estendida apontando para esses pedaços de realidade - ou então a festa com todos os seus fantasmas sentados no sofá de absinto enquanto sangram os dedos da memória, tudo verdadeiro no limite do que possa ser verdade, o caderno escrito de trás para diante e o livro lido a partir da última página, e também poderia falar das nuvens de vapor e cortinas de fumaça nos quartos, e narrar a história completa das febres tropicais - porém só nós dois fomos capazes de nos mover nesse plano intermediário em que realidade e sonho se confundem, tocados pela sugestão de outra cena ou situação. Essência, é esse o nome da nossa transação. Essência, essência! - grita a legião dos Irreais desde o bojo de sua existência provável. Essência, o verdadeiro nome do jogo de mutações”. [Claudio Willer, in Estranhas experiências] Essa “língua perdida” ressurge para Artaud no momento em que traduz “Israfel” de Edgar Alan Poe, ao fazer ecoar em francês a voz do anjo em uma dicção capaz de acordar o que pulsa sob o texto escrito, através do processo do “sortilégio”; um escritor nasce, de certa forma, de seus antecedentes escolhidos (Gérard de Nerval, Lautréamont, Baudelaire) e assim observa-se que ao traduzir “Israfel”, Artaud se empenha em uma versão de sua própria poética: ele se torna poeta sob o impulso de diversas poéticas que tem em comum o fato de modificarem o próprio regime da língua francesa. [12] Clarividência sobrevivente do sofrimento de eletrochoques magnéticos e metafóricos, Artaud foi mais uma vítima da vulgaridade que considera mentalmente doentes aos gênios e aos visionários. Buscava a linguagem da sensibilidade anterior à linguagem conceitual, na linha já proposta por Nietzsche que esta última seria a mais imprópria para exprimir a existência do mundo por se tratar de uma simples metáfora: daí o privilégio da musicalidade oral. A recuperação da gênese processual de si mesmo, com a linguagem gestual e corporal: Artaud canta seu corpo e despreza os códigos gramaticais que sufocam a linguagem questionando as instituições: família, religião, Universidade, Estado, polícia, asilos psiquiátricos - tanto os aparelhos repressivos como os ideológicos do Estado, aos quais iria se referir Althusser. Ele descobre nas formas não faladas da expressão dramática possibilidades criadoras desconhecidas, deseja um teatro de transe como o balinês, danças de possessão como os ritos brasileiros descritos por Roger Bastide (macumba, candomblé). Sartre aproxima o happenning do Teatro da Crueldade de Artaud só que o primeiro tende a não comportar nenhum dirigismo, celebrando a desordem como união coletiva, enquanto o segundo costuma ter um tema proposto e tudo é calculado precisamente. [13] Jogos de verão Não tenho feito outra coisa senão recuperar-me Antonin Artaud ontem horizonte perplexo alva flor traduzir o indizível incorporavam-se ao espaço noturno inquietos dentro do verde frente a frente […] inquietos dentro do verde frente a frente incorporavam-se ao espaço noturno soturno alva flor traduzir o indizível ontem horizonte perplexo [Claudio Willer, in Dias circulares] Havendo participado da dança do peyote entre os Tarahumaras, Artaud se posiciona contra a lei que proíbe tomar-se substâncias alucinógenas declarando que a proibição aumenta seu consumo, o qual, segundo ele, poderia ser proveitoso para os que estão ligados à medicina, ao jornalismo, à literatura. [14] As experiências de Artaud tinham precedente nos estudos de Ludwig Lewin(1886) e Havelock Ellis, tratando de isolar a mescalina, princípio ativo do peyote que verificava-se ter o poder de modificar a percepção. Posteriormente o escritor inglês Aldous Huxley experimenta o cacto na primavera de 1953, escrevendo “As portas da percepção” (1954) e “Céu e inferno” (1956), destacando o uso da planta pelos índios em um contexto visionário e místico. Aliás, já em 1951, o antropólogo romeno Mircea Eliade, em seu livro “O xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase”, fizera uma descrição do transe e viagem iniciática dos índios americanos com farta utilização de tabaco e a bebida de uma infusão preparada com um cipó em forma de escadas. Dando continuidade aos estudos sobre o peyote, vamos ter ainda o antropólogo brasileiro Carlos Castaneda :Carlos Aranha, paulista que passou a infância em Juqueri ,sobrinho de Osvaldo Aranha, conforme entrevista à revista Veja em 1975 - ele travou conhecimento com um índio curandeiro que atuou como seu mestre, no deserto mexicano de Sonora, de 1961 a 1965 e publicou suas experiências com o cacto em “Os ensinamentos de Don Juan”(1968) em vários livros que marcaram bastante a ideologia da contracultura e são lidos até hoje. No que concerne à geração beat , William Burroughs, em carta a Allen Ginsberg (1953), comenta haver encontrado o yage em Bogotá e a informação de sua presença próximo ao rio Putomayo, mas de preparo exclusivo pelo curandeiro; finalmente, conseguindo um caixote dele, experimenta e aprende inclusive a prepará-lo, declarando: “Yage é uma viagem espaço-tempo. O quarto parece sacudir e vibrar com movimento. O sangue e a essência de muitas raças: negros, polinésios, mongóis da montanha, nômades do deserto, índios, raças por nascer e combinações ainda não descobertas passam através do meu corpo. Migrações, incríveis viagens através de desertos, florestas e montanhas…” [15] […] “Em dois minutos, uma onda de tontura me arrebatou e a cabana começou a girar. Era como cheirar éter ou quando você está muito bêbado, deita-se e a cama gira. Brilhos azuis passavam em frente aos meus olhos.” [16] […] “No Putomayo, os índios cortam a trepadeira em pedaços de vinte centímetros usando pelo menos cinco pedaços por pessoa. Os pedaços são triturados com uma pedra e fervidos com dois punhados de folhas de uma outra planta, identificada por alguns como ololiqui. A mistura é fervida durante todo o dia com um pouco d’água…” [17] Sete anos mais tarde, Ginsberg, o destinatário das cartas de Burroughs, também viria à América do Sul (1960) e escreveria ao amigo sobre sua experiência com a ayahuasca, misturada com outra folha chamada cahua na língua indígena e chacruna, na cidade peruana de Pucallpa. O curandeiro (ou mestre) já ouvira fala do peyote e era especializado em curas físicas. Em resposta, diria Burroughs a Ginsberg: “Não teorize: experimente”. [18] A alteração da consciência proporcionada pelas plantas cultivadas pelos índios do nosso continente com certeza desdobrou a visão do mundo desses autores, interferindo também no processo de criação literária, que passa a adquirir uma velocidade analógica de imagens que posteriormente seria referida sob nomenclatura de “psicodélica”. Essas chamadas plantas alucinógenas, o vinho das visões prodigiosas (vinho adivinhatório ou vinho da alma) que podemos chamar Yage ou ayahuasca - crescem no leste dos Andes e no Nordeste do Brasil, havendo tribos que a ingerem diariamente , vivenciando, a partir daí, estranhas experiências. O primeiro a dar notícia da planta foi o botânico inglês Richard Spruce, em 1851, que participou de uma cerimônia do Yage no alto Rio Negro, na Amazônia brasileira. Como demorou a publicar seu livro, a primeira descrição divulgada foi do geógrafo equatoriano Villavicencio, que experimentou a bebida em 1858 e comentou extasiado seu “vôo” acima de lugares extraordinários; em 1923 já existia um filme sobre a cerimônia indígena do “vinho da alma” e em 1928 foi identificado o seu princípio ativo, harmina (Telepatina, Yageina). No Brasil, sobretudo em Rondônia, o Yage (ayahuasca) é muito consumido. Em Porto Velho, a planta congrega as atividades da União do Vegetal; conforme Eduardo Bueno, a antiga revista americana High Times sempre reiterava que o Yage “é absolutamente legal e seu uso não implica em nenhum problema judicial”. [19] Não é diversa a opinião atual do governo brasileiro que, através de Resolução Federal número 4 - CONAD do dia 4 deste mês de novembro do corrente ano de 2004 reconhece a importância do cadastro nacional de todas as instituições que em suas práticas religiosas adotam o uso da ayahuasca, instituindo grupo multidisciplinar de trabalho inclusive para a pesquisa de sua utilização terapêutica. A bebida, entre nós chamada Santo Daime, é usada em nosso país por mais de doze mil seguidores, quer nas regiões amazônicas, quer nos centros urbanos. O uso ritual das plantas expansivas da consciência é uma forma xamânica de compreender a realidade e atingir o êxtase da criação inclusive artística. É uma prática ancestral cultuada desde nossos antepassados pré-cabralinos e pré-colombianos, proporcionando abertura da percepção espiritual e o fenômeno da visão. O Santo Daime é uma religião originalmente brasileira, oriunda da floresta amazônica, feita a partir da fusão do cipó jagube e a folha rainha, proporcionando uma bebida enteógena, sacramental. Seu uso se constitui prática rotineira entre os habitantes do Estado do Acre, especialmente na capital. Sob o efeito do Santo Daime a pessoa viaja dentro de si mesmo, sente-se flutuando no espaço, tem visões luminosas e perde a noção do tempo. Como é sabido, “as plantas de poder” sempre foram utilizada em rituais religiosos, quer no México, Peru, Bolívia, ou Brasil. Aqui, em contexto sincrético com o cristianismo e o espiritismo, temos a União do Vegetal, no Estado de Rondônia e o Santo Daime e a Barquinha, no Estado do Acre. Seus rituais são acompanhados por hinos que falam da solidariedade humana, da consciência ecológica e da espiritualização. A abertura das portas do inconsciente faz o ritual desenvolver nos adeptos além de uma auto-análise, aspectos ligados à vidência e à cura. A poesia, como forma de conhecimento do mundo, sempre esteve próxima destes mecanismos mágicos e míticos, em todas as culturas. Oráculos e profecias sempre foram respeitados, tanto do ponto de vista poético como religioso. De Buda a Dioniso, objetiva-se o êxtase, o transe que depura e nos oferece a plenitude e perfeição. Entretanto, observamos ao longo de nossa vida acadêmica uma certa resistência de alguns colegas ao estudo da geração beat em sala de aula bem como a existência (?) de poucos textos a ela direcionados. Por trás da alegação de se constituírem “ mais um estilo de vida do que um movimento literário” , que como acabamos de constatar, não tem qualquer fundamentação, o motivo pode relacionar-se ao fato de que através das experiências não ortodoxas ligadas à abertura da percepção, esses escritores buscaram a origem primitiva do mundo e do homem, contestadores que foram da rigidez burocratizante do sistema a que estamos cada dia mais submetidos. No que concerne especificamente ao poeta Claudio Willer, vemos que ele se insere com pertinência na construção de um caminho perfeitamente coerente na contrariedade à linha formalista e superficial de um certo tipo de poesia afetada que pretende ainda hoje dissociar a arte da vida e a fantasia da experiência. A partir do momento que introduz entre nós os textos de Lautréamont, Willer nos torna íntimos da modernidade precursora do surrealismo e articula o novo e o velho mundo, tendo em vista que Isidore Ducasse é na verdade a presença primitiva sul-americana no contexto erudito francês, já praticando naquela época a fusão dos gêneros ao chamar de “Cantos” seus textos em prosa e de “Poesias” à sua prosa fragmentada. Esse mundo selvagem e atordoante que nos é trazido pelo poeta uruguaio mostra-se de uma atualidade muito forte em tempos de estudos interculturais, representando também a reconquista da origem e de uma identidade cultural pelo jovem Isidoro ao atravessar o Atlântico, com uma importância habitualmente comparada a Baudelaire e a Rimbaud, estando próximo igualmente, pela rebelião romântica, de Hölderlin, Nerval, Jarry e Artaud. Este último, igualmente traduzido por Claudio Willer, na verdade também recusou a estratificação do mundo europeu e veio ao México estudar o ritual do peyote dos índios tarahumaras, em busca da oxigenação de uma espiritualidade em crise, como quem deseja mudar de pele, deixando-se habitar pelas forças mágicas, tal qual os dançarinos do peyote entram em transe religioso, apelando, do ponto de vista da linguagem teatral, ao fundamento no corpo em cerimônias mágicas de iniciação. Resgatando também a relação vida & obra, em busca de representar sua vida e ao mesmo tempo transformar-se naquilo sobre o que escreve. A identificação de vida e criação, em Artaud, é inequívoca (não concebo uma obra como separada da vida: eu me conheço porque me assisto, eu assisto a Antonin Artaud”.) Da mesma forma vieram à América do Sul os escritores da geração beat, precursores do movimento hippie dos anos sessenta e de várias práticas ligadas à contracultura, com a revolução sexual, exploração de paraísos psicodélicos e a onda de espiritualidade oriental. Assim, desde o culto ao corpo e ao direito do prazer, descobre-se um novo misticismo ligado às religiões do oriente, o que representa uma recusa dos dogmas ocidentais praticados nessa área. Através da música (o jazz, o rock) dá-se o trânsito da contracultura à cultura de massa, chegando-se à new age. Tratava-se, como resta evidente, de uma crise do sagrado, onde a yoga veio ocupar espaço no acesso ao nirvana, através da prática zen e tântrica, numa adesão aos rituais budistas tibetanos: mundo que é descoberto e que vem oxigenar a vida espiritual do ocidente em processo de mumificação Esses pontos em comum voltavam-se à importância de uma energia humana ligada ao corpo e anterior aos rótulos desgastados contra os quais se insurgiam. Hoje, em nossas livrarias, são inúmeros os volumes de filosofia japonesachinesa-indiana, princípios hinduístas, budistas, taoístas, confucionistas, todos formando uma sabedoria viva oriental que de tal forma incorporaram-se à cultura ocidental que até esquecemos seu caráter geográfica e etnograficamente distanciado. Posso dizer que desde o início de minha vida acadêmica estive sensibilizada sobre a geração beat e trabalhei seus textos em sala de aula, muito especialmente On the road (de Kerouac) e O Uivo (de Allen Ginsberg), este último sempre na tradução de Claudio Willer, e o mesmo se diga em relação aos textos de Lautréamont e Artaud; todas as vezes em que se tratou de divulgar tanto o precursor como o grande ator-diretor da modernidade. Posso dizer que em matéria de literatura e sobretudo de poesia sabemos que o que importa não é o número de árvores derrubadas para o sacrifício na construção de compêndios enciclopédicos cujo discurso muitas vezes nada acrescenta à história da literatura. Posso dizer que “Estranhas Experiências e Outros Poemas” de Claudio Willer em suas apenas 144 páginas é uma pedra talismã a refletir uma verdadeira visão poética nacional e universal perfeitamente coerente com a estética e a ideologia de sua época e os caminhos percorridos pelo poeta em sua formação identitária, em sua profunda ascese, em sua brava seriedade ontológica e intelectual. mas não existem cidades são nossas viagens que criam roteiros - mapas de superfície luminosa como estes em seus quadros, reflexos do céu mais estrelado de Samarcanda, do límpido entardecer florentino, o outono transparente de São Paulo mais a inquietante névoa de Nova York, lampejos dourados de um campo lombardo, seu poente animado pelo sopro da planície as cidades não existem só os encontros são reais [Claudio Willer, in Estranhas experiências] NOTAS 1. WILLER, Claudio. Entrevista a Weblivros internet http://www.weblivros.com.br/entrevista/claudiowiller.html, pág. 3 2. Idem. Entrevista a verbo-cultura & Literatura (Sandro Ornellas e Vivaldo Trindade) - internethttp://www.verbo21.com.brarquiv/81cx1.html, pág. 2. 3. LAWRENCE, Eros et les chiens/ Paris: Gallimard, 1931 - in Alexandrian, História da Literatura Erótica, Rio: Rocco, 1993, pág. 351. 4. LAWRENCE, Défense de Lady Chatterley, Paris: Gallimard, 1931 - idem, ibidem. 5. DESNOS, Robert. De l’erotisme consideré dan ses manifestations écrites et du point de vue de l’esprit moderne, Paris, 1953, idem, pág. 389. 6. TORRE, Guilherme de. História das Literaturas de Vanguarda, vol VI, Lisboa, Presença, 1972, pág. 33. 7. Idem, pág. 41. 8. Willer, Claudio, Estranhas Experiências, Rio de Janeiro: Lamparina, 2004, Apresentação, pás. 9 e 13. 9. Artaud, Antonin. In O nascimento da poesia. Jean Michel Rey. Belo Horizonte. Ed. Autêntica, 2002, pág. 177 (trad. Ruth Silviano Brandão.) 10. Idem, pág. 139. 11. Idem, págs. 131 e 132. 12. Idem, pág. 110. 13. Felício, Vera Lúcia. A procurada lucidez em Artaud. São Paulo. Ed. Perspectiva, 1996, pág. 169. 14. Felício,Vera Lúcia. ob. Cit, pág. 60 15. Burroughs, William - Ginsberg, Allen. Cartas do Yage. Porto Alegre: L&M Editores, 1984, trad. Bettina Becker, págs. 56 e 57. 16. Idem, pág. 36. 17. Idem, págs. 37 e 38. 18. Idem, pág. 75. 19. Idem, págs. 89, 90 e 91. Lucila Nogueira (Brasil). Poeta e ensaísta. Autora de livros como A dama de Alicante (1990), Zinganares (1998), e Bastidores & Refletores (2002). Palestra proferida no Seminário “A Cidade e o Campo”, no evento “Nomadismo e Cidadania”, 22/12/2004, no Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Fantástico e estranho mundo de Péricles Prade (entrevista) Marco Vasques . influências. [MV] Figura marcante no cenário nacional, Péricles Prade é respeitado como intelectual, pesquisador, advogado e poeta com êxito em todas as áreas em que atua. Ao falar sobre a vida, diz que sua maior ambição é servir ao próximo e se confessa um apaixonado pela humanidade. No que tange sua obra é enfático: “Minha poesia é para iniciados”. Autor de dez livros de poemas, outros tantos no campo jurídico, ele construiu sua poética sob as bases do ocultismo, da cabala, dos mitos e de uma erudição que desafia e provoca o leitor. No final de 2003, ele comemorou 40 anos de atividade poética, lançando de uma só vez os livros de poemas Ciranda andaluz e Além do símbolo, ambos publicados pela editora Letras Contemporânea. Péricles, nesta entrevista, oferece a real dimensão do seu trabalho e fala sobre sua vida, obra e MV - Um escritor geralmente surge ou por influência familiar ou pela descoberta de um autor. Como se deu a sua iniciação literária? PP - Escrevi o primeiro poema aos nove anos, prosa poética aos 15 e conto aos 17. Não descobri autor, apesar de ler muito, que precipitasse o ato de criação, e a influência familiar foi de outra ordem. Lembro-me, apenas, que sentia (como ainda sinto) uma irreprimível necessidade de escrever, na realidade reveladora de vocação literária. Há, contudo, um responsável pela continuidade desse labor. Trata-se do falecido Gelindo Buzzi, professor de português e literatura do Colégio Rui Barbosa de Timbó, que me estimulou, orientando-me. Era um apaixonado pelo Romantismo, sendo esta Escola, portanto, a primeira forte impressão da estética de minha adolescência. Entretanto, fundamentais foram as leituras das histórias em quadrinho, os famosos gibis dos heróis e dos dominados. Conquanto não tenha iniciado por direta influência literária, esta existiu e existe no curso de minhas produções. Harold Bloom que o diga. Daí que, na poesia, registro Blake, Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé e Eliot. Quanto à ficção, Nerval, Hawthorn, Kafka e Jarry. E envolvendo esses gêneros, como pano de fundo, o ocultismo e a mitologia. A influência é natural, desde que não usurpe ou contamine a originalidade. Borges não passou o tempo todo falando em Robert Stevenson, De Quincey, Cansinos-Assén, Macedônio Fernández e Walt Wittman? Nem por isso deixou de ser Borges, viceralmente. MV - Allen Ginsberg, em sua primeira entrevista concedida a um jornal brasileiro (O Globo 4/8/91) dizia “me pergunto que papel a poesia poderá ter em meio a tanta destruição, tanto sofrimento promovido pelas grandes potências (...)”. Qual é o papel da poesia num mundo de grandes conflitos, bomba nuclear, fome, massificação e coisificação do homem? PP - O próprio Allen Ginsberg poderia responder a si mesmo, pois, segundo, William Carlos Willians, ele literalmente esteve no inferno. Aliás, basta ler Aullido para ser verificada esta realidade. Pois bem. Ainda assim, sobreviveu no universo poético. E por quê? Porque foi salvo pela fé na arte da poesia. Dito isto, percebe-se que o papel da poesia, no fundo, continua o mesmo, quer o mundo, ou não, viva grandes conflitos de expressão universal, coisificando o homem: ou seja, o da revelação da essência do cosmos individual e coletivo pela fé nessa arte, sendo tais fenômenos apenas pontuais temas para perpetuá-la. Afinal, a poesia é entranhado reflexo da vida, com ou sem o caleidoscópio dos horrores das guerras, ainda que considerada seja um enigma da natureza. E a natureza, já dizia Heráclito, ama ocultar-se. MV - Seus livros de poemas Jaula amorosa e Pequeno tratado poético das asas (para ficarmos apenas nesses dois, por enquanto) são profundamente marcados pela mitologia, pela astronomia, pelo ocultismo. Há nessas obras dois fatores a ressaltar: a exigência de um leitor preparado e um evidente projeto-livro. Fale um pouco sobre esses aspectos e essas obras. PP - O livro Jaula amorosa, antes de tudo, é um Bestiário moderno, como havia o de Cristo, na antiguidade, imantado pela aura metafórica de vários animais viventes. Foram com prazer eleitos pela imaginação, iniciando-se com peixes imortais e terminando na cova de serpentes ociosas. São envoltos por uma explosão de imagens insólitas que não expressam, necessariamente, verberações ancoradas na dicção do surrealismo (atípico, no caso, se de escrita automática não se trata), fundando-se, com ênfase maior, nos territórios da mitologia, do ocultismo e da alquimia (além da temática de origem distinta), a exemplo do ocorrente nas obras anteriores, em especial Nos limites do fogo. São poemas, no entanto, as mais das vezes plasmados pela gramática da literatura simbólico-fantástica, suporte de meu universo arquetípico, inclusive na ficção, cujos traços de estranheza têm raízes marcantes na linhagem de extração visionária, sem ser poesia datada e propiciando também remissões líricas e/ou eróticas, plenas algumas de humor e ironia, mormente a de feição epigramática, prisioneira da infância baudeleriana reencontrada. O mesmo se diga com relação ao Pequeno tratado poético das asas, em que é mais evidente a propensão à estética da redução, verificada pelo consórcio-síntese de palavras nascidas sob a pulsão e a tensão em torno de um mito exclusivo, isto é, o Pássaro em sua evolução sagrada, revelando espécie particularíssima de hierofania. O Pássaro-mensageiro dos deuses e outros, que ora se confundem com o Destino, ora não, são tratados com visão metafísica, muito embora linear na construção pedagógico-edênica de suas identidades no transcurso do Tempo mítico. Aqui, sem o caráter disperso da Jaula, instaura-se o mythos como narrativa aplicada de que fala Burkert, por ser, concordo, simultaneamente uma metáfora ao nível da narração. Daí a relevância da linguagem poética para desvelá-la, à procura da verdade, da experiência do sentido (v. Campbell), do eterno e da compreensão do mistério. Afinal, faz anos, Cassirer já anotava que a mitologia é, na realidade, o poder que a linguagem exerce sobre o pensamento em todos os planos do concerto espiritual. É onde entra a poesia, sem intrusão, se a mitologia é inerente à linguagem, reconhecendoa como forma externa daquele pensamento, segundo a pontual formulação de M. Müller. Ambos os livros, como os pretéritos, vigem sob a advertência crítica de serem obscuros, herméticos. Bobagem. A obscuridade e o hermetismo somente prestam obséquio àqueles que não se esforçam para descobrir a lava incandescente sob esses vulcões representativos de uma poética de exceção em busca constante de epifanias. Nem por isso, guardadas as devidas proporções, o poema Prose pour Des Esseintes, considerado o mais obscuro de Mallarmé, deixa de ser extraordinário, para usar uma expressão de José Paulo Paes, seu tradutor. Exigem preparo intelectual, sim, por serem fruto de poesia para iniciados, conquanto desnecessária seja a erudição especializada, correspondendo a um projeto poéticoexistencial (já vislumbrado por Fabio Brüggemann). Há, neles, certa organização, ainda que febril, compreendendo quase sempre a junção orgânica de cinco poemas ligados a temas do calendário mítico-fantástico-oculto. Pretendo concluir o ciclo (a fim de me dedicar apenas à ficção) com o livro O retorno das serpentes (comecei a lavra poética a partir de ofídica concepção), concentrando-me no mito de Oroboros, a grande mediadora de minha vocação literária de poeta à margem da corrente, para não dizer xamânico ou maldito. E insisto, apesar de saber que vivemos num mundo desmitologizado. MV - Campbell no livro A imagem mítica nos mostra que o poder do símbolo ainda nos acompanha. Você acredita que a desmitologização empobreceu a poética contemporânea? Ou o mundo da imagem fragmentada cria novas mitologias? E como você vê a poética atual? PP - Não há dúvida: o poder do símbolo ainda nos acompanha. Ocorre que o símbolo é apenas um dos elementos da mitologia e dos mitos, sendo os arquétipos, a teor do perfil junguiano, as idéias em comum com estes. Eu me referi à desmitologização enquanto tal, ou seja, a gradativa e crescente mudança do pensamento, que passou de selvagem, in illo tempore, a tecnológico, prevalecendo outro tipo de formas de pensar, inclusive no plano da poética. Houve, sim, apesar de modo difuso, um certo empobrecimento. Já quanto à criação de novas mitologias, decorrentes do mundo da imagem fragmentada, isto corresponde a uma possibilidade à maneira de Barthes. Mas não é destas mitologias que trato. Minha poesia, propositalmente, volta-se ao passado, dele extraindo imagens míticas, informada e enformada pelo envolvimento de natureza ocultista. No que se refere à condição da poesia atual, nota-se sua influência pelos ditames da modernidade ou da pósmodernidade, onde, repito, cada vez mais, o mito é posto à margem, centrando-se a linguagem a partir de outro ethos. MV - Você diz acima que sua poesia é para iniciados. Isso não limita sua criação fazendo dela algo elitista? Ou sempre tivemos poucos leitores de poemas? PP - Sempre houve poucos leitores de poemas, mormente em nosso país pleno de analfabetos e desdentados, mais preocupados com a fome do que com a sabedoria. Todavia, em que pese essa realidade, minha poesia, ainda assim, é para iniciados, circunstância redutora do universo de leitores. Não que seja elitista, limitando minha criação. Pelo contrário, expando-a na medida em que procuro outros valores, alheio ao desenvolvimento frenético do capitalismo, inserido-me na linhagem das utopias possíveis, se permitido for a remissão a essa singularidade. O poeta deve escrever em função de sua compreensão do mundo e não recuar apenas por que certo tipo de postura engajada exige uma preocupação social exclusiva. Não nego a poesia social, respeito-a; entretanto, a linguagem inerente a minha expressão é de outro espectro. O social é exercido por mim no altiplano da Política, campo em que melhor ele se realiza. MV - A crítica tem relacionado sua obra, sobretudo os livros Os milagres do cão Jerônimo e Alçapão para gigantes, ora dentro do surrealismo, ora do realismo fantástico. No entanto me parece serem livro demasiados cerebrais para serem enquadrados no Surrealismo germinal que pregava o automatismo. Como você encara a classificação destas duas obras? PP - Vários exegetas desavisados, realmente, embutiram estes dois livros na órbita do surrealismo. Estão enganados. A ficção por mim criada é vinculada à denominada narrativa fantástica. Para os que não sabem, o fantástico, segundo Todorov, é a hesitação experimentada por um ser que, conhecendo tãosomente as leis naturais, encontra-se diante de um acontecimento tido como aparentemente sobrenatural. Daí durar o tempo de uma hesitação. Na linha da concepção desse formalista russo, diria que minhas obras perpassam tanto pelo fantástico-estranho, quanto pelo fantástico-maravilhoso, resvalando, vez ou outra, pelo maravilhoso puro, por não ter, como o primeiro, nítidos limites. Muito embora a poesia, no meu caso, esteja de forma umbilical ligada à atmosfera da ficção, tem um viés de expressão surrealista, em determinados poemas, mas não se adstringe à escrita automática, enfatizada por Breton, afeiçoando-se a outro perfil de características dessa linguagem, entre as quais se hospeda a expansão do estado imaginativo, compreendida numa espécie de estética de excessos, para usar as palavras de Álvaro Cardoso Gomes. Seja salientada, então, a presença de um surrealismo mitigado, contido pelo trabalho posterior ao ato da criação. Enfim, o que sobra é mais o culto da imagem, mediante a intervenção da linguagem metafórica. Mesmo porque, se fosse fazer comparação com as artes plásticas, diria que as obras estão imbricadas por um tipo de cubismo poético, e não por um surrealismo típico, se considerada a descontinuidade de boa parte dos poemas, à espera do preenchimento do vazio pelo leitor atento. MV - Até aqui você falou fundamentalmente de autores estrangeiros que, de certo modo, nortearam sua formação. E os nacionais? PP - A leitura e a releitura dos poetas brasileiros compreendem um périplo completo no que há de melhor no universo desses criadores, sendo visitados com mais freqüência Jorge de Lima e Murilo Mendes. Quanto a Jorge de Lima, agrada-me a fase formalista, em que se localiza Invenção de Orfeu, cujo único pecado, talvez, seja a pretensão de instaurar uma épica moderna. Contudo, vital na formação, sem dúvida alguma, foi Murilo Mendes, por mim considerado um dos maiores poetas da América. Para justificar a afirmação, invoco, como exemplares, O visionário, A poesia em pânico e As metamorfoses. Conquanto também tenha sido influenciado pela dicção onírica do surrealismo, sem desfigurar-lhe a fisionomia da obra, foi o seu cubismo poético (imantado pelo conceito de interpenetração espaço-temporal) que sempre me cativou, já que, da mesma sorte, possuo afeição (obsessão?) pela descontinuidade da expressão construtiva (pondo ênfase na força elíptica das imagens analógicas radicais, descompromissadas com a lógica do sentido comum) que, afinal, não é monopólio da pintura. Além do mais, encanta-me o signo escatológico, a visão apocalíptica do cosmo interior e exterior, onde se nota o predomínio de oxímoros amparados por metáforas de trajeto invertido (hiperbólicas) propiciatórias da presença de afinidades de perfil barroco. De outra parte, alinho-me ao uso do staccato caracterizador da medida econômica e autônoma de muitos versos, quando a miniatura se instala, mas contendo o macrocosmo representativo de uma cosmogonia singular, isto é, sem comprometer a originalidade. É nesse espectro que se catapulta minha imaginação. MV - E a vida, Péricles, o que dizer dela? PP - Nasci em Rio dos Cedros, quando ainda pertencia ao Município de Timbó, a 7 de maio de 1942. Considero-me um homem realmente feliz. Possuo uma família maravilhosa, muitos amigos (alguns especiais), venci profissionalmente como advogado e sou respeitado como escritor e intelectual. Tenho a legítima pretensão de viver muito, se a saúde (por enquanto excelente) me permitir. Preocupo-me mais com a vida dos outros, no bom sentido, ajudando os que necessitam e na medida de minhas possibilidades. Meu maior prazer estético, para manter a felicidade, é escrever, ler e ouvir música, principalmente Bach e Vivaldi. MV - Quem é Péricles Prade? PP - Um homem cuja maior ambição é servir, ciente de que a humildade é a maior virtude. Marco Vasques (Brasil, 1975). Poeta, contista e jornalista. Publicou em 2004 o livro Diálogos com a literatura brasileira (vol. I). Atualmente é Coordenador de Artes da Fundação Cultural Franklin Cascaes. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Freud, Oswald de Andrade e Antropofagia Mário Chamie . A utopia antropofágica de Oswald de Andrade tem um núcleo temático: a transformação do patriarcado em matriarcado. Em Oswald, o patriarcado é representado pela sociedade burguesa e capitalista, centrada no direito de propriedade do dominador, na usura, na hierarquia familiar, nos vícios do homem civilizado, na especulação lógica e metafísica, na repressão dos instintos e da liberdade sexual. Negatividade histórica é o nome geral dessas características. Da ótica oswaldiana, o patriarcado é um tabu encravado no curso da História. Por sua vez, o matriarcado, em Oswald, se identifica com a implantação de uma nova idade de ouro, cujos valores revolucionários promoveriam a substituição do direito de propriedade do homem civilizado pelo direito de posse do homem primitivo, a superação da usura e do negócio pelo ócio, o fim dos poderes centralizadores e autoritários pelo advento de uma vida comunitária aberta aos prazeres vitais, ditados por uma libido individual sem censura. O matriarcado desencravaria o tabu patriarcal da História, transformando-o em totem de uma feliz e nova idade. Oswald chama de "revolução caraíba" tal transformação utópica, cujo agente emblemático seria o homem novo do novo mundo descoberto pelo colonizador, ainda infenso às degradações impostas pela civilização. Oswald, entre outras fontes, encontrou na Psicanálise um dos fundamentos de sua teoria. Tomando conhecimento dela, nos anos vinte, Oswald fez uma leitura de Freud, no mínimo, pouco ortodoxa. Eu diria: uma leitura de conveniência, já que, por um lado, concebe a Psicanálise como sintoma prévio de suas idéias antropofágicas e, por outro, como método de pesquisa e aprofundamento dessas idéias. Enquanto sintoma, Oswald entende que Freud, ao fazer o diagnóstico da sociedade patriarcal, apontou nela a negatividade histórica de seu traço repressor. Enquanto método, ele entende que Freud, ao investigar o inconsciente e penetrar os seus complexos psíquicos, deu respaldo ao princípio subversor da antropofagia, pelo qual a todo sim corresponde um não implícito e vice-versa, numa réplica à ambivalência freudiana que prevê no conceito de "pureza" um conteúdo de "impureza" ou na identificação de um "tabu" a presença subjacente de um "totem" possível. Apesar da importância atribuída por Oswald à Psicanálise, ele ainda a considera um subproduto da civilização patriarcal, e acusa o próprio Freud de ser mentor de uma espécie de consciência arrependida da negatividade histórica. Nesse sentido, inventa um "Freud católico" empenhado em absolver e salvar os seus pacientes de seus "pecados", em forma de neuroses e "desajustes". Diz Oswald: "as experiências das teorias de Freud numa sociedade natural trariam também a derrocada de outros resultados da Psicanálise. Que sentido teria num matriarcado o complexo de Édipo?". Em outras palavras: se o método freudiano detecta os sintomas negativos e traumáticos da sociedade burguesa, nem por isso os portadores desses traumas devem se rebelar ou destruir essa sociedade. Podemos dizer que a invenção de um "Freud católico" obrigou Oswald ao seguinte paradoxo: o de aceitar, estratègicamente, o método terapêutico de Freud, desde que corrigido em "alguns de seus erros profundos", para que tal método se encaixasse melhor nos propósitos da "revolução caraíba", cuja meta é dar fim à história do patriarcado. Passando a limpo o que seria a correção de erros e praticando a "crítica da terminologia freudiana", Oswald explica: "A Antropofagia só pode ter ligações estratégicas com Freud que é apenas o outro lado do catolicismo./Mas Antropofagia que bafeja no homem natural a construção da sociedade futura não pode deixar de ver alguns erros profundos de Freud. O recalque que produz em geral a histeria, as nevroses e as moléstias católicas não existem numa sociedade liberada senão em porcentagem pequena ocasionada pela luta./ Cabe a nós antropófagos fazer a crítica da terminologia freudiana./ O maior dos absurdos é por exemplo chamar de inconsciente a parte mais iluminada pela consciência do homem: o sexo e o estômago. Eu chamo a isso de consciente antropofágico. O outro, o resultado sempre flexível da luta com a resistência exterior, transformado em norma estratégica, chamar-se-á o consciente ético" . Aí está: para quem "bafeja no homem natural a sociedade futura", o método de Freud, mesmo útil, teria que ser revisto e depurado de sua acomodação catolicizante, afim de compor-se com a radicalidade transgressora do "consciente antropofágico", destinado a vencer a "resistência externa" dos valores patriarcais e a inaugurar a nova "consciência ética" de uma futura sociedade matriarcal. Nesses termos, parece claro que, na concepção pertubadora de Oswald, não há lugar para alternativas. Sua "revolução caraíba" apóia-se em roteiros seguros sustentados pelo que ele chama de "únicos imperativos categóricos" de ação. Esses imperativos, ele os definiu, através de antinomias tais como: a) opor a posse à propriedade; b) sobrepor o selvagem ao civilizado; c) substituir a abstração metafísica do verbo to be pela concretude ontológica do substantivo "tupi" (tupi or not tupi, eis a questão); d) e, sobretudo, transformar os tabus da cultura letrada em totens de uma cultura primitiva, livre das "nevroses" e outras "doenças católicas", diagnosticadas mas não extirpadas por Freud. Uma maneira de acompanhar o roteiro de tais imperativos é distinguir as menções que Oswald faz a Freud no seu Manifesto Antropófago. O manifesto traz três menções centrais. Todas desenham os cuidados e reservas de Oswald. A primeira denota cumplicidade e concordância com contribuições freudianas, em particular aquela que valoriza a mulher (célula matriarcal) diante da família repressora e de seus maridos católicos. Êi-la: "Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa". A segunda menção é quase um mini-manifesto, encartado no Manifesto. Nela, a rejeição a um imaginário Freud "sublimador de instintos" ganha contornos de um jogo meio maniqueísta de antinomias. Oswald, nesse jogo, enfatiza o desencontro entre definidos vícios patriarcalistas e supostas virtudes do matriarcado de seus sonhos. A menção é esta: "A luta entre o que se chamaria Incriado e a Criatura - ilustrada pela contradição permanente do homem e o seu tabu. O amor cotidiano e o modus vivendi capitalista. Antropofagia. Absorção do inimigo sacro. Para transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena finalidade./A antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual. É a escala termométrica do instinto antropofágico./A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo - a inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste dos chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos agindo". Nesta citação, parece óbvio que Freud é lançado numa incômoda berlinda intermediária. O fato de ele ter sido o grande identificador dos "males catequistas", não o isenta de sua complacência em relação aos vícios patriarcais do "modus vivendi" capitalista. É o que transparece das renovadas oposições que Oswald desdobra, em busca de comprovação da validade revolucionária de seu projeto antropofágico. As oposições assim se definem: a) contra as espiritualizações sagradas das catequeses ("inimigo sacro") a aventura humana de "terrena felicidade"; b) contra as sublimações sexuais - a "antropofagia carnal que traz em si o mais alto sentido da vida"; c) contra os pecados de catecismo e a peste dos povos cultos e cristianizados - a "escala termométrica do instinto antropofágico". E, finalmente, em forma de corolário: contra os tabus dos colonizadores vitoriosos - a capacidade do homem natural de converter os tabus em totens da idade de ouro do matriarcado emergente. A terceira menção completa o roteiro desses imperativos e remete para o debate das idéias de Freud, no minado terreno das reconversões de tabus em totens e da retomada de posse da pureza originária do indígena, expropiada, segundo Oswald, pelo "direito" de propriedade do colonizador. A menção é sintética: "Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud - a realidade sem complexo, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama". Vestida e opressora!... Trata-se obviamente da cultura européia, letrada, trazida aos trópicos pelo colonizador português. Em outras palavras: trata-se da tradição cristã, cujos valores conferem ao conquistador o "direito" de apropriarse da cultura nativa, em nome de sua "salvadora" missão catequética. Oswald vê nessa relação de domínio o espectro do tabu da superioridade do colonizador, a quem o colonizado deverá obediência e culto. Procura justificar essa visão, "pinçando" alguns argumentos desenvolvidos por Freud em torno dos conceitos de totem e tabu, a exemplo daquele em que Freud afirma que a palavra tabu conota com "sagrado, misterioso, perigoso e acima do comum", advertindo que essa "sacralidade" contem em si a idéia de proibição e de interdito. Vale dizer: as pessoas devem venerar o tabu, sem jamais "tocar" ou violar o seu incomum mistério. Tocá-lo é levar impureza ao que é puro e, conseqüentemente, desencadear penas e castigos, dentre os quais o pior de todos, anotado por Freud, seria o de o violador tornar-se, ele próprio, um outro tabu, a mercê de outras incessantes violações. Por esse motivo, Freud ressalta a necessidade de se manter "intocável" o temor reverencial perante o mistério, ao afirmar: "É precisamente esse significado neutro e intermediário - demoníaco ou o que não pode ser tocado - que é com propriedade expresso pela palavra tabu, tanto para o que é sagrado quanto para o que é impuro: o temor do contato com ele" (Totem e Tabu, Imago/74, pg.39). Aos olhos de Oswald, argumentos dessa natureza testemunhariam, de novo, o perfil "católico" de Freud, pois a contemplação e o temor a Deus assemelha-se ao temor ao tabu proibido. Do mesmo modo, a demonização do contato com o tabu parece ser uma paráfrase da condenação do pecado, na teologia judaico-cristã. Se, à sombra dessa teologia, Lúcifer desobedeceu a Deus, para, como se fosse deus, cultivar a legião pecadora de seus seguidores, igualmente o violador do tabu, ao desobedecer a seu interdito, incorre na mesma profanação herética, atraindo também sua legião de imitadores. Soa, assim, como prédica de fundo religioso e catequético a sentença freudiana de que "qualquer um que tenha violado um tabu torna-se tabu porque possui a perigosa qualidade de tentar os outros a seguir-lhe o exemplo". Esse jogo de semelhanças e ambigüidades se aprofunda, um pouco mais, com esta outra explicação de Freud: "O tabu é uma proibição primeva forçosamente imposta (por alguma autoridade) de fora, e dirigida contra os anseios mais poderosos a que estão sujeitos os seres humanos. O desejo de violá-lo persiste no inconsciente: aqueles que obedecem ao tabu têm uma atitude ambivalente quanto ao que o tabu proíbe. O poder mágico atribuído ao tabu baseia-se na capacidade de provocar a tentação e atua como um contágio porque os exemplos são contagiosos e porque o desejo proibido no inconsciente desloca-se de uma coisa para outra. O fato da violação de um tabu poder ser expiada por uma renúncia mostra que esta renúncia se acha na base da obediência ao tabu" (Idem, ib.,pg. 49). Os pressupostos da revolução caraíba que deseja o retorno do matriarcado sinalizam direção contrária aos argumentos freudianos. Oswald entende que o "direito" de apropriação do colonizador, apoiado em sua retórica de poder, é mero fruto do tabu da superioridade da cultura européia, "imposta de fora". Quer, por isso, inverter e transgredir semelhante quadro de mentira histórica. Para tanto, propõe a totemização daquele "intocável" tabu da superioridade, mediante a negação e a superação do patriarcado que o legitima. Vale dizer: utiliza o método psicanalítico, até o limite permitido por sua utopia revolucionária. Fora desse limite, sua leitura de Freud se faz sempre ao avesso como se fosse uma errata constante. Nos trechos, aqui, transcritos, essa leitura invertida não dá margem a dúvida. Basta conferir: onde Freud consagra o "temor do contato" com o tabu, Oswald enaltece o "destemor" do contágio transgressivo, sob forma de "vingança" reparadora. Onde Freud adverte sobre a "perigosa qualidade" de um violador de tabu conseguir "tentar os outros a seguir-lhe o exemplo", Oswald proclama que seguir o exemplo do violador é o único caminho de transformação de toda e qualquer negatividade histórica. Onde Freud admite ser a "expiação" mais "fundamental do que a purificação do cerimonial do tabu", Oswald responde que é fundamental anular a expiação e purificar o tabu, totemizando-o. Quando, por fim, Freud enuncia que a "renúncia se acha na base da desobediência ao tabu", Oswald ergue a bandeira da desobediência antropofágica que está na base do instinto puro da posse, capaz de desfazer as propriedades opressoras da cultura patriarcal e seus interditos. Como se sabe, Oswald sempre glorificou a contribuição milionária do erro. O "Freud católico" que ele inventou não passa, portanto, de um erro estupendo. Aliás, muito mais que um erro, essa invenção é uma extraordinária arbitrariedade estratégica, sem a qual a improvável utopia antropofágica e o profético renascimento do matriarcado, além de impensáveis, seriam destituídos de sua sedução, fecundamente, provocadora. Mário Chamie (Brasil, 1933). Poeta e ensaísta. Autor de livros como Objeto selvagem (1977), Natureza da coisa (1993) e Horizonte de esgrimas (2002). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Julien Schnabel: "a arte me faz sentir vivo" (entrevista) Antonio Jr. . Famoso por suas telas vanguardistas, e aclamado por um público que vê nele um digno sucessor dos melhores pintores do expressionismo abstrato e da pop-art, o norteamericano Julien Schnabel não se acomoda na pintura, arriscando o seu talento em filmes biográficos como “Basquiat” (1996) e “Antes que Anoiteça” (2000), cujos criativos protagonistas são inadaptados socialmente, com vidas loucas e trágicas. Nascido em 1951, Schnabel fez sua primeira exposição individual em 1979, tornando-se um artista pouco convencional, com obras de grande tamanho, rompendo estilos, utilizando materiais diversos e oscilando entre o abstrato e o figurativo. Casada com a modelo espanhola Olatz López Garmendia, apresenta em Madri sua produção pictórica dos últimos seis anos. Nesta entrevista, falo do seu conceito artístisco, da idéia de um mundo melhor e dos filmes que realizou. [AJ] AJ - Vive entre San Sebastian e Nova York, é casado com uma vasca e agora expõe em Madri. Poderia ser considerado quase meio espanhol? JS - Quem sabe? Conheci a Espanha nos anos 70, vinha da Itália de barco. Passei por Ibiza e Barcelona. Fiquei impressionado com a alegria das pessoas e sozinho, num hotel barato das Ramblas, surgiu a idéia de fazer quadros com pratos quebrados, porque fiquei de boca aberta com os mosaicos de Gaudí no Parque Güell. Mas nasci nos Estados Unidos, sou filho de um judeu tcheco e gosto de pensar que a arte rompe fronteiras. Sendo assim, deixo de ser um artista norte-americano ou um artista espanhol e passo a ser somente um artista. Minhas experiências artísticas em diversos países não se sustentam pela nacionalidade. AJ - Filmou as biografias do pintor Jean-Michael Basquiat e do escritor cubano Reinaldo Arenas. Por que tanto interesse pela vida de artistas malditos? JS - Gosto do risco de contar histórias de artistas geniais, originais e marginalizados pela sociedade. E Reinaldo Arena não tem nada a ver com Basquiat, apenas são artistas e personagens reais, porém viveram em mundos completamente diferentes. Dediquei cinco anos de minha vida para colocar nas telas a vida de Arenas. Queria revelar ao mundo o seu talento e sentido de humor. AJ - Antes que Anoiteça foi muito falado, premiado, e tornou Javier Bardem uma estrela internacional. O “lobby” homossexual ajudou muito na divulgação? JS - De certa forma. Eles ficaram muito contentes porque retrato a um homossexual que não cai na caricatura. Estão cansados dos homossexuais sem orgulho nem coragem dos filmes de Hollywood. Reinaldo era alguém com uma grande humanidade. Isto me interessou mais do que fazer outro filme sobre um homossexual. “Antes que Anoiteça” trata na realidade de um ser humano visto com dignidade. Alguém que teve a coragem de atravessar diversas circunstâncias sem render-se. AJ - Declarou algumas vezes que não se interessa por política, mas “Antes que Anoiteça” é um filme bastante político. JS - Não é um dos meus temas favoritos, mas tampouco ignoro o que acontece a minha volta. Não entendo porque existem seres humanos tão negativos, já que formamos parte de um único mundo. Devemos aprender a perdoar e compreender um ao outro. A vida não é justa, porém podemos criar um código de conduta para nós e os demais. Isso ajuda a viver dignamente. Os Estados Unidos, por exemplo, se converteu num país reacionário e nós somos os culpados. É incrível como são incultas as pessoas que dirigem o meu país. Mas toda arte é política, pois transmite uma série de informações e provoca reações. AJ - Muitos criticam sua versatilidade. Não entendem como pinta, dirige filmes, escreve. JS - Sou o mesmo artista quando pinto ou dirijo um filme, a mesma pessoa utilizando diferentes partes do cérebro. Não compreendo como as pessoas acham estranho fazer mais de uma coisa de uma só vez. Um filme tem uma narrativa, uma história; um quadro abriga os demônios do seu autor. Eu acho que um filme, um quadro, ou um texto podem muito bem se relacionar entre eles. Pintar e escrever são trabalhos solitários, já dirigir um filme é uma questão de colaboração, de equipe. Gosto das três opções, e creio que todo esse processo artístico me ajuda, me faz sentir vivo. AJ - A exposição no Palácio de Velázquez exibe os seus últimos seis anos como pintor… JS - Ela estava em Frankfurt e agora em Madri. É um velho projeto. Eu queria muito mostrar o meu trabalho para uma geração de jovens espanhóis que não conhecem minhas obras. Minha ultima grande exposição em Espanha, “Reconocimientos”, foi no final dos anos 80, no Convento Cuartel del Carmen de Sevilla, um espaço abandonado preparado para a ocasião. É uma das minhas favoritas. Sou um grande privilegiado porque a minha obra vem sendo reconhecida em muitos lugares, e sem que eu perca minha meta, minhas convicções. Nunca pintei por dinheiro, nunca fiz uma obra pensando que ficaria bem na parede de alguém. AJ - O que representa a pintura para você? JS - É algo mágico, libertador, porque as normas que regem o que acontece no mundo da pintura não são as mesmas que regem o mundo real. Na pintura não se tem limites, é algo incomum. É maravilhoso admirar uma obra e se sentir bem. Eu gosto de ficar em casa pintando ou tentando pintar. Me aborrece um pouco a vida cotidiana, e a arte me liberta das limitações do cotidiano. No mundo da arte tenho também uma certa responsabilidade com os jovens artistas que gostam de minha obra, não poderia mentir para eles. Portanto, pinto sempre o que sinto e tenho vontade. O que para muitos constitui uma ameaça, já que não aceitam inovações. AJ - Diz que gosta de ficar em casa, pintando, mas como, se é conhecido também por sua intensa vida social? JS - Não é verdade. Saio pouco, porém basta sair um dia para que montes de fotografias sejam tiradas, enchendo páginas de revistas. Então todo mundo pensa que vivo de festa em festa. Além disso, tenho muitos amigos famosos, que conheci através de minha obra, e basta um encontro com um deles para provocar resenhas na mídia. AJ - Fale de Sean Penn e Johnny Depp, que trabalharam de graça para você em Antes que Anoiteça? JS - E também Al Pacino, Robert de Niro, David Bowie ou Christopher Walken. Mas não me importa a fama. A única vantagem de ser uma celebridade é conseguir uma boa mesa nos restaurantes. Sou apenas um personagem singular, um tipo fora do sistema que conta com o apoio e a generosidade de muitas estrelas. Vivo dentro do mundinho dos famosos há décadas e conheço suas conseqüências. Fui muito amigo de Andy Warhol. Para mim é um dos principais artistas do século 20. Ele estava muito além de seu tempo. AJ - Qual o seu próximo projeto cinematográfico? JS - Chama-se “The Butterfly”. Falo de um homem que sofre uma enfermidade e entra em coma, quando desperta está imobilizado e só pode abrir e fechar um olho. Aprende a se comunicar com esse olho e, dessa forma, é capaz de escrever um livro. É uma história sobre a iluminação e a consciência pessoal. Quantas vezes estamos com o corpo perfeito e não apreciamos, e até nos queixamos? Quase sempre. Antonio Júnior (Brasil, 1970). Escritor. Autor de livros como O aprendiz do amor (1993), Caprichos (1998) e Artepalavra - Conversas no velho mundo (2003). A série de entrevistas que vem realizado com distintos nomes da arte e da cultura em todo o mundo encontra-se em El Gitano (www.elgitano.blig.ig.com.br). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Julian Schnabel (Estados Unidos). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Lucia Vasconcelos: Lisboa - a felicidade estranha da princesa Teresa Martins Marques . E tu, nobre Lisboa que no Mundo Facilmente das Outras és Princesa… Luís de Camões, Os Lusíadas O sugestivo título Lisboa - a Felicidade Estranha da Princesa (2003) pertence ao álbum de fotografia e textos, publicado em co-autoria por Lucia Vasconcelos [1] e Francisco José Craveiro de Carvalho, [2] assinando a primeira as fotos e o segundo o texto. O título é uma escolha da responsabilidade da fotógrafa, a partir de um poema de Francisco Craveiro, intitulado «Girassol», que integra o livro Mais do que isto & uma Fotografia (2002), [3] sendo esta fotografia assinada também por Lucia Vasconcelos. Na China, o girassol é considerado tradicionalmente um símbolo de imortalidade, dada a sua característica heliotrópica e a própria forma da flor que “imita” o sol. Assim com o tropismo da memória em direcção à solaridade, à luz da consciência, à preservação do vivido, enquanto função vital do espírito, enquanto princípio identitário. A cidade de Lisboa, enquanto espaço físico, mas também de experienciação, tornase espaço metonímico do sujeito, espaço de capital importância à procura do tempo encontrado na luz e na sombra. O epíteto de princesa, atribuído a Lisboa, tem larga tradição literária, nomeadamente em Camões, citado em epígrafe. A princesa simboliza a promessa dum poder supremo, a primazia entre os pares. Mas simboliza também virtudes em estado adolescente, que sugerem incompletude. Virtudes ainda não dominadas, não exercidas. A princesa é mais a heroína do que a sábia, o que não deixa de tornar interessante a leitura do qualificativo de estranhamento, logo a partir do título em correlação com o tópico da felicidade. O título descreve desde logo um círculo hermenêutico de compreensão ligando o início com o fim, colocando o poema-chave do título no final do livro, em associação de imagem com a escultura de Fernanda Fragateiro – a girafa ao espelho (Parque das Nações). O que não deixa de ser curioso, pois, a princesa Lisboa é dada, deste modo, por interposta girafa, em sugestão vaidosamente narcisista, até um pouco autista, por virar as costas a quem passa, o que não deixa de ser um olhar crítico, deste lado do espelho. Diálogo promissor, inscrito neste interessante título, a que voltarei mais adiante. Lisboa é uma princesa vestida a branco e negro, como a fotografia do século passado, ou como o desenho do olhar de Lucia, uma fotógrafa que não usa máquinas digitais, não usa flash e assume o risco do negativo integral. A historiadora de arte Ruth Rosengarten refere-se à circunspecção que se tem tornado como uma espécie de assinatura da fotografia de Lucia, que pertence aos género de fotógrafos que mantêm as distâncias, sendo isso evidente não apenas no enquadramento e nos pontos de vista escolhidos, como também na escrupulosa insistência em usar o negativo integral, que faz prova material da distância mantida. Com efeito, o negativo integral tem de ter, à partida, delimitado o próprio fim, isto é, a mensagem tem de ficar, desde logo, esteticamente correcta. Lucia controla todo o processo da fotografia revelando ela própria os seus filmes. Esta fotógrafa não pretende fazer “postais” e o branco e o negro são as cores da essência do que quer transmitir. Para ela, a fotografia é uma necessidade vital e não se imagina a viver sem conseguir fotografar. Considera-a como um desafio à morte dos seres e das coisas, na medida em que faz durar o que por natureza é efémero. Assume este livro sobre Lisboa como uma recuperação da cidade, dos cheiros da infância, do bulício ou da calma das ruas, dos cantos e recantos da memória. As imagens vivem da sombra e da luz e a fotógrafa faz a captura do instante fugidio do presente, “le moment décisif “ como disse Cartier-Bresson. Fotografar é fazer a iluminação do instante, enquadrar esse instante decisivo e pintálo com luz. Captação do presente, que, porque logo passa, não passa de mera abstracção, como escreveu Martin Walser: “ Enquanto alguma coisa existe, ela não é ainda o que um dia terá sido. Quando alguma coisa já passou, já não somos aquele a quem ela aconteceu.” Diz ainda Ruth Rosengarten: “Não é novidade para ninguém que as fotografias mentem tanto quanto dizem a verdade. Qualquer enquadramento, qualquer escolha de ponto de vista, qualquer decisão acerca da abertura do diafragma ou da velocidade é, simultaneamente, um acto de omissão, de exclusão. Isto em vez daquilo.” Na mesma linha se inscreve o historiador Luís Farinha, que nos diz sobre a fotografia: “Não podemos ignorar o seu poder de sedução, o fascínio das emoções que transmite e o perigo da verdade que esconde ou da realidade que manipula.” A fotografia, como todos os processos artísticos (ou mesmo críticos) não foge à inevitabilidade da escolha decisiva, por ser ela mesma acto interpretativo do mundo. Manuel Portela, autor do prefácio, intitulado «Fotografar a Escrita da Memória», entende que “deste livro se poderia dizer que é uma autobiografia que tenta fotografar a memória. Não a memória como documento do lugar, nem como nostalgia da experiência passada, mas a memória como processo de subjectivização no intervalo entre o vivido e a consciência do vivido.” Da interacção livro/ leitor, enquanto fotografia dos instantâneos do tempo, dão prova cabal as palavras de Manuel Portela: “Conjuro o dia de ter estado ali quando as imagens latejantes escrevem em mim o ter sido eu. Se o reconstruo assim é para melhor suster a sua chamada”. , Convoquei o autor Francisco Craveiro, para me ajudar a ler o título junto de outros leitores. No verso “ O dia cai com os laços” viu o ele uma alusão inversa da expressão “cai a noite”. É ainda o autor que me esclarece a metaforização do dia, na caixa que se abre, deixando cair os laços. A caixa com laços é uma caixa-presente que se dá e que se recebe. Por outras palavras, dádiva, partilha, momento de festa com o Outro, imagem poética, que é simultaneamente pensamento e sentimento, metonímia do próprio acto da leitura do texto ou das imagens. Antevisão da beleza gloriosa do dia que nasce, a originalidade e melancolia de “cair”, neste contexto, torna-se particularmente evidente, pois que associa, por antecipação, o momento de abertura do girassol no verso seguinte e de cujo heliotropismo tira o autor férteis consequências: “O girassol começa a abrir-se para o dia e, aberto, ele faz parte do esplendor desse dia. Se contagiados por esse esplendor (todos nós experimentamos, uma ou outra vez, momentos perfeitos perante a natureza) nós seremos a princesa da história que acaba sempre por ser muito feliz. Mas a felicidade é estranha, porque se alheia, momentaneamente que seja, a todo o sofrimento, desespero do mundo. Felizmente temos a capacidade do esquecimento.” Observe-se que este esquecimento não é visto como alienação, demissão, evasão, erosão do sujeito face à realidade do mundo. Bem ao contrário, ele é uma espécie de motor de busca da felicidade, que permite ganhar alento para encarar o mundo, o inferno e o inverno dos dias, a chuva e o vento das relações humanas, corroídas pelos desenlaces do tempo. O movimento de abertura heliotrópica do girassol não pode deixar de associar a alusão erotizada de um momento de amor, nos braços da princesa da história, a felicidade do instante para suprir, colmatar, compensar a morrinha dos instantes, que se alongam nos dias. Adquirindo esta princesa, no contexto do álbum, um valor simbólico acrescentado, por se transportar a sua significação para a referencialidade de Lisboa, não deixa ainda de ser deveras interessante a associação que, por essa via, se estabelece feminizando ainda mais a cidade, aumentando o seu potencial de simbolização. Ainda no texto-pórtico Manuel Portela chama a atenção para a “camera lúcida” “do real, onde a história dos lugares e o registo do presente mostram que os objectos têm uma vida própria”. Ou ainda neste outro passo: “Os objectos deixam-se tocar pela luz para revelarem como a sua materialidade se pode inscrever na memória. Os textos reclamamlhes essa materialidade por justaposição de indícios e vestígios”. Desta justaposição constitui flagrante exemplo a associação estabelecida nas pgs. 10/11: nada transmitiria melhor o claro-escuro da flor, a periclitância da vida humana condenada ao perecimento, do que estes versos de Gastão Cruz que Francisco Craveiro seleccionou: “A beleza que deve então/ morrer/ dentro da alegria escolherá/ ruína terra som melancolia” São, pois, como diz ainda Manuel Portela, “ficheiros de memória individual e colectiva que excedem o grão da imagem e o grão da escrita. Instantâneos do tempo, arquitectados para se interromperem mutuamente e para reverberarem para além daquilo que contêm”. No texto que leu no lançamento do livro em Lisboa Francisco Craveiro esclareceu-nos que “os textos que acompanham as fotografias são autobiográficos, alguns num sentido próximo de Novalis quando dizia que, quanto mais poético, mais verdadeiro”. Assim com a primeira viagem a Lisboa, com uns onze anos espantados pela grandiosidade da “catedral dos aviões”, os livros escolares da infância expostos nas montras das livrarias e a imagem contrapontística do miúdo pequeno e do grande pedagogo João de Deus, o poeta que definiu a vida (e que eu tomo a liberdade de parafrasear) como sonho tão leve, nuvem que voa e se desfaz como a neve e que como o fumo se esvai. Vida que dura um momento, mais leve que o pensamento, vida que o vento leva, como uma folha que cai. Do livro, da árvore, da vida. Como a de Manuel Hermínio à transparência da pg. 8: “Foi R. quem me deu a ler uma das suas últimas, se não a última, entrevistas. Guardei o jornal durante meses. Durante anos hei-de lembrar-me da última resposta: Que idade tem? 48 anos.” A subtileza é, sem dúvida, a marca mais evidente desta escrita de Francisco Craveiro, tal como o é também da sua poesia. Com uma fina ironia, dá uma pincelada na frase transformando-a em leveza mordente, densa de sentido. Eis um exemplo, entre muitos possíveis, colhido na p. 26: “Não gosto de livros em segunda mão. Velhos podem ser. No entanto, abeiro-me sempre, curioso, das bancas em pequenos mercados de rua, como neste sábado acidental em que subo a Rua do Carmo. // Dedicatórias, autógrafos são vulgares, relativamente. Mais raros, cartões ou cartas pessoais, dando sinal, tristemente, de possíveis herdeiros apressados.” A memória literária, visível na alusão ou na citação, mostrando, sem ostentação, a riqueza do universo cultural do autor, defendendo a contenção poética (que pratica, como poeta): ”Devo a Sophia a descoberta, há muitos anos, de que grandes poemas se podem escrever com muito poucos versos. Três, quatro, menos até.” Francisco cita o exemplo retirado de Victor Hugo :” L’ombre est noir toujours même tombant des cignes.” Em tradução de Eugénio de Andrade: “É sempre escura a sombra, até mesmo dos cisnes.” e o contraste sombra/luz da imagem contígua, mais que o complemento, é a própria continuidade da ideia que expressa. Como, nas páginas seguintes, o homem que viaja no metro com uma incómoda bagagem desdobra o autor a viajar com um desenho de Catarina Leitão e que constitui um exemplo da saborosa ironia desta escrita: “Ao almoço o desenho não pagou a conta, mas teve direito a mesa e cadeira.”. A realidade e plausibilidades destas imagens desdobram-se pela memória também em nós, leitores, em estranhas situações (lembro-me particularmente de uma inquietante viagem no avião Porto-Lisboa com uma serigrafia de Júlio atravancada à minha frente). E o que é deveras surpreendente neste álbum é a afinidade interpretante que se cria entre o texto e a imagem, constituindo uma realidade de dupla performance criativa, a que apetece neologicamente apelidar textimagem, numa tentativa de dizer a interligação que o nosso olhar estabelece dos dois lados da página. Observem-se, deste ponto de vista, as pp 154/155. Francisco Craveiro começa por fazer uma evocação intratextual relativamente à página 108, sobre um episódio de uma chave partida, que associa as chaves num minuto do Areeiro, presentes na sua memória dos anúncios da infância, lidos n’O Século. Veja-se como é retomada, mais adiante: ”Foi um pouco, um parecido espanto, como a história das chaves num minuto da Fábrica do Areeiro. Devo ter tomado conhecimento desses anúncios por O Século.// Não sei se a expressão é usada ainda hoje ou se é apenas uma memória. Sê-lo-ia no fim dos anos 50 e nos anos 60. Nessa obra que entra por Lisboa dentro, Gaivotas em Terra, David Mourão-Ferreira usou-a como título de uma das novelas.// (e Francisco Craveiro, meticuloso e colaborante com o leitor, indica em nota: Casal Venha Lisboa). Pois, tudo muda. Em vez do enigmático Casal Venha Lisboa queira descansar umas horas temos hoje, nos jornais, as loiras ou morenas esculturais, meigas ou atrevidas, por detrás dum telemóvel.” Neste texto não apenas se faz uma homenagem de dupla direcção (ao escritor-David Mourão-Ferreira e a um livro centrado em Lisboa) como se sugere a mutabilidade do mundo, a evanescência da memória da própria linguagem, e também a falta de subtileza das relações humanas, associando uma ironia fina de perda incomunicante, numa era em que tudo parece telecomunicar (mas havendo pouco a comunicar). A foto escolhida pelos autores para fazer pendant com o texto é, justamente, um par de namorados, que, no Jardim de São Pedro de Alcântara, olham em frente, encostados ao gradeamento. O rapaz está de costas para nós, a rapariga de perfil, mostrando uma massa loira de cabelo e um corpo escultural, em directa consonância com a representação textual. Mas, coincidentemente (e isto os autores não podiam adivinhar), é precisamente o Jardim de São Pedro de Alcântara que David cita amiúde, como local privilegiado de namoro, nos textos inéditos do Diário Íntimo. A homenagem a Lisboa, que este livro representa, vê-se duplicada na citação/alusão a autores que, por sua vez, homenagearam Lisboa. É ainda o caso de José Rodrigues Miguéis, através da convocação dessa extraordinária figura que é Dona Genciana (in Saudades Para a Dona Genciana), em associação à Pastelaria Suíça (também focalizada no conto de Miguéis, intitulado Regresso à Cúpula da Pena). A alusão a Sintra é também a de Eça em Os Maias, através da personagem Cruges, a quem esqueceram as queijadas, transpostas agora para os bolinhos de noz, no texto de Francisco Craveiro, o que potencia o nível de significação do texto, por justaposição translúcida: “Bolinhos desses, nozes era o seu nome, só da Suíça. E lá ia eu, fazendo ao itinerário desvios inconvenientes, a encomenda sempre na cabeça. Nunca havia muitos e havia sempre algum mistério sobre a sua origem: Vêm de Sintra…” Exemplo de flagrante frescura, como a de Dona Genciana na moldura da sua janela, na Avenida Almirante Reis, nos começos da República será a auto-ironia revelada no conjunto das pp.40/ 41: “Desço a avenida, ao escrever lembro-me de D. Genciana embora fosse outra a avenida, e entro na loja dos Museus. As canecas atraem logo a minha atenção. Tenho dezenas. Stewart, há anos, disse-me qualquer coisa como: Há várias explicações para o coleccionismo. Nenhuma é agradável. Mas não hesito.” Também nessa narrativa migueisiana a ironia é uma das chaves interpretativas, até mesmo do ponto de vista extratextual, porquanto Francisco Craveiro sabe que é outra a Avenida, coisa que não sabia o crítico João Gaspar Simões, que interpretou a Avenida de Miguéis como sendo a da Liberdade , o que, aliás, mereceu um remoque ao autor de Páscoa Feliz elogiando, por contraponto, o poeta presencista Carlos Queiroz. Miguéis ficaria satisfeito se soubesse que o poeta Francisco Craveiro também não faz essa confusão. Lisboa - a Felicidade Estranha da Princesa - constrói/cria/inventa beleza sobre imagens reais que, pela inevitável subjectividade da focagem, se tornam simbolizações do próprio pensamento e do sentimento, que por serem realidades estéticas são constructos ficcionalmente dialógicos, intersubjectivos, plasmados numa forma mista de arte, relação sinergética que é imagem com texto e contexto da imagem. Aquilo que designei como textimagem e que será o equivalente ao que Manuel Portela considera como motor poético da obra – “a energia metonímica e metafórica condensada na relação entre as fotos e os textos”. Folheamos este álbum com a sensação de ir à procura do tempo encontrado nas dobras da memória, na espuma dos dias que passam, no aro cintilante da luz de Lisboa, na penumbra discreta do crepúsculo das casas, nos vultos fugidios de sombras, nas ruas estreitas da vida desta cidade. No tópico da felicidade está inscrita também a cidade nem sempre feliz, feita de variações melancólicas, fruto da corrosão do tempo, mas que desenham espirais de superação, construídas com imagens de momentos decisivos, de palavras leves. E, sobretudo, de silêncios densos. É esta a princesa estranha que, nas fulgurações da memória, poderá valer a pena olhar. Para além das textimagens. Para ver o invisível complexo, perplexo, reflexo que só alguns vislumbram. NOTAS 1 Lucia Vasconcelos, nascida em Lisboa, em 1936, filha de mãe polaca e de pai alemão, fez estudos especializados nesta área completando, em 1985, o plano de estudos do AR.CO, em Lisboa, onde foi professora entre 1988 e 1994 e frequentando também cursos de História de Arte, de Literatura e Línguas. Lucia Vasconcelos tem vindo a participar, desde 1982, em diversas exposições individuais e colectivas, em Portugal e no estrangeiro. 2 Francisco José Craveiro de Carvalho, nascido em 1950, é prof. catedrático de Matemática, na Universidade de Coimbra. Desde os anos setenta vem publicando regularmente diversas recolhas poéticas . 3 A colaboração artística entre Lucia Vasconcelos e Francisco Craveiro revela-se também em Da História às Imagens- A Fábrica da Pólvora da Barcarena 2002-2003, onde Lucia se encontra representada, num trabalho fotográfico que implica uma simbolização imaginística da canção de raiz popular «Ich hatt’einen Kameraden» em versão livre de Francisco Craveiro. Segundo aponta Ruth Rosengarten, idêntica fonte foi utilizada por Mahler na quinta canção Der Tambourg’sell (O Rapaz do Tambor) do ciclo das canções Des Knaben Wunderhorn. Teresa Martins Marques (Portugal, 1950). Investigadora literária e professora (Ministério da Educação), é actualmente responsável pela organização do Espólio literário de David Mourão-Ferreira. Autora de livros como O Imaginário de Lisboa na Ficção Narrativa de José Rodrigues Miguéis (1994) e Leituras Poliédricas (2002). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras da artista Lucia Vasconcelos (Portugal). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Música/ciudad: la ecología del sonido Enrique Verástegui . El mundo de la ciudad, lo mismo que el de la música, esta ligado al fenomeno de la cultura que, a traves, de diversos periodos historicos se ha ido conformando una característica especial: la de una respuesta a fenómenos concretos, como puede haber sido la política y la economia, por ejemplo. Si hablamos de cultura lo hacemos en el sentido de cultivo del espíritu, la mente, y el cuerpo, aunque también debemos recordar que hasta hace pocono más allá de 25 años- se hablaba de contracultura, como el hecho que caracterizaba al fenómeno de sensibilidad y de inteligencia que surgia en las ciudades. Por eso, el fenómeno de la contracultura y de una sociología de la música hay que estudiarlo en su contexto pues toda expresión cultural -poesia, narrativa, pintura, teatro, escultura, affiche, cine, música, comix, fotografia, música, happening, danza, arquitectura, entre otros- tiene un contexto socio-historico que la sustenta. En este caso, la música que se hizo en la época de la contracultura, que fue la epoca de la guerra de Vietnam, y por ello, la del surgimiento de una generación pacifista, estuvo directamente ligada a la historia. En el mismo sentido, la música que se hizo en las diversas fases de la civilizacion occidental (me refiero, sobre todo, a Estados Unidos y Europa) estuvo también ligada a los procesos socio-historicos que se vivieron en las diferentes epocas en los cuales estos se produjeron. Así, la Viena de los años veinte, por ejemplo, pudo inventar tanto el positivismo lógico de Carnap y la música de Alban Berg, por ejemplo. Ese refinamiento en el análisis (que, en buena cuenta, seria una de-construccion) de la metafísica sólo podia homologarse con el refinamiento de la música dodecafónica, que encontraria en Shomberg, Alban Berg y Mahler sus maiximos exponentes, sin citar a otros que pertenecieron al mismo circulo. Todo, ciencia y arte, esta relacionado, dice Ilya Prigogine en su libro La nueva alianza, y es bueno que ello suceda asi. Hasta la caída del muro de Berlin, el mundo fue una cosa y, luego de esa caida, el mu do sólo podra ser otra cosa, aunque entretanto los caminos de una nueva utopia (pues finalmente las utopias han sido, en cierta medida, el motor de la historia) se reorganizan en torno a un pensamiento libertario. Si el mundo se ha quedado sin utopias, desde Berlin, lo mismo no ha ocurrido con la música que, sin embargo, necesita también de utopias para sobrevivir. Por otro lado, el lugar natural de expasión de la música ha sido la ciudad, donde, reciclada, ha iluminado las mentes y los corazones de millones de oyentes. Una historia de la música de las decadas recientes no puede hacerse sin recurrir a una historia de las ideologías que estuvieron (y, en las nuevas condiciónes, continuan estando) en pugna, como la ecología, los movimientos espiritualistas, los movimientos feministas, los diversos movimientos artísticos, los movimientos libertarios: habrá que volver a Georges Politzer o, si se prefiere, a Louis Althusser, que se enfrentaron gallardamente a la ideología dominante, pero también habra que reconocer que en las entrañas mismas del capitalismo se genera un arte vital, libertario, universal, y b ello, como el rock and roll. El rock and roll como nueva utopia, entonces. Una utopia que, sin recurrir a la violencia, ha diseñado la sociedad de tal modo que el pacifismo que moviliza a millones de personas en el mundo (o grupos más radicales, como los ecologistas) han llegado al poder, como en Alemania, Austria, y Suecia para precisar el sentido de sociedad en la que queremos vivir: una sociedad humana que respete la naturaleza. El Pentágono acaba de desembalzar un documento en que se afirma que los nuevos enemigos ya no son las guerras convencionales, ni el terrorismo, sino el cambio del medioambiente en el planeta: se combatirá por água y comida, afirman. En esas condiciónes, la percepción de quienes hacen una música New Age se presenta como misteriosamente profética: sólo el Espíritu, como dice el filósofo catalán Eugenio Trías en su libro La edad del espíritu, podrá salvar al mundo. Si quienes hemos tenido una formación musical académica, o clásica, dentro de lo que cabe, no hemos querido alejarnos del mundo para no dejar de gozar la música del rock and roll, también habrá que recordar a los nuevos rockeros que la música de la urbe que primó en los años setenta fue precisamente el rock sinfónico. El que surgió, sin duda alguna, por influencia de Yoko Ono sibre John Lennon y, con esa diversidad de opiniones, dividió a The Beatles, que no pasaban a la amante del beatle asesinado. Sin embargo, no sólo las últimas decadas sino todo el siglo XX ha estado impregnado de nueva música que, década tras década, o período tras período, ha propuesto nuevas formas musicales. Unas formas directamente ligadas a los avances de la tecnología que, desde el lejanísimo fox-trot, que se difundía a través de las vitrolas, hasta el mismo jazz, surgido casi en la misma época, han sido una metáfora de la técnica que, para bien o para mal, ha revolucionado al mundo, entregándonos la realidad de la belleza. Marx tenia razón en sus análisis de la economía del mundo pero no la ha tenido tanta respecto a la cuestión política, como cuando decía que lo que había que hacer era “transformar el mundo”, cuando todos los artistas sabemos que la chispa que impulsa al arte es embellecer el mundo, presentándolo como realidad transformada. Se trata de un asunto del método de la pre-duccion (un método inventado por mi, que lo expongo en mis libros de filosofía El modelo del teorema y Apología pro-totalidad) donde las cosas deben desconstruirse hacía su esencia: la música es un producto del alma que sin el cuerpo no funciona. Sin embargo, no es de mi filosofía de la que hablo sino que, a través de este ensayo, la expongo como um acercamiento a la música que, al final, no sólo ha diseñado los cuerpos (la esbeltez y la lucha contra el colesterol son impensables sin el rock and roll, por ejemplo) sino, también, las ciudades: los grandes rascacielos, que no sólo se ubican en Manhattan sino a lo largo del río Sena en Paris y en todas las grandes ciudades del mundo, como Tokyo y otras. Pero esas ciudades han tenido crecimientos diversos, como las ciudades del Tercer Mundo o, sin ir tan lejos, como la propia Polonia, donde el despoblamiento de los campos desactiva la agricultura, creando corrientes migratorias hacia las ciudades que, tal como han sido diseñadas, ya no abastecen en água y energia a sus pobladores. sólo la música, tal como se ha expandido, parece satisfacer las necesidades espirituales de la población mundial: ahora el rock and roll ya no es norteamericano sino universal, como su imperio, aunque este imperio se encuentra cada vez más problematizado con los nacionalismos y la reivindicación étnica surgidos de la pobreza que conlleva la mundialización de la economía. Habría que preguntarse si el imperio produce el rock, o si, como parece más claro, el rock ha producido el imperio? No lo sabemos, pero lo probable es pensar que el rock es parte indisoluble de nuestra vida y que, sin rock, no sentimos el mundo. No sólo sin rock, tampoco sin cualquier tipo de música que se hace ahora en el mundo podemos pasárnosla tan bien. Sucede que somos producto de una civilización avanzada o, mejor dicho, somos producto de la radio, el televisor, los videos, el cine y, ahora, la Internet: sin la woodman ni la música stereo no somos nadie. Existimos porque escuchamos música: musicalizo, luego existo, diría el estudiante underground que asiste a clase de filosofía en la universidad. Pero lo mismo diría el gerente, la mujer profesional, la ama de casa, el pequeño capitalista. Sin música, y no necesariamente sin rock and roll, porque, por ejemplo, en Perú, los pequeños nuevos capitalistas escuchan músicas híbridas como la “chicha” (que es una mezcla de cumbia colombiana y folklore andino) ya que del fragor de esas ciudades que han recibido a nuevos inmigrantes que han llegado para capitalizarse han surgido esos nuevos tipos de música que, como sucede en Lima, van dejando paso a las netamente folkloricas. Mi visión pasa por Paris y New York pero no puede impedir detenerse en Lima, por ejemplo, ya que siendo peruano que ha recorrido el mundo no puedo olvidar tampoco las diversas experiencias musicales que he vivido a lo largo de mi vida. Al hecho de ser peruano se agrega mi condición de latinoamericano: la música que he escuchado, desde niño, ha sido siempre una música proveniente de todos los lugares del mundo y, por tanto, no sólo soy peruano y latinoamericano sino, también, un hombre formado en las mass media: periódicos, radios, televisión. Si bien es cierto que a los cinco años una prima hermana, que me llevaba muchos años de edad, me hacia bailar rock and roll con Billy Hollyday y sus Cometas también lo es que, andando el tiempo, gustaba de los corridos mexicanos y que, antes de la pubertad, me deleitaba con las rancheras de la revolución mexicana que cantaba Nat King Cole en unas películas donde la voz aterciopelada de este mulato era lo que más me estremecía. La radio, por tanto: ese pequeño aparato donde salían todo tipo de músicas que hacían que mi imaginación vagara por el mundo y que mi sensibilidad se extasiara con el sonido mismo, con la música misma que hacia que mi espíritu se elevara por el cielo. Si hablo del corrido mexicano, igual puedo hablar del tango: ese himno de guerra a los amores perdidos o prohibidos, que ha hecho que lo cantemos: “siglo veinte/porquería”, dice el tango Cambalache pero igual podemos volver con la frente marchita, las nieves del tiempo poblaron mi sien. Cada nuevo gobierno militar que se hace del poder en Argentina prohibe Cambalache precisamente porque es la eterna protesta del pueblo argentino ante el imperio de la barbarie. Ahora sé que el tango no es sólo una música de amores prohibidos sino, también, una danza sensual que permite a los cuerpos expresarse libremente, a pesar de las reglas que lo conforman. Sin embargo, la gran olvidada de los medios de comunicación masiva es Chavela Vargas, esa guatemalteca residente en México cuya voz, que surge de sus entrañas de mujer siempre en busca de marido, constituye una imagen misma de la belleza. La radio y, después, los cassettes y los CD han hecho que escuchemos todo tipo de música en esta aldea globalizada, como la denominó McLuhan. He escrito todo un libro sobre la ciudad, en el que Henri Lefevre sustenta las bases teóricas, pero la música hasta entonces sólo me había servido de soporte para la creación de l proyecto de Etica, en el que, metáfora de los tiempos, me intereso sobre todo por la estructura musical para darle ese sustento que tanto ha seducido a mis lectores en lengua castellana. A los 22 años, en un apartamento de San Isidro, el corazón financiero de Lima, o la Manhattan limeña, salvando las distancias, descubrí la música afro-peruana que interpretaba Nicomedes Santa Cruz, formado en Lima y muerto en Madrid, con esa voz ronca a lo Satchmo que se lamentaba de la triste condición de los negros peruanos pero también de su esperanza (“negro será Presidente”). No lo había escuchado antes porque en casa se hablaba del criollismo, como “música de callejón” -una sola calleja pequeña rodeada de conventículos que no poseian desague pero que tenian un sólo caño de agua, donde vivian los más pobres de la ciudad-, hasta que se produjo la revolución velazquista y la “música de callejón”, igual que el tango que había salido de los burdeles, se posesionó de las estaciones de televisión. El Perú es un país plurilingüe, multirracial y mestizo. Nadie, que yo sepa, hasta los años 60 escuchaba el folklore andino, salvo los campesinos que escuchaban sus huaynos a las 4 de la mañana por radio El Sol en un programa dirigido por Pizarro Cerrón: la música del Ande no se escuchaba en la ciudad, entonces tan pequeña, apenas un millón de habitantes, pero luego de la revolución velazquista, y con el auge de los nuevos medios de información masiva, el folklore andino ha llegado a las pantallas de los televisores. Hoy el Perú está totalmente andinizado pero la música criolla, esa que realizó la gran Chabuca Granda, conserva aun su señorio y su prestigio: esa música expresa al Perú mestizo, el que ha hecho las más grandes realizaciones del espíritu en este lugar del océano pacifico. Ya no existen “callejones de un sólo caño” pero la música criolla se ha expandido a todo el Perú, siendo un signo de elegancia el escucharla, como vivir en los Condominios (espacios arquitectonicos más pequeños que las urbanizaciones pero con todos los avances de la civilización, como una Vanlieuse). La música ha cambiado al Perú, pues, pero igual que el Perú se podría afirmar que la música ha cambiado al mundo: los nuevos espacios arquitectónicos se han hecho en todo el mundo (y cuando digo todo el mundo, me refiero sobre todo a occidente) a ritmo de la música, preferentemente el rock and roll, pero también la música clásica. Sin música clásica no habría conciencia de música, dado que esta contiene todos los elementos que permiten que determinados sonidos sean considerados como música, y estos elementos -al igual que los experimentos en pintura, y las demas artes- han permitido a los arquitectos diseñar un nuevo tipo de ciudad: una ciudad ecológica (o ese es el ideal) donde abunden los parques, jardines y areas verdes, a imagen de una naturaleza tan soñada como deseada. El mundo de la ciudad también es el del comix, al menos del comix tal como lo disfruté en Paris: Metal Hurlant y Ah Nana, donde el mundo del futuro -un futuro que se aparecía deseoso y lleno de imágenes geométricas, como en Escher- estaba a la vuelta de la esquina, con su revolución sexual y las muchachas y los muchachos trenzándose en cada esquina, mientras el ruido del rock and roll apagaba los gemidos del orgasmo. Y es que la ciudad, desde la edad media al renacimiento, y de este al siglo veinte y al siglo veintiuno, ha ido creciendo hasta abarcar todo el planeta. Baste leer las novelas de Asimov para darse cuenta que las ciudades proliferaran en los mundos intergalácticos, donde las mentes seran el campo de batalla de nuevos Harry Sheldon. El filósofo danés Soren Kierkeegaard decia que el poeta es alguien que pronuncia bellas melodías pero con una angustia detrás: cierto, la música es bella pero detrás de la música cuanta angustia, cuanta locura, cuanto deseo no consumado. Sin embargo, la música es una realidad perfecta: más allá de ella, sólo los cielos galácticos, como lo demostró, en estos dos casos, el matemático Pitágoras. Un arquitecto que no escuche música es alguien alejado de la perfección, la que también se plasma en la pintura, que no sólo es una utopia sino también una imagen del porvenir. En el centro Georges Pompidou para las artes observé, más de una vez, extasiado, los planos futuristas de ciudades que había imaginado Malevicht, ese pintor soviético perteneciente a todas las escuelas que tenian que ver con la productividad. La ciudad del futuro se presenta como el futuro de la música: antes lo fue el jazz y ahora lo es la New Age, donde Kitaro, espíritualísimo, fusiona ritmos orientales con quenas andinas. Se trata de formar una nueva conciencia: la lucha por la ecología -mas parques, más areas verdes, más lagos- implica defender al hombre, amenazado por su industria. El hombre por si mismo no se sabe defender y, más bien, se autodestruye pero crea elementos que lo protegen, como las computadoras. Uno de esos elementos de protección con que cuenta el ser humano es la música, siempre que sea música, y no simple ruido, aunque el año 2004 el músico aleman Stockhausen realizó un concierto en que se utilizaron helicópteros, como se vió por la televisión. La música serial ha reciclado la ciudad: todo desperdicio -llámese ruido ambientalsirva para hacer música, y de la buena. Todo esta, pues, en interrelación: la industria contra la que tanto hablamos crea los elementos que, desde el campo del arte, permiten controlarla. La ciudad ha crecido y la música también: hasta las computadoras -me refiero al teclado de las computadorastienen su música, y no faltará el momento en que los robot nos encaminamos a un mundo robotizado- bailen al ritmo del rock and roll, que parece no envejecer, ya que no hay cuadra de la ciudad que no posea sus adolescentes con la guitarra electrica y la bateria funcionando, como un corazón, para crear nuevas canciónes que enamoren a las muchachas. Esas muchachas que son también rockeras, como sus pares, y que hacen al rock más atractivo : en la belleza de esos cuerpos sensuales nos deleitamos y hasta queremos aparearlas. La historia de la música (sobre todo, la del rock) hecha por mujeres está por escribirse: allí está, por ejemplo, Patti Smith, que, desde el punk de fines de los setenta, ha desarrollado una música llena de energia, sensualidad, belleza. Al lado de Patti Smith (o Madona, que eligió un mulato cubano como padre de su pregenie), españolas como Rocio Durcal, esa “gata bajo la lluvia”, Marisol, Rocio Jurado, Paloma San Basilio, o Massiel, esa cantante de la voz perfecta y el cuerpo tan sensual que yo mismo he preparado mis maletas para viajar a España no a conquistar otra cosa sino el cuerpo de Massiel, cuyo “brindaremos por el” realmente me parece fascinante: una vez, al cruzar unas cartas con Roberto Bolaño, este escritor me decía que prefería las cantantes de piernas delgadas, como las inglesas, pero yo le respondia que el cuerpo de Massiel me parecia tan sensual que me gustaría aparearla: en ese cuerpo espléndido, ese rostro bellísimo, y esos gestos elegantes, se materializaba su voz aterciopelada. Sin embargo, de este lado del Atlántico tampoco las mujeres se quedan atrás: desde la Tormenta argentina que cantaba “Adiós chico de mi barrio” hasta la peruana Regina Alcover recuerdan algo que no se debe olvidar: todavía, cuarenta años después de haber surgido como la “música de la nueva ola”, se sigue escuchando esa música de letras bellas como el espíritu, que han forjado hasta tres generaciones de terranautas: al ritmo de esa música, por ejemplo, han crecido las ciudades en Perú, donde las radios continuan pasándolas y donde la gente se continua reuniendo en torno a esos chamanes, que eso son los cantantes de nueva ola, quienes aconsejan sobre lo mejor que se debe hacer en el levantamiento de una nueva urbanización. Esa música de la nueva ola siempre me pareció metafórica y extrañamente erótica, que a mis quince años me seducia con letras tales como “sabor a salado/de mar encrespado” donde, obviamente, el sabor a salado que el cantante solfeaba con fuerza era el sabor de la vulva mojada por la fruición del amor. Los de la nueva ola son una generación que ha dejado hondas huellas en el comportamiento de la gente: allí estan, entre otros, Leonardo Favio, Sandro, Leo Dan, Piero, y Palito Ortega, que hizo una carrera politica extraordinaria en la Argentina. Enrique Guzman, Cesar Costa, lo mismo que el Raphael de “yo soy aquel/que cada noche te persigue”, o el Julio Iglesias de “la vida sigue igual”, lo mismo que el Duo Dinamico (una pizca de flamenco en el rock español lo hace enormemente atractivo) que cantaba “esa mirada tuya, que me turbaba,/esa mirada tuya, maravillosa” siendo poetizadas además por el poeta Felix Grande en Blanco Spirituals, han sido, y son, adalides de una nueva sensibilidad que ha sentado las bases sobre las que se has levantado esa enorme civilización musical donde ahora las guitarras electricas desgarran la atmosfera. Los peruanos, Joe Danova, Jimmy Santi, Cesar Miranda, los Sheins, Cesar Ishikawa y los Doltons, han determinado toda una manera de ver las cosas en Peru y la civilización urbana, aunque andinizada, que ahora impera entre nosotros le debe todo a este casi inmenso grupo de cantantes que una música casi espíritual y con unas letras hermosas han guidado el modo de ser de los peruanos. La ciudad se ha levantado, pues, a ritmo de la música y la música ha sido hecha para levantar la ciudad. Gerardo Manuel, caballero del rock que mantiene vivo el culto por The Beatles, y Daniel F, exponente del rock del siglo XXI, se dan la mano en Peru, donde todas las mezclas son posibles. La fusión rock/folklore andino fue hecha por el grupo El Polen y su canción “Walicha” ha quedado como un himno de combate, exactamente como el Desiderata que interpretaba Manolo Galvan en la canción hablada. Una noche en un pub miraflorino alguien me presenta a Miki Gonzalez, español nacionalizado peruano, que hace un extraordinaria música fusión de muchas cosas, y estoy seguro que se da la mano con el también mitico Andres Soto, sociólogo, compositor de música afro-peruana y de El Tamalito, que cantan Cecilia Barraza, Eva Ayllon, y Susana Baca, ganadora del Grammy latino. Augugusto Polo Campos, cuando canta sus valses criollos, dice: “yo soy la Guardia nueva”, en referencia a toda la tradición del criollismo peruano, y Eva Ayllon, que tiene una voz potente, canta “que somos amantes,/que lo damos todo a la luz del alba” (vals de Jose Escajadillo). Susana Baca sólo canta música hecha especialmente para poemas y, en México, Tania Libertad, que ha grabado con Serrat, hace otro tanto, aunque me pone celoso cuando canta a duo con Armando Manzanero. Los cantautores, desde Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y la revolución cubana, hacen otro tanto, aunque quizá Atahualpa Yupanqui, que internacionalizó el folklore andino, fue el primer cantautor de estos lados del Atlántico, a quien sigue Mercedes Sosa, Victor Jara, Daniel Vigilietti, Patricio Mans, León Grieco, Zitarrosa, que identificaron vida con ideología para enfrentarse exitosamente a las feroces dictaduras militares del cono sur. Ahora los cantauotres son legión, pero sobre estas bases se ha fundado la ciudad, la que, igual que un tulipan, se eleva hacia el cielo, espléndida y misteriosa. El mundo del rock, que tiene mil y una variantes -no podemos olvidar las baladas de los sesenta y setenta, ni a Estela Rabal (“la casa del sol naciente”) que se sigue presentando en los teatros de Buenos Aires con los exitos de los Cinco Latinos, o a Marta Serra Lima que es “la voz que se transforma en mujer”-. ha hecho posible una civilización más humana, a pesar de las guerras, determinadas sólo por unas cuantas personas, contra las que manifiestan millones de personas en todo el mundo. Pero la música continua y la ciudad crece: más allá de la música no hay nada, sólo un silencio que investigó con fruición John Cage en las muchas piezas musicales que creó y en Silence, ese libro sólo para iniciados. De paso, una canción que hizo furor a comienzos de los setentas, y que fue interpretada por Simon & Garfunkel, se llamó precisamente The sound of silence, después que le dieran un sabor especial a El condor pasa de Daniel Alomias Robles. Pero Silence, y Del lunes en un año, los más importantes libros de John Cage, que ahora en pleno siglo XXI están en boga, marcaron toda una época y los experimentos musicales se suceden dia tras dia: Jaime Oliver, en Perú, hace música de computadoras empleando instrumentos nazca. Arturo Ruiz del Pozo ha realizado conciertos de música serial e instrumentos andinos en Marcahuasi, a varios miles de metros de altura en las cordilleras limeñas, donde se aparecen los OVNIS. La música no sólo ha influido en la expansión de la ciudad sino en todo tipo de creación artística: no hay poema, y cuando digo poema me refiero a esa estructura capaz de contenerlo todo un poema total, donde se ensamblen las formas dramáticas, narrativas, líricas, ensayisticas-, no hay grupo de teatro experimental, no hay nueva película que se precie de serlo, no hay nuevo condominio, que no tenga que ver con las estructuras de sonido y silencio, estudiadas por Cage, Pierre Boulez, Stockhausen, Xenakis, Luigi Nono, y otros, que a su vez han sido influidos por el jazz. El tango suena bellísimo después de Astor Piazzola, y hay que escuchar a Piazzola, quien le ha dado nueva energía al tango y, además, un tono elegante. La ciudad se ha construido sobre la base de la música, que también es silencio, lo que se prueba si se estudia el Carmina Burana de Carl Orff, por ejemplo. En todos los supermercados de la ciudad hay, adosados a las paredes, parlantes desde donde se desprende la música y también los hay en los hospitales. Antes, en el colegio donde estudie, desde algun lugar que siempre supuse era la oficina de los profesores, se escuchaba la música de los Beatles, y The Rolling Stones, y yo me sentía en el centro mismo de la civilización de occidente. Sin embargo, tampoco olvido al oriente: el alemán Lila, un sacerdote de los Hare Krishnas, ha compuesto una sinfonía electrónica titulada Meditación Cósmica. La música electrónica avanza a toda velocidad y, ya en el siglo XXI, nuestra sensibilidad, formada a lo largo de décadas por las diversas líneas musicales que se han desarrollado, se encuentra capacitada para unir computadora, música, y ciudad. Música serial, música aleatoria, música electrónica: tres líneas para definir una sola estructura: la urbe se encuentra globalizada no sólo por la economía, que ese es otro asunto, sino por la tecnología, y eso viene desde McLuhan, que volvió al planeta una aldea global. No obstante, esa utopia negativa de J. G. Ballard, Billenium, donde la ciudad crece hasta ser una inmensa megalopolis que se traslada incluso al espacio, y donde quienes deciden son las agencias inmobiliarias, parece haberse cumplido. Hacia donde nos dirigimos? Si hay algo de conciencia en la pasión musical, esta tendrá que ecologizar la ciudad: más areas verdes, y más lagos, unidos a una economía que permita el funcionamiento de los parados; el funcionamiento artístico, quiero decir. Inmensas migraciones se vienen produciendo en todo el planeta y quien tiene conciencia de esas migraciones es un musico: Jean Michel Jarre, quien no sólo a traves de Equinoccio, sinfonía que me seduce desde mi epoca de Paris, sino también de Oxigeno, El viaje al extremo oriente, y otras sinfonías, ha propuesto unir la televisión para millones de televidentes, aparte del millón de personas que asiste a sus conciertos, y los fuegos artificiales, para generar un nuevo estado de conciencia que no es sólo conciencia social sino también conciencia espiritual. La utopia negativa se transforma, así, en utopia positiva y, en la experiencia de la música de Jean Michel Jarre, encontramos una imagen de nosotros mismos: somos más perfectos porque la música nos ha perfeccionado, haciéndonos fuertes y delicados, bellos y atroces, dulces y ácidos. Una conciencia universal la tiene, por ejemplo, Pink Floyd cuyo The Wall es una flor misma de la mente. Esa misma conciencia la tiene Leonard Cohen, aparte de extraordinario músico, un extraordinario poeta, y un extraordinario novelista. También la tiene Lou Reed: exímio poeta, exímio músico, cuya voz delicadamente marcial se desgarra en cataratas de terciopelo que nos envuelven y nos visten para hacernos más fuertes. También la tiene Chico Buarque de Holanda (“que será, que será,/lo que cantan los poetas más delirantes”, como escuchaba en las radios de Paris de fines de los setentas), otro extraordinario novelista de la lengua brasilera. La música es planetaria y cuanto quisiera yo que las grandes disqueerqs pusieran a la moda en todo el mundo El tamalito de Andres Soto, interpretado por Cecilia Barraza, Eva Ayllon, Susana Baca -a quien conocí cuando, a comienzos de los setentas, cantaba en los bares intelectuales de Lima, y me dedicaba canciones a mi, que gustaba del bossa nova, el jazz y el mambo- y todas las mejores cantantes del mundo: la música de mi país seria conocida y Andres Soto, igual que el Vinicius de Moraes de Garota de Ipanema, sería considerado un gran compositor en las caves intelectuales de Paris, como podría serlo José Escajadillo. Igual que lo estan Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Gal Costa (“ni bien matabas,/ni bien morías”), el poeta Caetano Veloso, que impusieron el bossa nova en el mundo quizá porque Vinicius de Moraes es también un eximio cronista de su lengua que lee al poeta español Garcilazo. Para Navidad, Luisito Aguile, que tiene varias novelas publicadas, me quedó con “ven a mi casa esta navidad”, y es que me suscita emociones nostálgicas por un mundo por venir. En mi país, Mabela Martínez, una disjokey que tiene la mente en claro, dirige un programa que se llama “Sonidos del mundo”, en radio Stereo 100, una radio en FM que pasa continuamente música de los años setenta: Mabela Martínez, que también ha trabajado en Canadá, ha llenado de nuevos sonidos al Peru con una programación que incluye música de los cinco continentes. Esa será la música del porvenir: música de los cinco continentes, grabadas por las grandes disqueras, para disfrute de los melómanos que no sólo quieren escuchar buena música sino también vivir el ambiente en que esta se produce. Vivimos el siglo XXI, la era de la mundialización no sólo de la economía sino de todo tipo de relaciones humanas, y sólo queda pedir que la música se universalice a través de los medios de la “reproductibilidad técnica”, como llamó Walter Benjamin a los avances tecnológicos. En esa música Locomía (“Gorvachov es garantía”) decepciona, a pesar de su coreografia de grandes abanicos pero Roxy Music logra mover las entrañas, hasta que llegó Soda Sterep, Indochina, y los Hombres G cuyo cantante de voz aterciopelada vuelve a poner “Venecia” en nuestras habitaciones. La música ha contribuido, asi, a la universalizacion de la belleza, que es la ciudad: un lugar para la creación de todo tipo de actividad artística y científica. Sin ciudad no hubiera habido música (los chamanes de la tribu hacian sonar sus sonajas para que caiga la lluvia) pero es seguro que sin música no hubiera habido ciudad tal como la conocemos: inmensos rascacielos, aire acondiciónado, grandes ventanales, calefacción. Una música en cierto modo ecológica ha sido la de Bob Dylan, como la de Joan Baez, pero “a mi manera” de Matt Monrro me lanzó a Europa, donde, entre otras cosas, escribi mis libros y fui al cine-club. Tampoco el cine hubiera sido igual sin la música: cada encuadre, cada flashback, cada plano tiene una banda musical que suscita no sólo la atención sino, también, la emocion y el pensamiento. Todo esta relacionado y, en esa relación: música/ciudad, hemos hallado un destino que vamos a legar a nuestros hijos. La música italiana lo dice bastante claro: el Volare de Domenico Modugno, bien pueden repetirlo Rita Pavone, o Angela Carra. Al descubrir la música afro-peruana descubri también la canción francesa: desde Edith Piaf, pasando por Gilbert Becaud hasta la actualísima Nana Mouskouri. El mundo de la música es tan importante que el matemático Pitágoras estudio su escala, y Jean Jacques Rousseau, el mayor de los estilistas franceses, lo mismo que Federico Nietzche, otro de los grandes estilistas del idioma aleman (así se considera el filósofo en Ecce Homo, su ultimo libro antes de caer en la locura), escribieron música. Así yo, guiándome también por Nietzche, escribí no hace mucho una opera New Age titulada Andrómeda, que, en realidad, son diez canciones, que buscan una disquera para que alguien -ese alguien debe amar la paz, la vida, la belleza, y el conocimientolas interprete: una manera de contribuir al sentido de la lucha por un mundo mejor, un porvenir ecológico, y una ciudad sensibilizada respecto de todo lo humano. El grupo sueco Abba tiene una canción que sintetiza muy bien el espíritu de este ensayo: “Gracias por la música”. El mundo de la música es un producto genético y la ciudad también: interrelacionadas, no queda sino celebrar el paisaje musical que ha determinado nuestro destino. Enrique Verástegui (Peru, 1950). Poeta e ensaísta. Autor de livros como Terceto de Lima (1992), Apología pro totalidad: ensayo sobre Stephen Hawkings (2001) e Teorema de Yu (2004). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Remedios Varo: pintora mágica de lo surreal Carolina Moroder . Una de las voces más poderosas del arte latinoamericano, Remedios Varo, tiene una obra que abarca tanto su país natal, España, como su país adoptivo, México, en una simbiosis tan surrealista como su propia vida. Su fascinación por la alquimia, por lo oculto, por el medioevo y por las ciencias en general, está siempre presente en su pintura y su literatura. Existe además una relación entre los libros que leía y cómo éstos influían en la narrativa de sus obras, por ejemplo, al expresar una teoría científica que se estuviera trabajando en ese momento y que ella plasmaba en el lienzo. Su obra -considerada surrealista-es de carácter narrativo, siendo esta característica una de las más atrayentes para el espectador, quien puede imaginarse todo un relato con sólo observar un cuadro. 1. Perfil de una vida María de los Remedios Varo y Uranga nació el 16 de diciembre de 1908 en Anglés, un pueblo al norte de Barcelona. Su padre, Rodrigo Varo y Zejalbo, era ingeniero hidráulico, mientras su madre, de origen vasco, Ignacia Uranga y Bergareche, era una mujer de su época, dedicada a la familia y a Dios. El trabajo del padre los llevaría a viajar por toda España e incluso al norte de África, por lo que Remedios entra en contacto desde muy pequeña con otros mundos y otros paisajes. De esto dice Edouard Jaguer: “Toda la infancia de Remedios transcurrió en peregrinaciones terrestres y marítimas.” Y añade que “en los cuadros de Remedios circulan, por montes y valles, los vehículos más extravagantes que puedan imaginarse; y, de la bruma ligera a la ola impetuosa, el agua desempeña en ella un papel primordial. El agua, ese elemento cuyos caprichos domó antaño el padre de Remedios con el auxilio de mil complejas maquinarias”. En este contexto, es necesario hablar de sus padres, puesto que la influencia de ambos será decisiva en su desarrollo como artista y mujer moderna. La madre era una ferviente católica, quien inculcó a su hija a ser una mujer digna de Dios y a temerle al demonio. Su padre, en cambio, era un librepensador, ateísta, muy moderno para su época, quien hasta aprendió a hablar esperanto. Le inculcó a su hija respeto por la razón, el amor a la ciencia y le enseñó desde muy pequeña cómo hacer una perspectiva perfecta. De estas dos fuertes influencias el escritor Peter Engel dice que “Remedios Varo vivió, como murió, suspendida entre dos mundos...luchando por reconciliar lo mítico con lo científico, lo sagrado con lo profano”. Fue así como su madre la dejó interna en un colegio de monjas, de cuya experiencia dejó Remedios tres cuadros (que ella consideraba como un tríptico) una de sus obras autobiográficas más interesantes: “Hacia la torre”, “Bordando el manto terrestre” y “La huída”. En el primer cuadro de la serie (“Hacia la Torre”) un grupo de jóvenes idénticas (todas su autorretrato), uniformadas de azul oscuro, van en bicicleta detrás de la madre superiora, una mujer de cara aburrida y severa. Se las ve saliendo de una torre que parece una colmena, ya que todas las habitaciones son rombos de igual proporción, aparte de uno más grande, que parece el símbolo de una capilla, superior a todos los otros espacios. También aparece un hombre de aspecto sombrío, su perfil es Remedios de adulta, con una nariz protuberante, (la que aparece en otras de sus obras, llenas de humor) y de cuyo saco en la espalda salen pájaros que parecen acordonar esta femenina procesión. El ambiente es lúgubre, el cielo es oscuro, los árboles están desnudos, da la impresión de que hace frío, el pavimento •de baldosas iguales• es monótono. En este lienzo de aspecto tenebroso, hay un hálito de luz: una de estas niñas idénticas resiste la hipnosis del ambiente y desafía mirando directamente al observador. Los medios de locomoción creados a partir de la ropa de quien las usa, es otro tema que se ve constantemente en la obra de Varo, como una nota humorística, vagamente basados en los instrumentos y maquinarias que probablemente vio construir o trabajar a su padre. 2. Exploración de las fuentes del río Orinoco El segundo cuadro, “Bordando el manto terrestre”, muestra otra parte de su estadía en el convento: las largas y tediosas horas frente a un bordado, mientras alguien les lee. En su eterna ironía y su sentido de la metafísica, Varo hace que de las manos de estas niñas prisioneras salga un manto que es el mundo, un paisaje con torres, lagos, árboles y barcos. La historiadora de arte Janet Kaplan, quien ha escrito la biografía más completa sobre la pintora, describe esta obra en los siguientes términos: “Las mismas niñas, aquí cautivas en una torre, trabajan como en un scriptorium medieval, bordando el manto terrestre de acuerdo a los dictados de una “Gran Maestra”. Esta figura encapuchada lee el catecismo de instrucciones mientras revuelve un caldo en ebullición en la misma vasija alquímica de donde las niñas sacan el hilo de bordar. Cada niña trabaja sola, bordando imágenes hacia una tela continua que sale de los bastidores por una ranura hacia los costados de la torre”. Detrás de esta “Gran Maestra” hay un personaje totalmente cubierto, a la usanza islámica, tocando una flauta. Nuevamente, una de las niñas se rebelará a esta situación y en un rincón del manto, el más cercano a la figura de la izquierda, se ve que ha bordado su imagen junto a un hombre, besándose, libre. La pareja está recién saliendo del bastidor, por lo que están de cabeza, aunque también puede ser una forma de burlar a las guardianas. Este cuadro es también una metáfora a la mujercreadora, a la engendradora de vida, a la que crea el mundo con sus manos. De esta obra dice Peter Engel que “El proceso de creación artística y científica en el trabajo de Varo, está relacionado a la creación ritual del mundo, un acto poderoso y simbólico, en el cual los personajes toman el destino en sus manos mientras simultáneamente afirman la omnipotencia del ser que lo creó”. La tercera y última fase del tríptico es “La huída”, la que muestra el éxito que tiene la niña rebelde al huir con su amante. Ambos se ven escapando en otro aparato de la imaginación de Varo: una especie de paraguas hecho de piel, montados en la bruma de la montaña a la que ascienden, las capas de sus trajes sirviendo de velas, empujados por el viento. La niña sigue vestida de colegiala, pero esta vez mira atentamente hacia adelante, a su futuro, a lo que la espera. En relación a estos modos de propulsión, dice Jaguer: “Ruedas, velas, hélices, timones: todo un arsenal de mecánicas irracionales se des-pliega ante nuestros ojos, un arsenal equipado para todas las errancias”. Y Engel dice que los personajes de Varo son “’aventureros que viajan a través de bosques y campos, por encima de las nubes, sobre ríos y calles de ciudades abandonadas o desiertas -casi siempre solitarios, de ojos almendrados y rasgos andróginos”, autobiográficos. Son movidos por los aparatos más extraños, llenos de poleas y palancas, alas y ruedas, vehículos “científicos en apariencia, pero de operación mágica”. Se mueven con la energía sacada del polvo de estrellas, de la música, de los rayos de sol o del éter celestial. Todos estos fenómenos son también sacados de las ideas de la alquimia, de la metafísica y de la magia de la imaginación. Luego de esta nefasta experiencia con el mundo materno de conventos, Dios y sus exigencias, el padre entra a tomar decisiones y cuando Remedios tiene quince años decide enviarla a la Escuela de San Fernando en Madrid, la más prestigiosa escuela de arte de la época. Esta decisión va en contra de los preceptos de lo que una señorita de su edad debía hacer, pero el padre está decidido a darle la oportunidad de una educación sólida en un área donde ella ha demostrado talento. Estos años de formación artística estarán siempre con ella y mostrará los frutos del arduo estudio a que eran sometidos los estudiantes, una vez que descubre su propia voz y crea su obra más madura. A los veintiún años, se casa con Fernando Lizarraga, un compañero en la Escuela San Fernando y sa van a París por un año. Este viaje será decisivo en la vida de Varo, ya que mantendrá siempre una estrecha relación con Francia. Cuando se mudan a Barcelona, la entonces capital española de la vanguardia artística, parece una transición natural, puesto que esta región es la más cercana desde todo punto de vista al país vecino. Tanto en París como en Barcelona, Remedios entra en contacto con las vanguardias artísticas del momento, más específicamente, con el surrealismo. Una vez en Barcelona, se une al movimiento “logicófobo”, de tendencias surrealistas, junto a Esteban Francés, quien se convierte en su amante. Aunque sigue casada con Lizarraga y aún vive con él, mantiene una relación con ambos hombres sin que existieran problemas entre ellos. Al parecer, esta situación se suscitará en la vida de Varo en diversas oportunidades y, curiosamente, no parece que hubo mayores conflictos entre los hombres involucrados. Es más, a lo largo de su vida mantiene una estrecha relación de amistad con todos sus amantes, mucho tiempo después de haber terminado su relación amorosa con ellos. En el caso de Lizarraga, el matrimonio dura cinco o seis años y luego se separan, pero cuando él se va a México, retoman su amistad y ella le deja en herencia un apartamento en donde vivirá hasta su muerte. Varo vive la etapa de la República y parece ser una exponente de todos sus ideales: una mujer que logra estudiar, es libre de cuerpo y mente, está involucrada en política, en toma de decisiones, es vanguardista y tiene una posición más bien universal y europea ante la política. Cuando estalla la Guerra Civil, se encuentra con el poeta surrealista francés Benjamin Péret, quien fue a pelear al lado de la República, y juntos se van a París. 3. El surrealismo y su influencia en Remedios Varo El surrealismo es un movimiento artístico que comienza después de la Primera Guerra Mundial con los poetas franceses André Breton, Benjamin Péret, Louis Aragon y Paul Eluard, basado en los trabajos de Rimbaud, Lautréamont y Apollinaire. Su meta era expresar el pensamiento más puro, libre de los controles impuestos por la razón y por los prejuicios sociales y morales imperantes en la época (Waldberg). Aunque comenzó siendo un movimiento literario de poetas, pronto hizo sentir su influencia sobre todas las formas artísticas. Los trabajos de Freud, primero, y de Jung, después, tuvieron una fuerte influencia en los planteamientos de este movimiento, ya que el poder de los sueños y del inconsciente, así como la rebelión, formaron parte de su filosofía. “La originalidad del surrealismo”, dice Patrick Waldberg, “y lo que la distingue de otros movimientos artísticos y literarios que lo precedieron (con la excepción de algunas fases del romanticismo alemán) es su determinación de minimizar la fragmentación del consciente y llegar a la totalidad del ser humano”. Es curioso apreciar que tanto el surrealismo como el romanticismo fueron movimientos universales (a diferencia, por ejemplo, del expresionismo que fue básicamente alemán o el futurismo, que se dió en Italia). “En su oposición a la espiritualidad de la iglesia cristiana, así como al cartesianismo (el que, de acuerdo con su teoría, paraliza el pensamiento occidental), el surrealismo rehabilita la superstición y la magia, mientras se vuelca hacia las tradiciones herméticas (Cábala, gnosticismo, alquimia), las cuales se basan en el ejercicio de un pensamiento análogo” (Waldberg). Remedios Varo estaba en un ambiente en donde se respiraba el surrealismo, como la alternativa más moderna al cambio, y su propia vida tenía características de éste. Aún antes de entrar en contacto directo con los miembros del grupo, ya era una exponente del movimiento, según se sabe por las obras que presentó en exposiciones en esa época. 4. Mujeres en el movimiento surrealista Se debe hacer un aparte en este tema, puesto que en la mayoría de los libros sobre el surrealismo existe un gran vacío cuando se trata de hablar de las surrealistas. Según algunos textos, estas mujeres sólo existieron como musas, amantes, compañeras de los “verdaderos” artistas. En Surrealist Women. An International Anthology, de Penelope Rosemont, se muestra la falacia de esta percepción, al presentar a unas cien representantes de esta filosofía, desde los principios del movimiento hasta hoy en día, abarcando casi todos los contintentes. Esta es una época que fue testigo de cambios sociales profundos, como el socialismo y el feminismo. Creo que este movimiento fue el primero en el que la mujer estuvo al lado del hombre no sólo como compañera sino que fue su igual a nivel intelectual y creativo. Ha sido después, cuando los críticos e investigadores han escrito la historia, que las mujeres fueron puestas a un lado, pero no durante el movimiento en sí. No me cabe duda que habrá habido un patriarcado dentro del grupo y la misma Varo reconoce que en su juventud “Mi posición era la de una oyente tímida y humilde. No tenía ni la edad ni la confianza necesarias para enfrentarlos. Sólo me sentaba, boquiabierta, ante este grupo de gente brillante” (Kaplan). Hay que recordar que la pintora contaba entonces con unos 29 años mientras Péret y Breton tenían alrededor de 40, aparte de que Breton deseaba conscientemente mantener este ambiente de intimidación hacia los demás. Fue en esta época que Remedios entra de lleno al surrealismo en su parte intelectual, se empapa de teorías científicas, de alquimia y todos los preceptos que este movimiento estudió. Participa también de las nuevas técnicas que crean los surrealistas, como los cadavres exquis, (juegos plásticos en que varios artistas iban haciendo una parte del dibujo, sin saber lo que hacían los demás) y el frottage. A pesar de la cercana relación que tuvo con los surrealistas, ella no considera su obra como tal. Dice Engel que “Aunque Varo no se considera [a sí misma] surrealista, su trabajo y el surrealismo comparten muchas cualidades: imágenes fantásticas, ilusión perceptual, humor, una yuxtaposición inusual de objetos ordinarios para crear efectos extraordinarios”. Y añade que “Los surrealistas disfrutaban dándole una expresión libre a la imaginación y a las imágenes de los sueños. Al poner de cabeza las leyes de la razón, esperaban liberar el inconsciente y lo irracional de las restricciones impuestas por el pensamiento consciente”. 5. La Revolución, la guerra y el exilio Al estar involucrada con Péret, huye de la revolución española hacia París, para caer al poco tiempo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que Péret y los surrealistas tenían un pensamiento de izquierda -en un principio se involucraron con los comunistas- por lo que fueron puestos en campos de concentración durante la ocupación nazi. Varo tenía en su contra el ser la compañera de un hombre comunista y el ser española. O la deportaban a España o la llevaban a un campo de concentración. Finalmente, pasa varios meses en un campo de concentración y luego un tiempo largo en Marsella junto a un grupo de surrealistas que esperaban ser transportados a América. Muchos de ellos lograron exiliarse en Estados Unidos, pero otros fueron rechazados por estar más involucrados con el comunismo. Este fue el caso de Péret y por ende de Varo, pero México no tenía las mismas restricciones y fueron aceptados por este país. Después de difíciles trámites para lograr salir de Europa, Varo y Péret se ven finalmente en México, en donde una vida de paz les espera. Aunque es una vida de paz, no es de prosperidad. Varo trabajará haciendo ilustraciones, como decoradora, restaurando objetos precolombinos, siempre en condiciones tan precarias que a veces su alimentación sería una taza de café con leche en todo el día. En el año 1942 Péret y Varo se casan y en 1947 regresan a Francia. Pero Varo ya no siente que pertenece al Viejo Mundo, sino al Nuevo y regresa sola a México, de donde no volverá a salir, convirtiéndose en una gran exponente de la España peregrina. En México forma parte del grupo de exiliados surrealistas, con los que mantiene un estrecho contacto. De estos años es su amistad con la inglesa Leonora Carrington (quien a su vez había sido amante de Max Ernst, por lo que se conocieron en Europa) con quien se consideraba “alma gemela”. Ambas compartían su parte creativa (escribían y pintaban) además de su gusto por las bromas. Se cuenta que en una oportunidad un invitado se acostó a dormir y al despertar descubrió que un mechón de su cabello había sido ultilizado como relleno de una omelette. En 1953 se casa con Walter Gruen, otro exiliado europeo, quien la incentiva a dedicarse por completo a pintar. Gruen tiene éxito a nivel económico y le da la posibilidad de dedicarse por completo a su pasión. Varios críticos comentan que Gruen, como el padre de Remedios, ve el talento que tiene y la apoya para que lo desarrolle. Es en estos años de su período mexicano que la pintora española desarrollará su lenguaje, su voz, y su arte tan característico. Pero serán pocos los años que puede hacerlo. Quedan sólo unas 100 obras de esta etapa productiva, ya que en 1963, Remedios muere de un fulminante ataque al corazón. Hacía sólo un mes había tenido una exitosa exhibición y por fin estaba logrando vender todo lo que pintaba. La crítica y el público la habían descubierto y la aclamaban como a una gran pintora. 6. Narrativa científica o teorías algo demenciales Ver la obra de su etapa madura es fascinante. Cada una es una cápsula, una verdadera narración visual, llena de humor, locura y un sentido metafísico profundo. “Este mundo se halla regido por leyes físicas distintas de las nuestras: en él seres y objetos son presa de curiosos fenómenos de levitación y de atracción... o, como dice Roger Caillois, ‘lo que era sólido se licúa, lo que era líquido se evapora y se ausenta’” (Jaguer). Por ejemplo, “El flautista”. Aquí se observa a un joven que, como el flautista de Hamelín, con su mágico instrumento logra mover piedras que van construyendo un edificio. La autora lo describe así: “El flautista construye esa torre octogonal levantando las piedras con el poder e impulso del sonido de su flauta, las piedras son fósiles. La torre es octogonal para simbolizar (algo vagamente, debo decir) la teoría de las octavas (teoría muy importante en ciertas enseñanzas esotéricas). La mitad de la torre es como transparente y sólo dibujada porque está imaginada por el que la va construyendo” (Varo). En el catálogo “Science in Surrealism. The Art of Remedios Varo”, el historiador en ciencias Peter Engel hace unas relaciones muy curiosas sobre la obra de esta pintora, así como unas observaciones muy interesantes, porque están consideradas desde el punto de vista de las ciencias y no de las artes. Varo en realidad vive siempre entre dos mundos: el mundo del padre y el de la madre, el de la lógica y el de la fe, el de la filosofía y el de la religión. Engel propone que en muchas de sus pinturas, Varo recurre a teorías medievales, porque éste fue el último período histórico en que “lo racional e irracional, lo científico y lo espiritual se mezclaron tan profundamente.” Es el tiempo “en que harmonices mundi, la armonía del mundo, se podía ver en todos los objetos, por muy mundanos que fueran; cuando la ciencia no era considerada antitética a la religión y cuando la diversidad y plenitud de la naturaleza era evidencia no de una lucha por la sobrevivencia pero de una cadena aún más grande, establecida por un Creador benevolente”. Dice Engel que si se ve la obra de Varo bajo esta concepto de un orden universal medieval, “puede entenderse que [ella] trata de restaurar para el mundo moderno, esa armonía, que parece perdida”. En el caso de “Fenómeno de ingravedad”, dice Remedios que “La tierra escapa de su eje y su centro de gravedad, al grandísimo asombro del astrónomo que trata de conservar su equilibrio encontrándose con el pie izquierdo en una dimensión y con el derecho en otra” (Varo). Jaguer comenta que “Aquí lo maravilloso es que procediendo de manera totalmente intuitiva Remedios acierta con la mayor exactitud. “Fenómeno de ingravedad” fue el cuadro escogido por un eminente físico para la cubierta de su tratado sobre la teoría de la relatividad”. Otra de las obras que tiene magia y ese sentido circular, sempiterno de la creación, se da en su “Creación de las aves”. Jaguer expresa que: “El mundo es un prodigio perpetuo, los espejos son nidos y todo se transforma en todo. De paso, Remedios no desdeña evocar los sortilegios ligados a su arte: un pájaro de verdad nace de la conjunción de su imagen y el rayo luminoso de una estrella lejana. Pero este pájaro que crea pájaros es la propia Remedios”. Y Engel cree que: “Su proliferación de imágenes de creación y fertilidad incluyen a la mítica mujer-búho, quien pinta pájaros que cobran vida...A un tiempo mujer, científica y artista, el búho es el arquetipo creador de Varo. Su vasija alquímica recoge gotas de vapor del aire y las distila en la paleta”. 7. Otro lenguaje visual en la obra de Remedios Varo Un ejemplo de la influencia del incosciente en su obra se puede leer en un cuento que creó a partir de un sueño y que luego plasmó en el cuadro “Tejido espacio-tiempo”. Así lo narra en un cuaderno: “Yo había descubierto un importantísimo secreto, algo así como una parte de la “verdad absoluta”. No sé cómo pero personas poderosas y autoridades gobernantes se enteraron que yo poseía ese secreto y lo consideraron peligrosísimo para la sociedad, pues de ser conocido por todo el mundo toda la estructura social funcionando actualmente se vendría abajo. Entonces me capturaron y me condenaron a muerte. El verdugo me llevó a un lugar que parecía como la muralla de una ciudad, de cada lado de la muralla bajaba una pendiente muy inclinada de tierra. El verdugo parecía muy satisfecho, yo sentía un miedo y una angustia muy grandes. Cuando vi que se disponía a decapitarme empecé a llorar y a suplicarle que no me matase, que todavía era pronto para morir y que reflexionase en que yo tenía por delante muchos años de vida. Entonces el verdugo empezó a reírse y a burlarse de mí, me dijo: “¿por qué tienes miedo a la muerte si sabes tanto?, ¡teniendo tanta sabiduría no debías temer a la muerte!” Entonces me di cuenta de repente que lo que él decía era cierto y mi horror era no tanto hacia la muerte sino por haber olvidado hacer algo de suma importancia antes de morir. Le supliqué que me concediese unos momentos más de vida para hacer algo que me permitiese morir tranquila, le expliqué que yo amaba a alguien y que necesitaba tejer sus “destinos” con los míos, pues una vez hecho este tejimiento quedaríamos unidos para la eternidad. El verdugo pareció encontrar muy razonable mi petición y me concedió unos diez minutos más de vida. Entonces yo procedí rápidamente y tejí a mi alrededor (a la manera como van tejidos los cestos y canastos) una especie de jaula de la forma de un huevo enorme (cuatro o cinco veces mayor que yo). El material con que lo tejí eran como cintas que se materializaban en mis manos y que sin ver de dónde venían yo sabía que eran su substancia y la mía. Cuando acabé de tejer esa especie de huevo me sentí tranquila pero seguía llorando, entonces le dije al verdugo que ya podía matarme porque el hombre que yo quería estaba tejido conmigo para toda la eternidad.” (Varo). Este cuadro parece estar basado en un pasaje de una obra de Aldous Huxley, uno de los autores predilectos de la pintora. Ella leía a Ray Bradbury, Isaac Asimov, Fred Hoyle y a Robert Heinlein, de los cuales pudo sacar la idea de “las nociones de la curvatura del espacio y la deshomogeneidad del tiempo” (Engel). Esta obra -de corte medieval- está llena de simbolismo, uno de los cuales es muy científico: la única línea recta del cuadro pasa por el reloj: “el axis de tiempo” (Engel) 8 ¿Es Varo surrealista? A lo largo del artículo he ido explicando las propuestas surrealistas y en cierto modo he dejado establecida la ambigüedad del surrealismo en Remedios Varo. Después de su muerte, el mismo André Breton la consideró como una de las más grandes surrealistas, escribiendo un artículo en una de las revistas del grupo. Pienso que intelectualmente sí es surrealista, sobre todo si se considera el bagaje filosófico requerido para ser parte del movimiento. En lo que no la veo como parte de este grupo es en el sentido de lo onírico, de lo espontáneo. Sus trabajos eran muy cuidadosos, según Kaplan y todos los que la rodearon en su creación, ella planeaba detenidamente sus narraciones pictóricas, a veces hacía un dibujo perfecto de éstas y luego se sentaba frente al lienzo por meses, hasta dejar un trabajo impecable. El concepto surrealista era de crear algo espontáneo, salido del inconsciente, sin barreras de ningún tipo. En ese sentido la encuentro una exponente del arte fantástico y no del surrealismo. El problema de esto es que el término arte fantástico está estigmatizado y se considera de baja calidad. Como una opción se podría usar, tal vez, arte mágico o metafísico. Pienso que su obra se destaca dentro de la historia del arte por varios motivos: la combinación que hace de las ciencias y el arte (en una hermosa armonía), su técnica minuciosa, como de miniaturista y la cualidad narrativa de sus lienzos. A pesar de su muerte prematura y de su carrera relativamente corta, ha quedado en la historia del arte como una de las mayores exponentes del surrealismo. Carolina Moroder (Estados Unidos). Crítica de arte. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras da artista Remedios Varo (Espanha/México). revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Três visões da obra de Adélio Sarro Alberto Beutenmüller . 1. O desenho poético de Sarro O desenho de Sarro possui dois elos: quando é desenho em si mesmo, ele não é mero esboço para a pintura. Ao contrário, tem total autonomia, em relação à pintura, mesmo após a estrutura da linha receber a pele da pintura. Entretanto, o desenho é também o início do pensar lírico ou dramático de qualquer forma que a mente de Sarro venha acolher: o mural, o relevo, a escultura também têm como ponto de partida o desenho. Os desenhos de Sarro são autônomos e têm vida própria. Mesmo quando trabalhava em fazendas, jamais deixou de desenhar, desenhos que guardou ou deu a amigos. Sarro assinala no papel a poética do que sente ao desenhar. O desenho é seu Diário de Bordo, nele todo o seu pensamento e criação estão ali alicerçados. Este Diário de Bordo é sua paisagem interior. E nem sempre há elo de ligação entre o que o desenho determina e o seu tema central. O desenho poderá verter-se em pintura ou não, poderá vir a ser um mural ou permanecerá eternamente como simples narrativa do que seu espírito sentiu naquele instante. Emoções como alegria, melancolia, ansiedade, pressentimento e tranqüilidade estão presentes nos seus desenhos, bem como em quase toda a sua obra. Em Encontros Noturnos – desenho escolhido ao acaso, – há três figuras. Duas estão sentadas em bancos, enquanto a outra rompe a perspectiva na diagonal e deita a cabeça no colo da outra; enquanto a terceira apenas olha. Sarro anotou: desfalecido na noite dorme o cansaço do dia no colo doce do amor, que dá força e alegria para os que amam ou vivem na solidão, beijam na boca da noite, na luz escura da rua, amam nos leitos de pedra mulheres que não são suas. Sonham com os dias que o vento no tempo levou; não lembram mais das horas que o velho relógio marcou, em seus encontros noturnos, sob a luz do luar, contava no universo as estrelas a caminho, perdidas, à deriva, no espaço, sem terem onde morar. É caso raro o desenho ser manifestação poética de um artista. A linha tem sido obra da razão, do controle, da lógica, da precisão e de refinamento. Ou seja, o desenho é obra do racional, mas não na obra de Adélio Sarro. Nela, o desenho surge através de pensamentos poéticos, como o poema inicial do texto acima: “Desfalecido na noite/ dorme o cansaço do dia/ no colo doce do amor”. Desenhar para Sarro é pura poesia. 2. A Estrutura da cor na pintura de Sarro A cor afeta o coração e os olhos – física e metaforicamente – de um modo mais direto do que qualquer outro elemento da pintura. Na sua forma física elementar, a cor é uma sensação produzida nos bastonetes e cones da retina por ondas de luz de distintos comprimentos. No aspecto místico e poético, a cor pode oscilar entre uma palpitante e envolvente sensação de calor e uma fria e revigorante de luz e espaço. Apesar destes conceitos, é quase impossível definir a cor, pois ela carrega mistérios insondáveis. O uso da cor na obra de Sarro demonstra o que se diz acima. Sarro trabalha com tênues azuis transparentes e líricos a dialogar com vermelhos palpitantes, solares, numa luta sem trégua, deixando a emoção do observador entre a poesia lírica das cores tépidas do azul e a dramática das cores fortes do vermelho. Entre tais cores, há uma gama sem fim de amarelos e verdes e lilases, que são produzidos a partir do fundo da tela, em camadas diversas e diversificadas, que vão trazendo a emoção do interior do inconsciente do pintor para o inconsciente do fruidor. A sua pintura é real e onírica a um só tempo. Sua técnica é plena de preciosismos, graças às transparências e às texturas rugosas; se nestas ressalta o drama, nas suas transparências surge o clima lírico e poético. Para obter-se uma cor luminosa é preciso criar-se sombras. É o que faz Sarro com sua poética da cor, ora tensa e dramática, ora lírica e leve, de acordo com a exigência do tema. É preciso perceber que o pintor opera entre o sagrado e o profano. Ora exalta personagens do campo, ora pinta personagens bíblicos. Ao mesmo tempo, tais personagens podem ocupar o espaço de uma tela, ora as personagens podem preencher o espaço de um mural ou vitral. As técnicas do mural foram bem apreendidas pelo pintor brasileiro, já que não ficam a dever aos murais de Portinari ou aos dos mexicanos Orozco, Siqueiros e Rivera quanto à técnica, embora seus temas sejam mais religiosos do que os dos mexicanos, que são mais políticos. Há uma imensidão íntima nas telas de Sarro, que nos conduz ao devaneio. E o devaneio põe o sonhador para fora do mundo, diante de um mundo lírico ou dramático que traz a marca do infinito. 3. O espaço tridimensional na obra de Sarro Os objetos escultóricos de Sarro possuem variantes: esculturas, relevos e painéis. É importante perceber como o artista passa do risco do desenho para a forma tridimensional escultórica, ao criar um novo espaço de fruição. A composição das figuras se transforma e movimenta um espaço próximo de uma ordem quase simétrica na sua organização. Como não usa cor nesses objetos escultóricos, não há como emocionar pelo colorido, mas Sarro consegue criar uma forma cênica dramática, através dos gestos de suas figuras, com seus rostos singelos e uma dinâmica corporal extraordinária. Na escultura as personagens de Sarro ganham força dramática. As mãos e os pés enormes das figuras criam no espaço gestos radiantes e uma dinâmica que, a pintura não pode oferecer. Os relevos de cimento nos dão a idéia de que mesmo com material rústico, Sarro realiza obra lírica e dramática, ao mesmo tempo, como se pode constatar em Felicidade Sonhada ou na Resposta da Vida, que fica no frontispício de sua casa, em São Bernardo do Campo. Os relevos de Sarro mantêm a tradição latino-americana dos grandes muralistas, como Siqueiros, Orozco e Rivera. Sarro, porém, vai mais longe, pois além de terse tornado artista global, realiza um dos monumentos religiosos mais plenos de fé na Basílica de N.S. Aparecida – os Passos da Paixão de Cristo. Há solenidade nessas personagens bíblicas, que exibem toda a sua majestade. E a arquitetura rústica do local, com tijolos à vista, traz mais força à tragédia da Via Sacra. A grandiosidade das esculturas de Sarro é produto da simplicidade de seus temas, sempre a valorizar os mais pobres, os excluídos da sociedade e, para tanto, vê-se o amor que o artista dedica às suas personagens, gente que sofre, mas que não desiste da vida, e que procura na fé e na esperança mitigar esse sofrimento. Podemos dizer que os objetos escultóricos de Sarro seguem a mesma linha de sua pintura, mas que tudo nasce da idéia inicial do desenho, que cria a composição libertária de suas personagens, ora poéticas, ora dramáticas ou ainda trágicas, tal e qual a vida. Alberto Beuttenmüller (Brasil, 1935). Poeta, crítico de arte e ensaísta. Autor de livros como Katatruz (poesia), Volpi, Ianelli e Aldir - Três coloristas e Viagem pela Arte Brasileira. Atualmente, é editor do Jornal da ABCA, Associação Brasileira de Críticos de Arte. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Adélio Sarro (Brasil). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 Vanguardismo, espacio y movimiento en la poesía moderna Juan Calzadilla . Es un hecho que a estas alturas del siglo el vanguardismo no interesa a la literatura en igual media que a las artes plásticas y casi puede decirse que le interesa en poca medida. El tiempo en que estaban al día las innovaciones formales, el espíritu de abstracción, el desbordamiento de la sintaxis, la eliminación de los signos de puntuación, el trastoque del sentido gramatical y la ordenación arbitraria de las palabras en el espacio, se ha alejado considerablemente de las preocupaciones actuales, al punto de que tales conquistas del espíritu moderno apenas si inspiran nostalgia entre los más adictos a la experimentación y las innovaciones digeridas, explotadas e incorporadas al curso de los lenguajes literarios, y en gran parte olvidadas, que parecieran llegar a tener importancia exclusivamente hist6rica o académica, y cuyo radio de motivación se restringe cada vez más a los cultores de una poética estrictamente codificada y críptica. En cuanto al movimiento mismo, su exploración en la modernidad nos conduce necesariamente al futurismo y sobre todo, a su eximio y casi único teórico y ex- ponente, el poeta italiano F. T. Marinetti (1876-1944). El futurismo tiene un perfil más literario y es más cosmopolita que el cubismo, pero no se podría explicar, es cierto, sin el precedente de éste, del cual es como una extensión literaria, y tampoco, por supuesto, sin las vanguardias que le preceden en la bulliciosa escena europea de comienzos del siglo. A la audacia y severidad formal del cubismo, el futurismo añade una preocupación proselitista por lo innovatorio, por los grandes temas del momento, como el movimiento y la velocidad y, más aún, la presencia de la máquina, como divinidad del vértigo multitudinario que caracteriza a la vida moderna. Un auto de carrera es más hermoso que la Victoria de Samotracia: esta frase dicha por Marinetti en uno de sus manifiestos fue muy celebrada en su momento. Pronunciada hoy parecería mera ocurrencia. Pero es así y el futurismo tiene verdadero éxito cuando exalta los valores más optimistas de una época en donde la máquina se erige pronto como símbolo y representación del progreso humano. Su estética pretende pasar por altavoz de las novedades e invenciones tecnológicas incorporadas a la civilización y convertirlas en materia del discurso innovador de poetas y pintores. Pareciera un sin sentido de la pintura postular el movimiento cuando sólo se le puede representar mediante la ilusión de que las cosas se desplazan, es decir mostrando las presuntas fases del movimiento congelado. ¿No es esto lo que siempre hizo y sigue haciendo la pintura bidimensional, y lo que seguramente por mucho tiempo más no dejará de hacer? Es obvio que el movimiento no existe fuera de las cosas que se mueven, y no se tiene éxito en concebirlo porque se le presente simultáneamente desglosado sobre el plano. El tren expreso de los futuristas y el “Desnudo descendiendo una escalera” de Marcel Duchamp son ejemplos típicos de lo que, más que análisis, resulta ser una disección del movimiento. Duchamp no tardará en comprenderlo y se consagrará a la poesía de los objetos. La poesía topología de Marinetti nunca nos llevará a pensar que nutrimos con ella la posibilidad de estar en cada sitio donde lo indican las palabras. Marinetti mismo no escapa a su propia contradicción: el haber sido un gran teórico con un raquítico poder creativo. De allí que deba su celebridad a los manifiestos del futurismo. Sus llamados a la revuelta creativa, de signo subversivo o formal, en cuanto a dar primacía a los móviles y objetos de la civilización industrial, su petición de un nuevo orden gramatical capaz de reflejar las transformaciones de la nueva conciencia, llegan a confundirse con la exaltación del populismo predicado por el fascismo de Mussolini, del cual finalmente el futurismo termina haciéndose su cómplice o por lo menos su adherente, con Marinetti a la cabeza. Pese a ello, en vista de que nuestra época tiende a dar más importancia a lo que se dice sobre el arte que a sus obras mismas, al Ffturismo se le ve históricamente como una etapa vanguardista de la que no es fácil hacer omisión; como uno de los momentos fundamentales en la escalada conocida como la revolución del arte contemporáneo, y en la cual, según se dice, aún vivimos. Tres son los enunciados principales en los que, de acuerdo con Marinetti, descansa la concepción poética del futurismo: Las palabras en libertad; la invención de palabras y el dinamismo plástico. Por las palabras en libertad la poesía va al encuentro de las nuevas realidades, configurando, por vía imaginativa, una antitradición fundada en la expresión de la vida contemporánea y su máximo símbolo, la máquina; por la invención de palabras, la creación se constituye en realidad autónoma. El dinamismo plástico indica que en la poesía las palabras ocupan el lugar de lo que nombran, como si fueran cosas, de manera que el significado pasa antes por la organización plástica de las palabras. Y no es que se subordina a ésta, sino que es concomitante al nuevo sentido aportado por esa organización. El lenguaje se objetiva como si fuera un medio plástico; he allí un elemento común a todos los movimientos poéticos que tienen su primer ancestro en el futurismo, desde los experimentos de los poetas del constructivismo ruso, hasta el concretismo brasileño de los hermanos De Campos, pasando por el letrismo de los años 50 y por el intertextualismo de los experimentalistas de nuevo cuño. En un ámbito radicalmente distinto se sitúan los poetas de visión futurista que exaltan el movimiento y los dones de la vida contemporánea empleando formas gramaticales tradicionales; son los casos de Guillaume Apollinaire (1880l938) y Vladimir Maiacovsky (1893-l 930) en cuyas obras se han visto manifiestos vanguardistas, especialmente en los “Caligramas” de Apollinaire, suerte de poesía figurativo-visual en donde la forma del objeto está representada por la disposición de las palabras en la página. Ambos miran hacia los tiempos nuevos, con la urgencia de no dejar nada de lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos fuera del poema; Maikacovsky hace de la revolución bolchevique pretexto para un largo canto a sí mismo en donde el encabalgamiento de las frases cortas se corresponde con el movimiento que imprime a sus largas enumeraciones. Apollinaire, por su parte, ironiza, como si se tratara de antiguallas, los monumentos artísticos de París y coloca en su lugar atrevidas imágenes. A fin estás cansado de este mundo antiguo Pastora Oh Torre Eiffel el rebaño de los puentes bala esta mañana Estás harta de vivir en la antigüedad griega y romana. Un caso parecido al de Apollinaire es el de Blaise Cendrars (1886-1961), protagonista de una de las más ins6litas y extrañas aventuras que poeta moderno alguno, en plan de viajero, ha llevado a cabo a través del mundo. Una aventura cuyo propósito pareciera haber sido describir de forma poética todos los episodios y detalles, por insignificantes que fueran, vividos diariamente por el poeta a lo largo de excitantes travesías por los más apartados y exóticos lugares de la tierra. Nada más opuesto a este verso de Baudelaire: Los verdaderos viajeros son los que viajan sin viajar que la exaltación del movimiento físico y los placeres visuales y sensoriales a cuyo encuentro va Cendrars en sus incursiones informales a territorios desconocidos o ya conocidos por él, a sabiendas de que el sentimiento experimentado nunca podrá ser sustituido por el sentimiento que se imagina. Baudelaire, como más tarde Pessoa y Lezama, pensaba que la imaginación puede llegar a procurar un sentimiento de la experiencia con la misma intensidad del sentimiento de lo imaginado. Es la misma fórmula que inspiró a André Gide “Los alimentos terrestres”. Cendrars fue entre los poetas marcados por la influencia del Cubismo uno de los más exitosos. Escribe y publica antes de 1916 dos libros memorables para la vanguardia: “Del mundo entero” y “Diez y nueve poemas elásticos”. En el primero encontramos a uno de los poemas más leídos y ”La prosa del transiberiano y la pequeña Juana de Francia”. Se trata de una especie de relato en donde de manera parecida a un guión cinematográfico se mezcla toda clase de recuerdos de viajes con las imágenes relampagueantes que salen al paso durante un fantástico recorrido por todas las estaciones del mundo. El ritmo de la prosa trata de imitar el fragor del tren. Ahora hago correr todos los trenes a todo lo largo de mi vida Madrid-Estocolmo Y perdí todas mis apuestas Sólo queda la Patagonia, la Patagonia, que convenga a mi inmensa tristeza y un viaje por los mares del Sur. Estoy en camino Siempre estuve en camino Estoy en camino con la pequeña Juana de Francia. El tren pega un peligroso salto y vuelve a caer sobre todas sus ruedas. El tren vuelve a caer sobre todas sus ruedas. El tren siempre vuelve a caer sobre todas sus ruedas. No vamos a entrar en las minucias de una descripción de los viajes de Cendrars por todo el mundo ni tampoco en el análisis de su poética. Nos basta con extraer la conclusión de que la modernidad es responsable de una alianza de pintura y poesía de la cual ésta extrajo, como excusa o mérito para oponerse a la tradición, esgrimiendo razones revolucionarias parecidas a las que cambiaron el curso de la pintura contemporánea, un experimentalismo minimalista que alcanzó su edad de oro en la segunda década del siglo XX, pero que aún alienta en el discurso de muchos poetas descontentos de hoy que encuentran que no hay motivos para que las cosas sigan siendo como han sido. Si esa alianza renace por momentos, sin mucha fuerza aquí y allá, si se dio por terminada, es de esperar que su eclipsamiento no sea definitivo. Quizás no están cerradas totalmente las puertas para continuar, cuando pase la marejada del linealismo gregario y del realismo chato impuestos por la T.V., los medios de comunicación y hasta las editoriales, la revolución iniciada por los poetas, cubistas, dadaístas futuristas y constructivistas. Juan Calzadilla (Venezuela, 1931). Poeta, arista plástico, crítico e ensaísta. Autor de livros como Principios de urbanidad (1997), Diario sin sujeto (1999) e Aforemas (2004). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 artista convidado: mario maffioli Mario Maffioli: antropología del sortilégio Otto Apuy . Mario Maffioli entiende la práctica del arte contemporáneo como una reflexión de su entorno; abierta innovadora, mirando al futuro, informada y honesta. Abierta porque transcribe su manera de expresar el mundo con al soltura de los materiales y universalizando su origen (no se olvide que Maffioli viene precedido ya de una generación contemporánea activa, tal vez la más, en la historia del arte costarricense). Innovadora, porque parte de esa misma generación y recibe además otras expectativas del arte contemporáneo latinoamericano. Esto para decir que solo así puede entenderse su “desenfado” en la pintura: atacando teóricamente quizá el acabado comercial de sus propios. Así es el futuro momentáneo de la práctica contemporánea. Yendo hacia adentro de Maffioli, no dejo de pensar que todo su gran exterior y el de los demás, caben en una especie de Universo Antropológico en que la gran premisa está en la búsqueda interna de su identidad, una identidad mayor, total, primigenia del trazo salvaje, al lado del grito originario de la palabra, como lanzas los pinceles que desaparecen ante los montículos de pigmento y tierra que se esparcirán sobre la tela blanca. Este ha sido el destino de los artistas. Esa primaria reflexión de que para partir hay que mirar hacia atrás, aunque fueran remendadas velas. El punto de fusión general del arte contemporáneo aparece como la gran atmósfera de los cuadros, los signos, las huellas, los miedos, lenguas inconclusas y desaparecidas, lecturas olvidadas en urnas funerarias, caligrafía de un cosmos cada vez más inmenso, colisiones mentales de Freud y Marx, de Picasso y Beuys, todo parece una mescolanza categórica ante el devenir. Maffioli no obedece a una medida personal y a una inspiración momentánea, sino a una hecatombe en su cabeza, una atomicidad de información, donde valiente, no hace más que restregar su cuerpo contra una base que asegure su respuesta. Aquí el artista es un filtro de su colectividad, en el que con los medios a su alcance, encuentra en la historia de sus semejantes, el mismo fin: una línea que explica su pregunta aunque sea para más tarde. Cuando se pinta, a veces el autor inconscientemente refleja su estado de ánimo, o su espíritu original. En Maffioli está la selva, la exuberante vegetación, su vocación se hace sensual y oleaginosa, como las vibrantes resinas de una húmeda y extensa corteza donde, zigzagueantes destellos pululan en el plano. Aquí los trazos son manchas despojadas de falsos orgullos y represiones, los destellos son besos olvidados, las formas una poesía grotesca que se vuelca hacia sí misma y se compacta, la luz se encarga que la abstracción no sea literal, que se complemente, que se convierta en el fin, que sea arte, que fuera la conceptualización del sentimiento. Ante lo absurdo de la geometría, una línea curva nace del vértice de un triángulo, enmarcado a la vez por otro cuadrado más grande aún, etc. jabs. Otra obra de Maffioli es el mismo caos complementario, la debacle de ser-suelto y su otro yoyuxtapuesto, explico, por un lado la búsqueda actual es la búsqueda de todos. Es como una épica artística, la Gran Aventura, todos mirando al mismo “demonio”, y otro lado que explica, “son pormenores” que está imbuido de un movimiento en auge. Este es el ring en que se para Mario dando excelentes El ritual del gesto está premeditando la Acción. Mario escucha desde su pecho la calidez del color o la humedad del verde mojado. El cuadro se vuelve el filme donde queda así. El volumen de toda la pintura es el contenido. El cuadro se parece a una pared, el cuadro es su pizarra, pero créanlo o no es el testimonio general –de una pintura ahora- que necesita creerse fiel a sus valores y principios. Para Maffioli el futuro estaré en simples y complicadas líneas que atestiguarán siempre la novedad y no el facilismo pictórico, Por ahora el marco de su pintura es el puente a la actualidad. Y él sabe que está en la “jungla”, y es de éstos valores en que vendrá esgrafiadamente por sus manos, la masa que se hará (como un milagro) tormenta o tempestad. Porque esto pareciera ahora, sin dejar de sospechar que detrás de esta masificación, de esta tempestad, vendrá la calma y se podrá ver que esta obra, una vez superada fue tal inicio, tales momentos pletóricos de creación, de proyección incesante y el artista va tras ello, tras el destello o el sortilegio de una luna elocuente que se mira en el espejo. Mario Maffioli Reyes (San José, Costa Rica, 1960) Estudios 1980/1985 Estudios de Pintura. Escuela de Artes Plásticas. Facultad de Bellas Artes. U.C.R. Principales Exposiciones Individuales 2001 "Conducción" Galería Nacional. Centro Costarricense de Ciencia y Cultura. San José, Costa Rica. 1998 "Pinturas" Galería Nacional. Centro Costarricense de Ciencia y Cultura. San José, Costa Rica. "Maffioli Pinturas" Escuela de Bellas Artes. Universidad de Costa Rica. San JosË, Costa Rica. 1997 "Macrocosmo" Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Centro Nacional de Ciencia y Cultura. San José, Costa Rica. "Materia Prima" Galería Enrique Echandi. Teatro Nacional. San José, Costa Rica. 1995 "Abstracción Naturalista" GANAC. Biblioteca Nacional. San José, Costa Rica. 1993 "Homenaje al Impresionismo" Galería Enrique Echandi. Teatro Nacional. San José, Costa Rica. 1992 "Pinturas" Galería Joaquín García Monge. Teatro Nacional. San José, Costa Rica. Principales exposiciones colectivas 2004 “Las Posibilidades de la Mirada”. Museo de Arte Costarricense. San José, Costa Rica. “Deconstrucciones Pictóricas”. Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. San José. Costa Rica. “Guaterica: artistas costarricenses en Guatemala”. Museo Carlos Mérida. Guatemala. Pyong Taek , Art Hall. Seoul. Korea. 2003 "Viva la Pintura - Bocaracá". Museo Rafael Angel Calderón. San José, Costa Rica 2002 "Wild Galerie, Bocaracá". Alemania. "EX3: Explorar + Explorar + Explorar" Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. San José, Costa Rica. 1999 "Senza Paura" Fluxus Atelier Cultural. Milán , Italia. 1998 "Pintores Contemporáneos de Costa Rica". Teatro Municipal de Pireos. Grecia. 1997 "Ulla & Greger Olsson" Latin American - Collection. Ronneby Kounst Center, Suecia. "V Bienal de Pintura" Museo de Cuenca. Ecuador. "Arte Centroamericano en Taiwan". Sun Yat Sen Memorial. Taipei, Taiwan. 1996 "Bocaracá" Museo de las Casas Reales. Santo Domingo. República Dominicana. "Threshold - Umbral" Anspacher Gallery. Public Theater, New York. Estados Unidos. 1993 "I Bienal Cuencoamericana". Museo La Florida. Santiago, Chile. 1993/1994 Die Expresionistischen Tendenzen, Kunst aus Costa Rica. Sprengel Museum, Hannover, Alemania. "Abstract 2 Abstract" Center for Latinamerican Art. New York. Estados Unidos. 1993 "Latinamerican Contemporary Art" Anthology Films Archives. New York. Estados Unidos. "Bocaracá - Costa Rica". Museo de Arte Moderno. Panamá, Panamá. 1992 "Presencia Gráfica del Grupo Bocaracá en México". Museo de la Estampa". México D.F. Otto Apuy (Costa Rica, 1949). Artista conceptual, escultor y pintor, instalador y ceramista. Integra el consejo de edición de la revista Matérika. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras do artista Mario Maffioli (Costa Rica). retorno à capa desta edição índice geral banda hispânica jornal de poesia revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 livros da agulha 1 100 Poemas Essenciais da Língua Portuguesa (org. Carlos Figueiredo). Editora Leitura. Belo Horizonte. 2004. Há, no Brasil, preconceito contra a poesia? Indícios não faltam, autorizando uma resposta afirmativa. Basta olhar para os currículos de ensino: no exíguo espaço dado à literatura, do ensino médio às pósgraduações, predominam teoria e narrativa em prosa. É claro. Da narrativa em prosa, pode-se fazer resumos, assim obliterando o estilo, as qualidades propriamente poéticas da criação literária, ao reduzi-las ao enredo. Das teorias, fazemse diagramas, projetados nas obras ainda a serem lidas, em um arremedo positivista das ciências exatas. As razões para que isso ocorra são evidentes: preguiça, espírito burocrático, preferência pelas rotinas. Um indício adicional - e paradoxal - da existência desse preconceito é a antologia 100 Poemas Essenciais da Língua Portuguesa (organizada por Carlos Figueiredo, Editora Leitura, Belo Horizonte, 2004) figurar em uma lista de livros mais vendidos nas livrarias da FNAC, em São Paulo. Paradoxal, pelo seguinte: o livro, lançado há meses, é vendido, encontra seus leitores, mas ainda não foi resenhado, comentado, noticiado, discutido. Imprensa e crítica não se deram conta dele. Vende, mas apesar da recepção inexistente. A crítica poderia deter-se em alguns dos temas suscitados por essa antologia. Um deles, sua amplidão, de Dom Sancho e Martin Codax até Hilda Hilst, dentre os já mortos, com acréscimo de duas poetas vivas, Vimala Devi e Ana Paula Tavares. Outro, sua correlata extensão geográfica: centrada em Portugal e no Brasil, além de incluir as nações africanas, vai ate Goa. E, ainda, o modo como combina, com equilíbrio, um repertório-padrão, canônico, a exemplo de Super Flumina e Alma minha... de Camões, Canção do Exílio de Gonçalves Dias e Tabacaria de Fernando Pessoa, com escolhas não tão ortodoxas, que refletem preferências de seu organizador. A façanha de, com cem poemas, fazer um mapeamento tão rico, diversificado e representativo, sustentando a tese de que poesia produz cultura e constitui civilização, além de, por enquanto, não ter sido registrada por comentaristas, ainda não determinou sua adoção didática. Por ora, é abonada apenas pelos leitores, a exemplo de duas outras coletâneas preparadas pelo também poeta Carlos Figueiredo, 100 Discursos Históricos e 100 Discursos Históricos Brasileiros (igualmente pela Editora Leitura), que têm atingido sucessivas reedições. [Claudio Willer] 2 A chuva nos ruídos (antologia poética), de Vera Lúcia de Oliveira. Escrituras Editora. São Paulo. 2004. 160 pgs. Vera Lúcia de Oliveira presenteia os leitores brasileiros com esta antologia de sua obra, que tem sido publicada na Itália. Como a própria autora diz, "escrever em duas línguas não foi uma opção estética, mas uma imposição existencial". Esta brasileira-italiana ou italiana-brasileira mostra uma poesia forte, que marca o leitor num ritmo pulsante, fazendo-o respirar junto com a poesia. Seus versos afirmam-se pela negatividade, gravada pela obsessão do sofrimento, terror da morte. Também reflete o social, o quotidiano, a constatação da miséria e da guerra criminosa. Em sua obra, deparamonos, muitas vezes, com os elementos osso, pele e sangue, o que faz do poema um ser vivo. Na apresentação, Carlos Nejar define bem seu trabalho: "Com fluidez de água austera, pura, sabe capturar, iluminando, os fluxos e refluxos no poço de nossa condição humana". A chuva nos ruídos reúne poemas de cinco livros lançados na Itália em edição bilíngüe, com exceção de dois deles, La guarigione (2000) e Uccelli convulsi (2001), publicados somente em italiano e vencedores de prêmios nacionais de poesia naquele país. Vera Lúcia de Oliveira nasceu em Cândido Mota, em 1958, e residiu na cidade de Assis, no interior de São Paulo, até o ano de 1983, quando passou a viver na Itália. Doutora em Línguas e Literaturas Ibéricas e Iberoamericanas pela Università degli Studi di Palermo (1997), atua como professora de Literaturas Portuguesa e Brasileira na Università degli Studi di Lecce e desenvolve pesquisas na área de literatura, tendo também publicado numerosos trabalhos sobre poetas contemporâneos em revistas brasileiras, portuguesas, espanholas e italianas. Traduzidos e publicados em vários países, seus poemas renderam-lhe muitos prêmios. 3 A noite é dos pássaros, de Nicodemos Sena. Editora CEJUP. Belém, Pará. 2003. 136 págs. Nicodemos Sena, nascido em Santarém, no Pará, em 1958, estreou com um livro-monumento - A espera do nunca mais: uma saga amazônica, romance de 877 páginas (Belém, Editora Cejup, 1999) -, que ganhou em 2000 o Prêmio Lima Barreto/Brasil 500 Anos, da União Brasileira dos Escritores, e já está em segunda edição. Agora, o romancista volta com um livro de menor fôlego, A noite é dos pássaros, igualmente uma extraordinária saga amazônica, a aventura de um naturalista que quase foi devorado por canibais na metade do século XVIII. Para o conhecedor da História luso-brasileira, não é preciso dizer que este livro é inspirado na vida do baiano Alexandre Rodrigues Ferreira, que, nascido em 1756, viajou, aos 14 anos de idade, para Portugal, retornando ao Brasil em 1783 como naturalista formado na Universidade de Coimbra. No Grão Pará e no Mato Grosso, Ferreira esteve por uma década, pesquisando as riquezas naturais do sertão e fazendo anotações de que resultou o livro Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá (Rio de Janeiro, Conselho Federal de Cultura, 1974). Em A noite é dos pássaros, o pesquisador setecentista aparece um pouco disfarçado atrás do nome Alexandre Rodrigo Ferreira, naturalista formado na Academia de Lisboa, que, em 1751, é aprisionado na foz do rio Amazonas por índios tupinambás, canibais famosos no velho mundo pelo modo hospitaleiro com que tratavam os seus prisioneiros, “dando-lhes do bom e do melhor, e de um tudo, para depois devorá-los a cauim pepica”, ou seja, assados e regados com bebida. No cativeiro mantido por um povo ágrafo, Alexandre descobre um livro que foi parar na aldeia depois de um naufrágio. A obra narra uma trajetória semelhante à do cativo, a do alemão Hans Staden, que também fora prisioneiro dos tupinambás numa aldeia em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, no século XVI. Como se vê, a exemplo do que Velázquez fez no seu famoso quadro “Las Meninas”, que faz parte do acervo do Museu do Prado, em Madri, Sena deixa exposto o seu trabalho de artesania. Leva, assim, o leitor a perceber que retirou do livro Duas viagens ao Brasil arrojadas aventuras no século XVI entre os antropófagos do Novo Mundo (São Paulo, 1942), de Hans Staden, boa parte dos elementos que empregou no romance, buscando num relato de um acontecimento que se supõe real o material que empregaria em sua ficção. Muniu-se, portanto, da realidade para mentir melhor, como fazem todos os grandes mestres da ficção. Engana-se, porém, quem imagina que A noite é dos pássaros seja apenas um romance baseado em pesquisas de arquivo, de foro documental. É mais que isso. Tal como fizera em A espera do nunca mais, Sena constrói ainda um instigante ensaio dos costumes dos indígenas brasileiros, sobretudo o canibalismo, que ameaça durante toda a narrativa a vida do jovem prisioneiro. Embora protegido pelo amor de Potira, a filha do cacique da tribo, só ao final da trama, o naturalista escapa da triste sorte que tornou famoso dom Pero Fernandes Sardinha, primeiro bispo do Brasil, devorado pelos índios caetés na costa de Alagoas, ainda no século XVI. Depois de Márcio Souza e Milton Hatoum, a Amazônia volta de novo ao cenário literário com um romancista seguro, que, a exemplo de seu livro de estréia, mostra que sabe como manter o suspense até o último parágrafo, fazendo o leitor viver a situação aflitiva de seu personagem, ao mesmo tempo em que o leva a conhecer o conflito étnico-cultural que se dá entre o europeu civilizado e o homem ainda no estado bruto da natureza. Para alcançar esse objetivo, o autor não hesitou em usar o tupi antigo na fala dos personagens, não por acreditar que se possa voltar ao passado ou por filiar-se a certo nacionalismo xenófobo, como diz, mas por dois justos motivos que expõe em nota ao final do livro: primeiro, por irresistível apelo da própria narrativa e, segundo, “pela grande importância que essa língua apresenta para a cultura brasileira, tendo servido de argamassa para grandes obras de nossa literatura”. Não faz Sena um retorno tardio ao indigenismo de José de Alencar, até porque a linguagem que usa nada tem do derramado estilo oitocentista do autor de Iracema, mas não há como deixar de compará-lo ao indigenismo hispano-americano do paraguaio Augusto Roa Bastos e, principalmente, do peruano José María Arguedas. Se em Arguedas o que se lê é um castelhano tomado pelas características do quechua, em Sena é o português contemporâneo que ganha ritmo e vocabulário do idioma tupi. Como a poeta e escritora Olga Savary já percebera em seu livro de estréia, Sena domina a arte da narrativa, seduzindo o leitor com um estilo impecável, que faz da palavra um espetáculo, tal como a Amazônia com sua exuberante floresta. [Adelto Gonçalves] 4 Brasil e Argentina: um ensaio de história comparada, de Boris Fausto e Fernando J. Devoto. Editora 34. São Paulo. 2004. 574 págs. Para os formuladores da atual política externa do governo brasileiro, o Mercosul desempenha papel-chave para reforçar a integração sul-americana e, dessa maneira, evitar o êxito da estratégia comercial dos EUA no continente. Agem assim não apenas por carregar um viés ideológico esquerdizante, disfarçadamente gramsciano, mas por desconhecimento da própria história do país cujos destinos conduzem. Essa gente, porém, tem agora uma rara oportunidade de superar esse desconhecimento com o livro Brasil e Argentina: um ensaio de história comparada (1850-2002), de Boris Fausto e Fernando J. Devoto, obra conjunta de historiadores dos dois países. De fato, uma leitura atenta dessa obra excepcional mostra que o desenvolvimento do Brasil no último meio século esteve diretamente relacionado com a sua atitude de aproximação com os EUA, ao passo que a decadência da Argentina tem muito a ver com o seu distanciamento em relação à superpotência, o que se deu no curso da Segunda Guerra Mundial e nos anos que se seguiram. Já não estamos no tempo do alinhamento automático, mas se o governo Lula insistir num confronto diplomático com os EUA, procurando emperrar as negociações para a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), pode estar a repetir o erro do goveno argentino nos anos 40 que não só apostou na vitória nazista como fez da Argentina um “santuário” de criminosos da Segunda Guerra Mundial. Se concluírem que a Alca não sairá mesmo do papel, os EUA podem muito bem firmar acordos bilaterais com os demais países sul-americanos, obtendo tarifa zero em produtos similares aos brasileiros, em troca de outras vantagens. A aposta errada da Argentina na década de 40 mostrou-se fatal para as suas pretensões porque o país - “o pior aluno da turma” - foi praticamente excluído do grupo de nações exportadoras que se beneficiaram dos recursos do Plano Marshall. Como observam Fausto e Devoto, em 1949, o valor total das exportações argentinas caiu quase à metade e as importações tiveram de ser reduzidas e, como apenas 30% delas eram de bens de consumo, essa restrição afetou a aquisição de maquinário, equipamentos e matérias-primas necessários para sustentar o crescimento industrial. Conseqüentemente, a produção industrial também despencou. Isso explica porque um intelectual da estirpe de Jorge Luis Borges, que vivera a época do fausto, sempre odiou o peronismo. Perón foi um desastre para a Argentina. Os autores lembram que, enquanto o Brasil de Getúlio Vargas inclinou-se a favor dos EUA em 1941 e declarou-se formalmente em guerra em meados de 1942, depois de um flerte com a Alemanha em que espiões nazistas proliferaram nas cidades litorâneas brasileiras, a Argentina só viria a romper com o Eixo em 1944 e, ainda assim, de forma muito reticente. Ou seja, o Brasil alinhou-se aos Aliados quando o Eixo ainda era vitorioso no terreno militar. E, de certo modo, isso não foi esquecido pelos vitoriosos. Até hoje, as elites argentinas lamentam esse grave erro, o que, inclusive, levou o presidente Menem na década passada a defender “relações carnais” com os EUA, sem que isso tenha adiantado muita coisa. Fazendo um paralelo entre o governo Dutra (1945-1950) e o primeiro governo de Perón (1946-1955), Fausto e Devoto mostram que foram nítidas as diferenças no plano econômico. No Brasil, a política de substituição das importações por meio da oferta de crédito público e do desenvolvimento da indústria de bens de capital, ao lado da alta do preço internacional do café, fez a economia voltar a crescer a partir de 1948, enquanto a Argentina, movida por um sentimento de insatisfação e um desejo de transformações radicais, mergulhava numa curva descendente. O livro de Fausto e Devoto começa o trabalho de comparação entre os dois países fixando um primeiro período entre 1850 e 1900 em que analisam as vicissitudes da construção da República argentina em meio as lutas políticas entre caudilhos de Buenos Aires e das províncias em contraste com o ciclo de fortalecimento do Império brasileiro, uma experiência única na América. O acontecimento marcante desse período foi a Guerra do Paraguai em que o Brasil arcou com o maior custo financeiro e humano, obtendo resultados pífios, embora a expansão territorial tenha sido significativa. Já o período seguinte, de 1900 a 1937, é marcado por um grande desenvolvimento da Argentina, o que levou suas elites até a sonhar com uma possível invasão do Sul do Brasil à época em que o mundo parecia pender para as soluções totalitárias que vinham da Alemanha. Com um PIB per capita que superava largamente o do Brasil, a Argentina da primeira metade do século XX era um país que mais tinha a ver com a Austrália, Canadá ou Nova Zelândia do que com a miséria tropicalista. A expansão de seu comércio exterior foi muito expressiva, especialmente nos anos que antecederam a Primeira Gurrea Mundial. Em 1909, o PIB per capita da Argentina se comparava ao da Alemanha e ao dos Países Baixos e estava à frente de vários países da Europa, como Espanha, Itália, Suíça e Suécia. Mais: a Argentina teve na Inglaterra o principal país destinatário de suas exportações - 29,6% do total, entre 1927 e 1929, vindo a seguir a Alemanha, com 13,5% - e, ao mesmo tempo, sua principal fonte de financiamento e investimentos externos. Já o Brasil teve os EUA como o principal país importador e o maior responsável pelo financiamento e investimentos externos. Sua produção para o mercado externo, ao contrário da Argentina, caracterizava-se essencialmente pela concentração num único produto, o café. Era um país agrário e dependente. O terceiro período, de 1937 a 1968, a fase de maiores tensões entre as duas nações, é marcado pela ascensão de dois governantes populistas, Vargas e Perón, pelas experiências desenvolvimentistas de Juscelino Kubitschek e Arturo Frondizi e pelas crises que permitiram a instalação no poder de ditaduras nos dois países a partir dos anos 60. O último ciclo (1968-2000) detém-se especialmente sobre as presidências de Carlos Menem e Fernando Henrique Cardoso nos anos 90 em que ambos os governos trataram de reformar o Estado pela privatização de empresas públicas, com o objetivo de diminuir as funções de um Estado em crise, incapaz de atender ao conjunto da população. Aqui, segundo os números dos autores, há também uma explicação para boa parte do baixo crescimento argentino no último meio século: a máquina burocrática pesa mais lá do que cá, o que não quer dizer que, no Brasil, não tenha havido empreguismo desenfreado para atender a promessas eleitoreiras de caciques políticos. Talvez por isso o Brasil tenha sido o último país no Cone Sul a optar por uma política de privatizações, inaugurada pelo Chile, o que também pode ser interpretado como reflexo da maior vitalidade do Estado brasileiro e de seu parque industrial ou resultado da pressão de uma ideologia nacionalista que voltou a estar presente no governo Lula. De todo esse trabalho de história comparada, a conclusão que fica é que o Brasil arrancou com mais força, mas foi alcançado pela Argentina que o superou, em quase todas as dimensões quantificáveis, nos seus anos dourados anteriores à Primeira Guerra Mundial. Depois, sobretudo a partir de 1930, o Brasil passou a imprimir maior velocidade em seu desenvolvimento. E, hoje, é inegável a sua maior representatividade que pode ser medida não só pelo tamanho de seu comércio exterior e do seu PIB como por outras dimensões, embora nos níveis de escolaridade da população continue bem atrás. Boris Fausto, doutor em História e livre-docente em Ciência Política, professor aposentado da Universidade de São Paulo, foi responsável, juntamente com Sérgio Buarque de Holanda, pela organização da História geral da civilização brasileira (São Paulo, Difel, 1963-1984, vols.) e é autor de História concisa do Brasil (São Paulo, Edusp, 2001) e Crime e cotidiano: a criminalidade em São Pulo, 1880-1924 (São Paulo, Edusp, 2002), entre outros livros. Fernando J. Devoto, doutor em História, é professor da Universidade de Buenos Aires, professor-visitante em várias universidades européias, e autor de Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna (Buenos Aires, Siglo XXI, 2002) e Historia de la inmigración en la Argentina (Buenos Aires, Sudamericana, 2003), entre outras obras. Unidos, esses dois grandes historiadores realizaram um admirável trabalho de síntese em que não se deixaram impregnar pela superficialidade e muito menos pela rivalidade que tem caracterizado a atuação dos dois países não apenas nos campos de futebol. Para eles, as flutuações do passado de ambos países, se ensinam alguma coisa, é que o futuro é inescrutável. De certo apenas é que a rivalidade persistirá. Mantida em níveis civilizados, continuará funcionando como mola propulsora do desenvolvimento das duas nações. [Adelto Gonçalves] 5 Epistolario. Correspondencia entre María Zambrano y Reyna Rivas. Monte Ávila Editores. Venezuela. 2004. Epistolario reúne un conjunto de cartas que se escribieron la filósofa española María Zambrano (19041991) y la poeta venezolana Reyna Rivas, a lo largo de 29 años, entre 1960 y 1989. Se trata de uno de los libros más hermosos de 2004 que, sin duda alguna, recuerda por qué el género epistolar es luminoso en el mundo. El libro, de 372 páginas, pertenece a la colección Testimoniales y cuenta, además, con textos biográficos de las autoras y una carta de Rivas a la memoria de Zambrano, escrita el 25 de marzo de 2003. Se trata -como dice Rivas en la introducción del volumen- de “cartas llenas de consejos, de pensamientos puros, de estímulos, de creencias, de luz y de iluminaciones. Cartas llenas de razones vitales, de demoras y afanes cotidianos, de esperanzas, de fe, llenas de acción vital, de filosofía y poesía”. Cabe destacar que María Zambrano es una de las figuras más significativas en el pensamiento filosófico del siglo XX. Nació en Vélez-Málaga, España, y se desempeñó como profesora de filosofía en Madrid. Vivió largo tiempo en Roma y, en 1984 (después de 40 largos años de exilio por ser republicana) regresó a su país natal. Ha escrito, en los géneros de filosofía y poesía, El hombre y lo divino; Claros del bosque; El sueño creador; La aurora de la palabra; Palabra y poesía; y España, sueño y verdad, entre otros. Tuvo nexos con Venezuela gracias a la Fundación Fina Gómez y recibió, en 1981, el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y, en 1988, le fue concedido el Premio Cervantes. Por su parte, Reyna Rivas (nacida en Coro, estado Falcón) cursó estudios en la Universidad La Sorbonne de París, así como estudios de música en la Escuela Superior de Música (Caracas). Entre sus principales títulos se encuentran Seis prosas; Palabra y poesía; Sueño de la palabra; Huéspedes de la memoria; e Infinitos verbales, entre otros. 6 Estudos de Pele, de Floriano Martins. Editora Lamparina. Rio de Janeiro. 2004. 200 pgs. No título Estudos de Pele, o último livro de Floriano Martins, a palavra pele parece sugerir uma pista falsa. Entrar no texto é praticar Um rasgo bem dentro do abismo, onde o coração dispara e ninguém pode conter a presença do indizível. (p.187). Trata-se de adentrar um labirinto com passagens em múltiplas direções. O roteiro conduz a um descentramento e este se dá em face de um referencial: o conceito de identidade. Num capítulo da Parte III - O hóspede -, que mescla prosa e poesia, é discutida a questão da identidade, na arte ou fora dela. O mesmo em face do mutável. Desde a Parte I, o texto dá espaço às suas visitas perversas (algumas personagens bíblicas mulheres (em Paródia do cadafalso) e várias outras como em Um livro de Ângela, são apenas dois exemplos. A inesperada visita dessas sombras perturbadas não me leva a pensar senão em uma coisa: temos que aprender a ter mil vidas a um só tempo (P. 76). O que parece faltar às vezes a essas “sombras” ( no caso das bíblicas) é a leveza de ser outra coisa, sem a carga de ressentimento que as liga umbilicalmente a seus contrários. Como em Silentes Suplícios (Marta, p. 28). A obra é dividida em dez partes: I - Paródia do cadafalso, II - Sombras raptadas, II - Crime & Fuga, IV - Rastros de um caracol, V - Dores de nada, VI - Dália do coração negro, VII - Lusbet: eis o abismo, VIII - Um livro de Ângela, IX - Ruínas exaustas, X - Modelos vivos. As labirínticas passagens, as múltiplas direções sugeridas pelo texto de Floriano sinalizam por vezes uma espécie de curto-circuito nos níveis tidos como normais de percepção da realidade cotidiana dentro dos mecanismos em que está estruturada a linguagem da vida em sociedade. É o que ocorre em determinadas situações narradas, como a que temos em O Cão e o Lustre. A cena remete à idéia de demência (uma forma bem próxima da loucura); mas no texto é, nada mais nada menos, que a transcrição, para a realidade objetiva, do flash agônico de uma subjetividade em ruína, a da avó enferma, visitada pelo neto, pela última vez: Lembro que havia um lustre pendendo do teto. A pouca voz me disse que ali estava com ela aquele negro cão, quieto, confiável, suspenso no vazio. Cão ou lustre? Luz ou escuridão? Mas se na alucinada visão da avó o cão e o lustre são concretamente a mesma coisa, em Plano de Fuga (p. 183) o Anjo Líquido derrama-se na direção do abstrato, do invisível: O anjo derramando-se no copo assustavame ao dizer o quanto a vida pode ser outra quando não se tem para onde ir dentro de nós. A vida pode ser outra, mas a identidade? O texto persegue a fuga obsessiva do mesmo (que a psicanálise nega), enquanto trai (dúvida ou “ato falho”?) certa inquietude quanto ao ser: E se todas essas sombras não forem apenas uma única sombra, a minha, a provocarme de inúmeras formas? Evocaria então um verso de Luís Miguel Nava em que confessa ter a ‘identidade acelerada’ (77). Inconsciente ou não, o que o texto persegue é a identidade estética. O poema Flagrantes no assoalho (Parte III) expressa um ritual encantatório em que o amor, condenado à morte pela estabilidade do encontro (como se a vida fosse apenas caber em permanência), é convocado à vertigem da busca incessante, (…) com deuses assombrosos percorrendo a casa, laminando vertigens para um livro, buscar-te, buscar-te, jamais desalentar-se aguar rios, deixar-se desaguar, nenhuma lição, apenas o corpo caindo, a buscar-se: e buscar-te. (p.81). Esse ritual encantatório é a própria poesia, perseguida como uma caça onde quer que se esconda, seja no ínfimo ou no grandioso: (…) em uma síncope de obsessões, buscar-te, amor, enquanto o poema te chama e prepara os archotes que te conduzem por escadarias com línguas voláteis a seduzir as páginas de teu corpo, sim, teu corpo, três vezes teu corpo, buscar-te em recâmaras encantadas úmidas invisíveis, um vento sibilante de janelas decifradas pela noite, um coro de trevas, nota contra nota, o bordão entoado pelo acaso (…) p.79. O código desse labirinto pode estar em Visita de um Lagarto - momento do livro onde uma teia de imagens oníricas se adensa em narrativa cifrada, de sentido subjacente ao texto. Por aí, pele poderia conotar pele de lagarto, em sua adjacência a mimetismo, metamorfose, forma que se muda. Não há no texto um sentido linear a que possamos ter acesso, a não ser precisamente a construção dessa fuga da identidade. Por isso há passagens em que não escolhe entre poesia ou prosa, fica na indefinição, no limiar; deslizante para poder abranger a escuta quase psicanalítica do outro, sempre outro, ao infinito. Daí os recortes nas visões do garoto, coladas nas páginas dos livros e sopradas no ar, diante de inexistentes janelas: Que forma assumiria tal vestígio em sua vida? As formas significam muito pouco. Poderia seguir recortando-as. Por uma aurícula errante trataria todas as cobras de duas cabeças. Chamaria raio os esfaqueamentos misteriosos que não raro eram comentados em casa E daria pernas ou asas ao pescoçudo gramofone da avó. As formas não lhe bastavam. Um novo personagem lhe despertara para tanto. Arrastava-se brincalhão sobre seu corpo. Não lhe eram mais enfadonhos os sonhos, embora seguissem silenciosos e em repisado repertório. Tudo permanecia o mesmo, mas ganhava em significado. (p.96). O instinto natural de subversão nos leva a ouvir o outro, a contraí-lo enquanto perversão essencial à sua própria existência (Floriano Martins na apresentação do seu Alma em Chamas. Letra & Música, 1998). Um Livro de Ângela é momento diverso, em que a narrativa se aclara, torna-se quase linear em seu jorro de imagens urgentes, como a captar o ritmo frenético do instante que passa, através de uma daquelas mil vidas. (…) Ângela me oferta a caligrafia de suas vertigens, encrespa-me enquanto perdura, é apenas um instante, e quando lhe abrimos as vísceras não há semântica que nos leve além do instante. transfigurado ressurrecto melancólico derruído, porém aquecido pela mesma complexidade: a dor do instante.(p.162) Enquanto metatexto, pratica uma auto-incisão e cria sua própria imagem (narcísica): 6. Escrever assim em quebradiço Dando a falsa idéia de ser nada Pender para um ponto ou outro Mudando de forma ou de olhar Pingando uma imagem ou duas Tornando o tolo em santa realeza Glossário de idéias mal defendidas Crendo que dure a geometria… Nem todo um livro de Ângela Recolhe essa anatomia desfigurada do desejo. Há algo que lhe escapa Como se pensássemos na evolução de um mesmo dilema: Somente a impostura garante o sucesso? (p.160). (…) Estudos de Pele. Um livro original na medida em que pratica um exercício de semântica, trabalhando com materiais provenientes, ou ao menos familiares, ao universo explorado pela psicanálise. [Maria da Paz Ribeiro Dantas] 7 Nueva Poesía Hispanoamericana (Antología org. por Leo Zevala). Lord Byròn Ediciones. Lima, Perú. 2004. 110 pgs. Lord Byròn ediciones tiene el honor de anunciarles la publicación de la antología titulada "Nueva Poesía Hispanoamericana" que en su edición séptima lleva como subtitulo: "poesía no dice nada, poesía sé esta callada, escuchando su propia voz". En esta edición la antología tiene como eje temático a la poesía y el arte lírica.Esta antología ha sido compilada por el poeta peruano Leo Zelada, (premio de poesía Orpheu, Brasil, 2001). La vocación poética, la poesía inmersa en el trajinar diario del creador, sus miedos, fobias e imprecaciones están reflejadas Heterogéneamente, así como las múltiples visiones personales que tienen los poetas frente a la pagina en blanco. Entre los poetas que han participando de esta publicación nuestra se encuentran los más destacados exponentes de nuestra poesía contemporánea como son: Jaime Siles, Felipe Benítez Reyes, Luis Antonio de Villena, Antonio Cisneros, Eduardo Llanos, Ricardo Costa, Manuel Lozano, Ernesto Kahan, Jeannette L. Clarión, Juan Carlos Gómez Rodríguez, Alfonso Chase, Diego Muzzio, Enrique Verastegui, José Watanabe, Floriano Martins, Antonio García, Julio Cesar Aguilar, Humberto Garza, entre otros. Esta 7ma edición de nuestro proyecto editorial ha tenido repercusión en el ámbito continental al haber salido publicadas entrevistas y reseñas de la antología en importantes diarios de América Latina como El Excelsior y El Norte de México, El Clarín de Argentina, El Comercio, Peru21 y Liberación de Perù, La Estrella de Puerto Rico, El Deber de Bolivia, en el Diario de Tarragona e info-Cádiz de España; En revistas como La Resonance (Francia), Barcelona Review (España),"Actualidad literaria" (España), Crónica Literaria (Argentina), Literatura Cubana (USA), Actualidad Austral (Chile); En importantes agencias internacionales de noticias como EFE(España), LIBRUSA con sede en Miami (USA), Todito.com de TV azteca (México), Agencia de noticias Libros y Letras (Colombia). También ha habido entrevistas en programas de TV de Perú y Mèxico, Pachuca. Por ultimo ha habido entrevistas radiales sobre la antología en Radio Francia Internacional Paris, radio Onda cero, Madrid, España, Radio Nacional Perú y en múltiples revistas escritas y web de Internet en América toda y Europa. Esta es pues la muestra más significativa de la nueva poesía hispanoamericana que sé esta escribiendo en nuestra lengua después de los grandes poetas posmodernistas en América Latina y en España luego de la generación del 50. Como dice el compilador el poeta peruano Leo Zelada "En esta antología están expresadas la mayoría de las tendencias actuales de la poesía actual: el neorromanticismo Erótico, la nueva poesía social, la poesía del ciber-espacio y la estética de la posmodernidad". La antología ha sido presentada exitosamente el día 18 de julio del 2004 en la feria internacional del libro de Lima, el 4 de agosto del 2004 en "La Casa de la Integración" del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, La Paz Bolivia, el 8 de diciembre del 2004 en la universidad Tecnológica de El Salvador y será presentada el 25 de enero del 2005 en el Instituto Iberoamericano Catalán, Barcelona, uno de los centros culturales más importantes de España. Según las palabras del poeta y ensayista peruano Leo Zelada, compilador de esta Antología: "Ésta es la primera antología que se presenta ante el lector hispano-hablante de los nuevos poetas de nuestro firmamento poético, ellos y su poesía serán los responsables ante el tiempo de la vigencia de nuestra valiosa tradición literaria". Sean bienvenidos a la lectura de esta nuestra publicación "poesía no dice nada, poesía sé esta callada, escuchando su propia voz". 8 O cantor de tango, de Tomás Eloy Martinez (trad. de Sérgio Molina). Ed. Companhia das Letras. São Paulo. 2004. 221 pgs. Em setembro de 2001, a Argentina esteve à beira do caos, com a ascensão à presidência da República de um caudilho de província, que logo se viu apeado do poder pelo furor das massas à frente da Casa Rosada. Depois de viver nos anos 40 o auge de seu desenvolvimento como país periférico que se mirava na Europa, a Argentina, no começo deste século, chegou ao ápice de seu calvário. É nesse ambiente de convulsão social que Tomás Eloy Martínez, hoje uma das vozes mais representativas de uma literatura que já produziu Jorge Luís Borges, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares e José Pepe Bianco, constrói a trama de seu último livro, O cantor de tango, que não só se rivaliza com O romance de Perón (La novela de Perón), de 1985, sua obra-prima, como engrandece ainda mais seu currículo literário. É um livro envolvente, que traz as marcas de um romancista na plenitude de sua mestria. Tomás Eloy Martínez, nascido em Tucumán, em 1934, é romancista, professor universitário, roteirista e crítico de cinema e literatura, além de articulista que escreve em La Nación, O Estado de S. Paulo, El País e The New York Times. Sua produção ficcional inclui ainda os romances O vôo da rainha (2002), Santa Evita (1995) e Sagrado (1969), além de roteiros de cinema, livros de ensaios e o relato jornalístico La pasión según Trelew (1973). É, atualmente, diretor do Programa de Estudos Latino-Americanos da Rutgers University, de Nova Jérsey, EUA. Em seu último livro, Martínez imagina um pesquisador norte-americano da obra de Borges que desembarca em Buenos Aires, ao final daquele ano, em busca de Julio Martel, um misterioso cantor de tango que nunca gravou um disco, mas que, quando imitava o lendário Carlos Gardel, era Gardel e, quando se empenhava em ser ele mesmo, era melhor. O acadêmico, um estereótipo de conhecidos pesquisadores norteamericanos que costumam freqüentar arquivos brasileiros, portugueses e hispano-americanos, imagina que, escutando esse cantor de viva voz, talvez poderá entender melhor determinados escritos de Borges que, já nos anos 30, lamentava a degradação da música portenha. Bruno Cadogan, o acadêmico, chega a uma Buenos Aires deteriorada, cheia de mendigos e famílias desabrigadas, cenário inimaginável até há poucos anos, embora a cidade, dez quadras depois da famosa calle Florida em direção ao interior, sempre tenha sido outra, bem mais pobre. Instalase numa pensão na rua Garay, em cujo porão, segundo suas pesquisas borgianas, haveria os dezenove degraus que levavam até o Aleph, “uma pequena esfera furta-cor, de brilho quase intolerável”, que refletiria o universo inteiro. Suas pesquisas o levam até o número 994 da rua Maipú, onde Borges viveu em humildade franciscana por mais de 40 anos. Se as pesquisas borgianas não foram difíceis, buscar os rastros de Julio Martel exigiram de Cadogan a argúcia de um detetive, tal como o personagem do livro Seis problemas para don Isidro Parodi (1942), escrito por Borges em colaboração com Adolfo Bioy Casares sob o pseudônimo H. Bustos Domec. No rastro do cantor, o improvisado detetive se perde numa série de labirintos, imbricados no espaço e no tempo, como num conto de seu biografado. A cada passo, Cadogan envolve-se cada vez mais em histórias que só lhe aumentam as dúvidas. Onde andaria Martel àquela altura? Por que nunca conseguira a fama de Gardel, embora sua voz fosse um portento semelhante ou talvez superior? Ao tentar reconstituir a vida tumultuada de Martel, Cadogan reconstrói também a história de uma cidade que atravessou o século XX imersa em convulsões e catástrofes, como a Semana Trágica que resultou no assassinato de anarquistas em 1919, em meio a perseguições contra judeus por parte de grupos paramilitares formados por civis das classes altas, a aventura e o flerte do general Juan Domingo Perón com os nazistas, a brutalidade e o horror das ditaduras militares que destruíram boa parte do futuro do país, até a catástrofe do réveillon de 2002. Como pano de fundo, o tango, uma música nascida nos bajos fondos de Buenos Aires em meio a prostitutas, rufiões e mafiosos de todos os calibres. Instalado na pensão da rua Garay, Cadogan faz de uma mesa no Bar Britânico, perto dali, em frente ao Parque Lezama, o seu observatório, enquanto dedica-se a escrever sua tese. O local já serviu de cenário para Sobre héroes y tumbas (1961), de Sábato, e ali em 1944 Borges e Estela Canto, a quem está dedicado o conto “El Aleph”, viveram momentos de enlevo. Cadogan vive ainda uma amizade suspeita com Tucumano, um jovem de baixo estrato social disposto a fazer qualquer coisa para arrumar dinheiro, inclusive, explorar a curiosidade dos turistas pelo possível Aleph, que o próprio Borges supunha falso. Mas o que prende a atenção do leitor, como num romance de suspense, é a trajetória do cantor Julio Martel, seu envolvimento com os seqüestradores do cadáver do general Aramburu no cemitério de La Recoleta, a sua vida no submundo de Buenos Aires, sua esquisita mania de cantar em locais que, vistos num mapa da cidade, cumpriam um desenho semelhante ao losango com que Borges resolve o problema de “A morte e a bússola”, conto de Ficciones (1944). O acadêmico descobre-se, então, perdido num labirinto borgiano. Para os amantes do tango, Martínez ainda relaciona ao final as letras das canções que Martel cantava em sua ronda por Buenos Aires, que vão de “El bulín de la calle Ayacucho” (1923), passando por “Mano a Mano” (1918), “Caminito” (1926), até o recentíssimo “El rap del Fuerte Apache” (2001), entre outras. Martínez defende a idéia de que a fronteira entre os gêneros é imprecisa e que seus textos devem ser lidos como uma cena da realidade ou da história, não como meros documentos ou ficções. Por isso, se O cantor de tango é uma narrativa de ficção, não se pode deixar de levar em conta que muito do que o autor descreve está fincado na realidade, na brutal realidade da Argentina de ontem e de hoje. (Aliás, no conto “El Aleph”, Borges diz que, em julho de 1942, o pensador hispano-americano Pedro Henríquez Ureña (1884-1946) descobriu numa biblioteca de Santos um manuscrito do capitão Richard Burton, cônsul britânico na cidade por volta de 1867, que versava sobre o espelho que atribui o Oriente a Iskandar Zu al-Karnyan ou Alexandre Bircone da Macedônia. Burton, segundo Borges, menciona nesse manuscrito outros artifícios semelhantes. Se o conto é ficcção, Burton não é uma personagem fictícia e Ureña muito menos. Por isso, já andamos por várias bibliotecas de Santos atrás desse manuscrito, mas as buscas têm sido infrutíferas. Com a ajuda da Associação Comercial, entramos em contato com o atual cônsul britânico, que lamentou não poder ajudar por não ter registros, já que “os antigos cônsules não passaram seus arquivos adiante”. É mais um mistério borgiano). [Adelto Gonçalves] 9 O golpe militar e civil de 64 - 40 anos depois, de Ivan Cavalcanti Proença. Ed. Oficina do Livro. Rio de Janeiro. 2004. Mestre em Literatura Brasileira e Doutor em Poética pela UFRJ, Ivan Cavalcanti Proença - além de dedicar-se aos estudos literários - vem atuando em outros segmentos culturais. Suas pesquisas centralizam-se nas várias manifestações da Cultura Brasileira, englobando o Futebol, bem como abrangem expressões estéticas de cunho popular e/ou regional, como o Carnaval, o Folclore, a Música, etc, sendo ele autor de vários livros e ensaios sobre os temas mencionados. Na instância político-administrativa, Proença ocupou cargos nas áreas culturais e pedagógicas na vigência dos governos do PDT no Rio de Janeiro, na gestão de Leonel Brizola. Dentre as várias premiações, destacamos: Medalha Presidente Perpétuo do CACO (Centro Acadêmico Cândido de Oliveira da atual Faculdade de Direito da UFRJ), e Medalha Chico Mendes (de resistência à ditadura - TNM). No livro intitulado O golpe militar e civil de 64 - 40 anos depois (Ed. Oficina do Livro), lançado em novembro de 2004, o autor aborda, dentre outros assuntos, o episódio do Largo do CACO (Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, da então Faculdade Nacional de Direito), cuja versão original merece aqui ser mencionada, por ser pouco conhecida até mesmo do público atento à temática em pauta. Trata-se de fatos ocorridos, já sob a égide do Golpe Militar, no dia 1º de abril de 64, quando, por ocasião de um comício estudantil realizado naquele Largo, grupamentos paramilitares cercaram estudantes e pessoas que se encontravam nos arredores “muitas a caminho da Central do Brasil”, no Rio de Janeiro. De serviço nas proximidades do Campo de Santana (localidade vizinha do CACO), Ivan Cavalcanti Proença, que na época era capitão do Exército, posicionou-se a favor da legalidade, e liderou manobras de proteção e abertura do prédio da Faculdade Nacional de Direito, que fora cercado pelas forças repressoras, e atingido por bombas de gás lacrimogêneo. Em virtude do ocorrido, Proença foi preso e cassado. E tornou-se alvo de represálias, inclusive em instituições civis, sendo afastado inúmeras vezes das atividades de magistério. Abordando, através de texto claro e objetivo, inúmeros antecedentes e conseqüências do golpe, o autor - mais que um depoimento - apresenta aos leitores vasto material para pesquisa no campo político-social, tangenciando questões relacionadas aos Direitos Humanos. Note-se ainda que, tão logo trazido a público, o livro de Ivan Cavalcanti Proença ganhou novos contornos, posto que, duas semanas após o lançamento, uma emissora de TV exibiu reportagem (como é do conhecimento de todos) sobre a queima de documentos relacionados ao governo militar. Diante do ocorrido, neste momento em que o “Brasil” discute a abertura dos arquivos referentes àquele período histórico, os fatos narrados pelo autor tornam-se objeto de mais uma “leitura”, envolvendo questões afetas à cidadania. A relevância do livro de Proença consiste, sobretudo, em indicar as lacunas deixadas pelo golpe, lacunas que se refletem hoje em várias instâncias sócio-culturais, levando o leitor a observar que os regimes ditatoriais possuem algo em comum: não afetam a produção de idéias, mas impedem a práxis. Os mecanismos panópticos do autoritarismo não podem vigiar o pensamento, mas se empenham em coibir ações, impondo uma indesejável dicotomia entre o pensar e o atuar. Sob esse ângulo, os governos autoritários não terminam em datas fixadas no calendário. O autoritarismo deixa marcas - deixa lastro que o revela de modo sub-reptício. Cultural ou socialmente, aquilo que não foi realizado precisará de tempo. Precisará de muito tempo para chegar a termo. Sem contar realizações que se tornam impossíveis, como reverter efeitos da delação e da tortura. Eis a linha de pensamento que norteia o trabalho de Ivan Cavalcanti Proença, envolvendo questões que tangenciam a importância da democracia como fundamento da liberdade do cidadão para atuar nos processos culturais. E aqui a cultura ganha definição antropológico-filosófica - abrange a globalidade das produções do homem dos pontos de vista ideativo e pragmático. [Mirian de Carvalho] 10 O guia dos perplexos - Parte 1, de Maimônides (tradução e estudo introdutório de Uri Lam). Landy Editora. São Paulo. 2004. 336 pgs. Nesta Parte 1, o filósofo apresenta as idéias esotéricas contidas na Bíblia, especialmente a de não se aplicar atributos a Deus, e uma primeira refutação da doutrina do Kalám, corrente filosófica de orientação islâmica. Maimônides, baseado em fontes judaicas, dialoga, nesta obra, com parte da filosofia grega e da árabemuçulmana, além de se referir a um grande número de teorias, doutrinas e opiniões das mais variadas procedências. Em uma época cuja preocupação era, principalmente, as questões dos eruditos judeus da Península Ibérica, mas também o desinteresse dos judeus do Egito pelos estudos judaicos, Maimônides acreditava que, ao escrever uma obra que abordasse a relação possível entre o texto bíblico e a tradição oral contida no Talmud, por um lado, e a filosofia abstrata, por outro, possibilitaria o acesso da razão aos segredos contidos na Bíblia e, assim, atrairia novamente os judeus para o estudo de suas tradições. O seu interesse em buscar a conciliação entre filosofia e religião estava em criar uma teologia judaica de alto nível e em demonstrar que a leitura dos textos bíblicos não deveria ser literal. 11 Obra poética, de Mauro Mota. Edições Ensol Ltda. Recife. 2004. A primeira coisa que salta aos olhos quando se percorre a poesia de Mauro Mota é a sua alta e obstinada lição de rigor, de um rigor que se diria clássico tamanho é o tributo que paga à austeridade expressiva e ao culto das boas tradições da língua. Sua linguagem é simples e direta na medida em que o é a de seu ilustre conterrâneo Manuel Bandeira, e assim o é porque ambos entenderam, até com certa humildade, que o simples não constitui senão o derradeiro estágio do complexo, no qual já não cabem o malabarismo e a acrobacia verbais, esses feux d’artifice em que se perderam (e ainda se perdem) alguns poetas brasileiros que poderiam têlo sido e que não foram. Há em ambos uma secura de estilo e uma franciscana economia de meios, um horror às tournures fraseológicas e aos contorcionismos de linguagem que de pronto nos recordam o ascetismo da euclidiana linha reta. E estão ambos - eis aqui o milagre carregados daquela misteriosa emoção que somente os autênticos poetas sabem transformar em magia verbal, como o fizeram Poe e Baudelaire na estrutura medida e concisa de seus versos. É que neles, mais do que o espírito - que sempre se move de fora para dentro -, anima-os a alma, cuja luz percorre o trajeto inverso, tal como o vemos naquela “noche oscura” de São João da Cruz. Essa é a essência da poesia de Mauro Mota, mais exatamente a que inerva as Elegias (1952), nas quais se dilui por completo qualquer indício de datação temporal ou de referência toponímica, ao contrário do que ocorre com a imensa maioria de seus poemas subseqüentes. Trata-se aqui do primado da poesia pura ou, se quiserem, assoluta, daquela poesia da poesia, antiprogramática e estrita, como se lê em alguns dos poemas de Leopardi ou nas partituras de Bach, Mozart e Chopin. Não me parece fortuito que, para escrevê-las, Mauro Mota haja escolhido a forma tersa e contrita do soneto, cuja expansão é sempre mínima: “pequeno som”, como diziam seus inventores, Piero delle Vigne e Guittone d’ Arezzo, no já distante século XIV, e de que se valeram depois os poetas do dolce stil nuovo. E estes sonetos, ou “elegias”, de Mauro Mota são perfeitos na emoção e na forma, já que ambas se desenvolvem sob o signo de uma reciprocidade simultânea, corrigindo assim aquele antigo equívoco de que forma e fundo seriam dissociados, quando são, na verdade, uma indissolúvel comunhão, comunhão absoluta, aliás, como se vê no primeiro quarteto e no segundo terceto da “Elegia nº 8”: As mãos leves que amei. As mãos, beijei-as nas alvas conchas e nos dedos finos, nas unhas e nas transparentes veias. Mãos, pássaros voando nos violinos. (...) Se parecem dormir, não as despertes. As mãos que amei, que desespero vê-las cruzadas, frias, lânguidas, inertes! Claro está que essa poesia da poesia lateja em toda a obra de Mauro Mota, mas convém sublinhar que aquela essência antiprogramática a que aludimos no caso das dez elegias (que seriam onze, se computássemos a que se encontra nos versos de arquivo) cede terreno à poética da existência nos livros posteriores do autor, ou seja, os que ele deu à estampa entre 1956 e 1979. É que os poemas incluídos nesse período de vinte e três anos de produção são de fundo simbólico e estão fincados como raízes na terra nordestina, retratando os dramas do cotidiano em linguagem natural e espontânea, ou, como deles disse Álvaro Lins, transmitindo “uma espécie de realismo mágico, uma extraordinária capacidade para transfigurar o imediato e o cotidiano em simbologia poética”. Percebe-se “um certo cheiro de engenho” até mesmo em alguns de seus poemas mais urbanos, como corretamente observa Renato Pontes Cunha, acrescentando que a Zona da Mata pernambucana, onde ondulam aqueles canaviais de João Cabral de Melo Neto, “marcou sua infância e tingiu definitivamente sua poesia”. Esse realismo mágico e esse “cheiro de engenho” estão de fato presentes em quase toda a obra de Mauro Mota, e seria fastidioso rastreá-los neste ou naquele poema, já que se trata de um traço estigmático do comportamento psicológico do autor, de uma herança cultural ou, mais do que isto, de uma alma acima de tudo nordestina. O que nos interessa mais de perto na poesia de Mauro Mota, entretanto, é uma qualidade intrínseca: a de sua pureza formal, associada ao domínio cabal que revela o autor no que toca aos seus meios de expressão e ao lirismo, dir-se-ia telúrico, de sua refinada e tensa linguagem. Tais características legitimariam sua filiação à Geração de 45, como assim o pretendeu Fernando Ferreira de Loanda quando o incluiu no Panorama da nova poesia brasileira, antologia que registrou o primeiro balanço de um grupo de poetas que buscavam um novo caminho para além dos limites do Modernismo. Ocorre que Mauro Mota, à semelhança de Lêdo Ivo e de alguns outros poetas pertencentes ao grupo, transcende os propósitos operacionais e doutrinários da Geração de 45, firmando-se logo depois como um dos poetas mais estimados de sua época. E acrescente-se que a reação formalista desses poetas aos desmandos e desvios dos modernistas de 1922 era algo previsível e talvez até necessário. Mas quando se lêem poemas como as já citadas “Elegias”, “Finados”, “A potranca”, “As andorinhas”, “Os epitáfios”, “O cacto” ou “Balada eqüestre” percebe-se em que medida se dá essa superação dos pressupostos formalistas da Geração de 45, na qual já se arrolaram poetas tão transgressivos quanto João Cabral de Melo Neto e Ferreira Gullar. Mauro Mota, de quem agora se reúne toda a poesia, não pode ser visto, portanto, como um sobrevivente da geração a que pertenceu, e sim como o grande poeta que já era quando da publicação das Elegias, às quais se seguiram, confirmando-lhe as altas e indiscutíveis virtudes, A tecelã (1956), Os epitáfios (1959), O galo e o cata-vento (1962), Canto ao meio (1964), Itinerário (1975) e Pernambucânia (1979), além dos poemas do arquivo que agora se coligem. É que há em sua poesia, como em toda grande e autêntica manifestação do ímpeto poético, aquele timbre intransferível que distingue o poeta do versejador, e nem cogito aqui do artesão porque este sempre subjaz no verdadeiro artista e até o pressupõe. Há em Mauro Mota austeridade verbal, limpeza de fatura, equilíbrio e adequação do que e do como da linguagem poética, fina ironia e uma tristeza que é a de todos nós, poetas, a tristeza daqueles que, caducos e contingentes, estão sempre com um ar de despedida, como observou certa vez este outro grande elegíaco que foi Rainer Maria Rilke. E são esses os misteriosos ingredientes de que se vale toda poesia que haverá de permanecer, mesmo nos hölderlinianos tempos de indigência que ora vivemos. De Mauro Mota, por exemplo, haverão de permanecer, entre outros, estes dois tercetos admiráveis de “As andorinhas”: Mas quando, no intervalo dessa pena, no seu repique matinal batia, era a coletivíssima revoada: asas de cal e músicas de pena caindo todas pelo chão da praça como se a torre se despedaçasse. [Ivan Junqueira] 12 A palavra inscrita, de Mário Chamie. FUNPEC Editora. São Paulo. 2004. 402 pgs. Mário Chamie é autor de quinze livros de poemas e está lançando agora o seu décimo terceiro livro de ensaios e estudos literários. Como ensaista, Chamie escreveu obras de importância para a crítica literária brasileira, a exemplo do clássico Caminhos da Carta. Incluem-se entre essas obras, Intertexto (1970) e A Transgressão do Texto (1972) que introduziram o método dialógico na análise de Macunaíma, de Mário de Andrade, e de Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade. Graças às suas pesquisas, Chamie é também o responsável pela descoberta e revalorização de Madame Pommery, de Hilário Tácito, além de ter revelado, interpretado e editado, pela primeira vez, os originais manuscritos de O Santeiro do Mangue, de Oswald de Andrade. Detentor dos mais importantes prêmios literários do País (com seu último livro de poemas, Horizonte de Esgrimas, conquistou, em 2003, o Prêmio Portugal Telecom), Chamie acrescenta aos seus doze livros de ensaios, o volume de A palavra inscrita. Neste livro, o poeta examina e interpreta aspectos inexplorados, ou pouco comuns, de escritores nacionais e estrangeiros, como Machado de Assis, Euclides da Cunha, Francis Ponge, Lévi-Strauss, Augusto dos Anjos, Gilberto Freyre e outros, transitando da cultura popular para a cultura literária mais sofisticada, com diferenciado senso de análise. parceiros da agulha nesta seção Livros para Agulha deverão ser enviados aos editores, nos endereços a seguir: Floriano Martins - Caixa Postal 52924 Ag. Aldeota - Fortaleza CE 60151-970 Brasil Claudio Willer - Rua Peixoto Gomide 326/124 - São Paulo SP 01409-000 revista de cultura # 43 fortaleza, são paulo - janeiro de 2005 discos da agulha 1 Bandolim do Brasil, de Afonso Machado. Rob Digital. 2004. Quando fui convidado para fazer a apresentação deste CD senti-me homenageado e tomado de emoção ao buscar as palavras certas para falar do trabalho de um muito querido amigo, um dos mais notáveis bandolinistas deste país. Foram passando pela minha mente lembranças da vida de Afonso Machado, e de como ele se firmou no cenário musical, não só como instrumentista, mas também como compositor e arranjador. De repente me vi em um dos saraus da casa de Botafogo promovidos por seu pai, o cientista e violonista Raul Dodsworth Machado, com quem Afonso obteve as primeiras noções da arte musical, e deu seus primeiros passos como solista do recém-criado conjunto Galo Preto. Lembrei-me que depois Afonso aperfeiçoou-se com o professor Elpídio Faria e, sem perder o vínculo com este núcleo inicial, passou a sobressair-se ao contribuir inúmeras vezes, como músico, arranjador e produtor musical para o realce de obras de outros compositores e intérpretes. Sempre foi um admirador e seguidor atento de Jacob do Bandolim, Déo Rian, Rossini Ferreira e Joel Nascimento, deles captando sutilezas que se acumularam no seu íntimo e se transformaram numa estética própria que representa o seu retrato musical. E, no ano de 1986, Afonso Machado escreveu o seu Método do Bandolim Brasileiro, obra que muito tem ajudado na formação de músicos, hoje atuando profissionalmente com grande sucesso. Além do Galo Preto, Afonso foi um dos fundadores da Orquestra de Cordas Brasileiras. Apresentou-se com várias orquestras sinfônicas executando repertório da chamada música de concerto, e também com o Quarteto Sueco, ao lado do violonista Bartholomeu Wiese, com quem forma um duo que tem se apresentado muito mais no exterior. Este disco traz composições suas em parcerias com Luiz Moura (o mais constante), Rafael Rabello (saudosíssimo), Bartholomeu Wiese, e os letristas Paulo César Pinheiro e Delcio Carvalho, além de, generosamente, ter-me incluído neste “ninho de cobras” com o choro de nossa autoria – Angenor – uma homenagem ao Mestre Cartola. Vale salientar duas jóias que Afonso compôs sozinho: A Última Barca, uma lembrança da Suécia, que nos remete a uma paisagem escandinava; e Claudionor, que nos induz ao universo chorístico de um grande músico, o inesquecível Claudionor Cruz. Além de autoral, este CD é instrumental, e conta com a participação de músicos de altíssima qualidade. Eles parecem festejar aqui a estréia de um jovem talento, Tiago Machado, filho de Afonso. E mais, nos oferece a presença vocal de Zezé Gonzaga que é, ela mesma, uma escola de interpretação brasileira. Embora lamentando a perda de nosso querido Maurício Almeida, ex-aluno de Afonso, excelente baixista, que aqui aparece em algumas de suas últimas atuações, nós que somos profundos admiradores de Afonso Machado, estamos felizes pela realização de um disco que se fazia necessário, pelas suas sutilezas e pela mágica delicadeza das composições, das interpretações e dos arranjos. [Elton Medeiros] 2 Brazilian routes, de Romero Lubambo. Rob Digital. Dentro do projeto do selo japonês aosis records sobre música brasileira, Brazilian Routes faz parte também da irresistível carreira deste guitarrista radicado em N. York há 15 anos. Durante este período Romero gravou com Raphael Rabello, Artur Maia, Herbie Mann, Lenny Andrade, Rildo Hora, faturou dois Grammys, por trabalhos com a cantora Dianne Reeves, e tocou no Carnegie Hall e no Lincoln Center. No CD, Romero imprime sua marca rítmica e melódica em faixas como Love for Sale de Cole Porter, Route 66 de Bobby Troup - na voz de Pamela Driggs - O que é Amar de Johnny Alf, Sally’s Tomato de Henry Mancini, além de ótimas composições próprias. Destaque para os arranjos próprios e os de Cesar Camargo Mariano. 3 Cantos do Brasil, de Hamilton e seus estados. Videolar. 2004. O Grupo Hamilton e Seus Estados iniciou as atividades em agosto de 1998 e a origem do nome é que na Mecânica Quântica tem os auto-estados do operador Hamiltoniano, e como os integrantes, na formação inicial do grupo, vinham de diferentes estados geográficos e eram alunos de Graduação em Física, o Prof. Nelson Studart do Departamento de Física da UFSCar, em alusão aos estados quânticos e tendo o Prof. Hamilton também docente e Chefe do Departamento de Física como líder do grupo, em uma brincadeira deu este nome ao grupo, que os alunos decidiram adotar. O grupo Hamilton e Seus Estados conta com Hamilton Viana no violão, Fred Cavalcante nos teclados e saxolfone, Ricieri no contra-baixo, Fernando Izé na guitarra, Marcos Carvalho na clarineta, Cristiano na bateria, Abdalan no trompete, Thiago e Henrique Rozenfeld na percussão, Muringa no saxofone, e nas vozes: Regina Dias, Maria Butcher e Roberta Reiff. Com várias apresentações no Teatro Municipal de São Carlos, no SESC-São Carlos, Teatro Universitário Florestan Fernandes da UFSCar, SESC-Araraquara, SESC-Birigui, o grupo já dividiu o palco com Jorge Mautner, Grupo Mandinga, As Choronas e Chico Cesar. A convite do SESC-São Carlos apresentou-se no dia 17 de agosto de 2001 com o Show Tropicália, projeto do SESC-São Carlos em homenagem ao Tropicalismo, abrindo o show que teve a presença de Elke Maravilha e do cantor Falcão. No repertório que o grupo vem se apresentando desde o início das atividades, constam composições de Chico Buarque, Tom Jobim, João Bosco, Edu Lobo, Celso Viáfora, Juarez Moreira, Vicente Barreto, Pixinguinha, Eduardo Gudin, Paulinho Nogueira, além de composições de Hamilton, Márcio Corrêa e Fred Cavalcante. O grupo lançou recentemente o Projeto Releituras de Paulinho Nogueira, realizando duas apresentações: dia 04 de junho de 2004 no SESC-Araraquara, no dia 09 de julho de 2004 pelo SESC-Birigui com o show realizado na cidade de Andradina e no dia 01 de dezembro de 2004 na Sala Guiomar Novaes da Funarte. O grupo Hamilton e Seus Estados acaba de gravar seu primeiro CD, intitulado Cantos do Brasil, com arranjos de Fred Cavalcante e participações de músicos convidados entre eles, Oswaldinho do Acordeon, Juarez Moreira no violão, Marcos Cavalcante no violão e guitarra, Mauro Campos no cello, Richard e Fábio Guerrini na flauta, Edison Penteado no trompete, Fernando no trombone, André Souza na voz e Emilio Martins na percussão. As 14 faixas do CD contam com composições de músicos da cidade de São Carlos: Porto do Acaso (Hamilton Viana-Floriano Martins), Vértice (Márcio Corrêa-Hamilton Viana), Arranjos Florais (Márcio Corrêa), Titubeando, Frevura, Sambatuque e Cantos do Brasil (Fred Cavalcante), além de composições de músicos consagrados e conhecidos no exterior como Paulinho Nogueira, Celso Viáfora, Vicente Barreto, Simone Guimarães, F.A Bezerra de Menezes, Juarez Moreira e Zezo Ribeiro. No grupo, alguns de seus integrantes já participaram em shows de instrumentistas e compositores consagrados: Hamilton participou em vários eventos com Paulinho Nogueira (Teatro Municipal de São Carlos, nas unidades do SESC de São Carlos, Ribeirão Preto e Bauru e no Teatro Universitário Florestan Fernandes), também já se apresentou com Ulisses Rocha, Juarez Moreira e Zezo Ribeiro. O pianista Fred Cavalcante, formado em Música pela UNICAMP, apresentou-se com Zezo Ribeiro no Teatro Universitário Florestan Fernandes em outubro de 1999, além de escrever os arranjos para o grupo, Fred também escreve arranjos para a Orquestra Experimental da Universidade Federal de São Carlos e é professor na Oficina Cultural Sérgio Buarque de Hollanda. A cantora Regina Dias, juntamente com Hamilton e Fred se apresentaram nas unidades do SESC de Bauru e São Carlos, dividindo o palco com a cantora Simone Guimarães, com o pianista Leandro Braga e com o violonista João Gaspar. A cantora Maria Butcher já se apresentou com Zezo Ribeiro e Tetê Espíndola em São Carlos. Em 1979, Hamilton e Regina participaram da gravação de uma trilha sonora de um filme da Embra Filmes, na época em que eram integrantes do Grupo Sassafrás. *** “Atire a primeira pedra quem nunca ouviu falar de Hamilton e Seus Estados”. Foi com essa frase que inicie uma matéria para o Jornal da Federal, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), para falar desse grupo musical. Toda grande band music tem uma grande história e a de Hamilton e Seus Estados nos leva ao ano de 1998. Toda quarta-feira a UFSCar se transformava em palco de encontros. Foi a ausência de um palestrante que fez com que o protocolo fosse quebrado. Hamilton, professor de Física por opção e músico por paixão, reuniu-se com quatro universitários (também músicos) para um único encontro. Era para ser um “simples” recital de violões, mas não foi. Mania de físico? Tamanha “simplicidade” fez com que viesse um novo convite e outras apresentações. Bom repertório, ótima interpretação, porém ainda não havia um nome. Foi aí que Nelson Studart, também professor de Física, sugeriu: Hamilton e Seus Estados. Óbvio? Claro que não! Físicos, assim como músicos, não são previsíveis. Os integrantes da banda naquela época tinham uma espécie de sobrenome que remetia ao nome do Estado de onde vinham. Exemplifico com Henrique Ceará, Myrko Pará e Nara “Distrito Federal”, pessoas reais e que junto com Lis abriram o longo caminho da banda. Tem mais: há na Física os autoestados Hamiltonianos, formulados pelo cientista irlandês Hamilton. Fórmula pronta e com nome próprio, a banda seguiu seu caminho e chegou até aqui. “Cantos do Brasil” é o reflexo de cinco anos de muita música e união. Cada faixa é prova de tudo isso: composições de Vicente Barreto, Celso Viáfora, Zezo Ribeiro, Simone Gumarães, Bezerra de Menezes, entre tantos especiais, além da presença de grandes nomes (a benção Juarez Moreira, Oswaldinho do Acordeon, Marcos Calvacante e tantos outros mais que essenciais). Um lindo trabalho que inicia um novo capítulo na história desta grande banda. Não poderia encerrar sem falar de Paulinho Nogueira. A matéria que mencionei acima terminava falando dos planos futuros da banda: a gravação de um CD. Ao ler isso, Paulinho com toda a simplicidade e maestria, pergunto ao amigo Hamilton: “E aí, quando vai sair este CD?”. Eu respondo: chegou Paulinho. Então ouça daí, enquanto fazemos o mesmo daqui! [Fabrício Mazocco] *** São cinco anos de atividades do grupo Hamilton e Seus Estados, e agora mostramos nosso primeiro CD. Por força das circunstâncias, a formação do grupo foi se modificando, mas nunca podemos esquecer do começo e aqui fica meu registro das participações de Henrique Ceará, Pará, Nara, Lis, Gustavo Sato, Felipe, Caru, Guilherme, Davi e Dana. Não poderia deixar de destacar o trabalho árduo dos arranjos em 13 faixas nas mãos competentes de Fred Cavalcante, que acompanhou todas gravações, nota por nota, acorde por acorde, mesmo estando na reta final do seu Mestrado. Ao Márcio Corrêa e Floriano Martins pela amizade e parceria. O sucesso pelo trabalho de gravação do CD Cantos do Brasil também foi possível graças aos patrocinadores que apostaram no potencial do grupo. Nossos agradecimentos à Brasport e a Inode pelo patrocínio. Ao João Batista de Souza nossos agradecimentos pela contribuição expressiva e pela recomendação de nosso trabalho para que obtivéssemos o patrocínio e viabilizássemos o CD. Aos compositores Zezo Ribeiro, Simone Guimarães, Celso Viáfora, Juarez Moreira e Vicente Barreto pelas músicas. À Dona Lygia Bezerra de Menezes pelo empenho na autorização de gravação de Contraste, que neste CD é interpretada por sua neta Roberta. Ao SESC-São Carlos pelas oportunidades de mostrarmos nosso trabalho e ao Produtos Nim-BA pelo apoio Ao Maurinho Saldanha que já integrou o grupo como baterista o nosso reconhecimento pelas contribuições com idéias além do trabalho de captação, mixagem e co-produção. Aos músicos André de Souza, Emílio Martins, Veridiana, Vivian, Tinho, Fábio Saffi, Alessandro, Rodrigo, Edison Penteado, Fernando Hehl, Mauro Campos, Fábio Guerrini, Richard, Marcelo, Marcos Cavalcante, Juarez Moreira e Oswaldinho do Acordeon que juntamente com os integrantes de Hamilton e Seus Estados, completaram o trabalho que ora apresentamos. [Hamilton Viana da Silveira] 4 Dear heather, de Leonard Cohen. Sony BMG Music. 2004. Se as mulheres criam um recanto secreto em suas vidas agitadas e lá guardam o poeta septuagenário, também o poeta criou um universo onde os mistérios femininos se revelam - ou se escondem. É sobre esse encontro que trata a canção "Because of", segunda faixa de Dear heather, novo álbum do compositor canadense Leonard Cohen. Lançado mundialmente em final de outubro, o CD saiu no Brasil em dezembro. Um disco belo e estranho, como vários de seus mais importantes álbuns. A faixa de abertura é "Go no more a-roving", um poema do inglês Lord Byron (1788/1824), musicado por Cohen. A partir daí, a voz de Leonard, cada vez mais grave, áspera e paradoxalmente suave, canta e eventualmente apenas declama poemas carregados de lirismo e observações surpreendentes. Esse novo disco de Leonard Cohen, lançado três anos depois do anterior, Ten new songs, e cinco depois de sua saída de Mount Baldy, um mosteiro zenbudista onde passou meia década e de onde saiu com o status de monge, se encaixa com perfeição a uma frase de Bob Dylan sobre seu trabalho. "As canções de Cohen se parecem cada vez mais com orações", disse o poeta, ao ouvir "Various positions", lançamento de 1984. De fato, as canções de "Dear heather" são autênticos hinos religiosos, com a ressalva de que não prestam reverência a nada, a ninguém - o velho bardo, que já foi chamado de "Mr. Sadness" (Senhor Tristeza), permanece fiel a seus temas, abordando mulheres misteriosas, amores frustrados, o ser humano e suas fatalidades. As canções são emolduradas por sutis arranjos instrumentais, especialmente de piano, harpa judaica, violino, piano e sopros. Estão presentes o sax tenor de Bob Sheppard, o violino de Raffi Hakopian, a flauta de Paul Ostermayer, músicos que já o acompanharam em outros discos memoráveis. A interpretação de Cohen é apoiada pelos delicados vocais femininos de Sharon Robinson e Anjani Thomas, que no entanto às vezes sufocam a sua voz, que poderia aparecer mais em algumas faixas. Leonard Cohen lançou Dear heather um mês depois de completar 70 anos. Desde seus primeiros poemas, publicados a partir dos 22 anos, ele vem tentando compreender o absurdo de viver e os mistérios dos relacionamentos para ser mais explícito, os mistérios das mulheres. Depois que começou a enriquecer a música pop com suas melodias suaves e seus poemas profundos, a partir de 1968, os diálogos travados com essas mulheres enigmáticas, complexas, estranhas, tornaram-se emblemáticos. Ninguém faz canções como Leonard Cohen. Dear heather dá prosseguimento a essa obra especialíssima. Fala de amor, solidão, abandono, e também de coisas que o poeta jamais entenderá, como o ataque de 11 de setembro a Nova York. E o encarte do CD é ilustrado com desenhos do poeta, revelando assim mais um de seus grandes talentos. [Alexandre Marino] 5 Interpreta Paulinho da Viola, de Nó em Pingo d’Água. Rob Digital. 2003. Paulinho da Viola freqüentou a casa de Jacob do Bandolim e suas excelentes composições de choro só não são mais conhecidas porque ficaram de certa forma escondidas por suas não menos excelentes composições de samba e MPB que fazem tanto sucesso. Neste disco o Nó em Pingo d’Água vem preencher a lacuna. E realiza a tarefa com o brilho dos conhecedores. Afinal eles acompanham e freqüentam Paulinho há muitos anos. Celsinho Silva (percussão) e Mário Sève (sopros) assinam a produção e a direção musical, Rodrigo Lessa (bandolim e cavaquinho), Rogério Souza (violões) e Papito (baixo) contribuem com seu talento de ótimos instrumentistas.Todos participam dos arranjos. Como convidado especial Cristóvão Bastos faz parceria com Paulinho na música Não me Digas Não, para a qual além de trazer seu piano virtuoso ainda escreveu o arranjo. Cesar Faria, do tradicional Época de Ouro, assina a única faixa que não é de Paulinho, o belo Choro em Ré Menor. E Paulinho da Viola, lembrando os velhos tempos de roda de choro, empunhou seu cavaquinho na faixa Rosinha, Essa Menina. Destaque para o incrível arranjo de Sinal Fechado, um clássico que renasce de forma inteiramente nova. O encontro perfeito entre a competência e o bom gosto do Nó em Pingo d’Água e a classe do repertório de Paulinho da Viola. Com ênfase no choro, gênero de base da carreira do compositor, mas trazendo também um maxixe, uma valsa, um samba e a antológica Sinal Fechado, o CD exibe arranjos modernos e execução instrumental só encontrados entre músicos de muito talento e maturidade. Nesta festa, Paulinho, chorão consagrado, voltou às origens e tocou cavaquinho, Cristovão Bastos contribuiu com seu piano e um arranjo magistral, o tradicional César Faria, do Época de Ouro, criou um belo tema e a turma do Nó esmerou-se nos arranjos. Enfim, uma festa da música brasileira. 6 Nova saudade, de César Camargo Mariano. Rob Digital. Este CD faz parte da coletânea do selo japonês aosis records sobre música brasileira enfocada em um contexto jazzístico. Quem conhece a história deste extraordinário músico, arranjador, produtor e compositor desde os tempos do Sambalanço Trio e do Som Três, passando pelo período áureo de Elis Regina certamente vai se deliciar com esta Nova Saudade. Cesar fez um disco com o sabor de um bom vinho, que se degusta a cada faixa. De Chega de Saudade com a participação do clarinetista Paquito D’Rivera ao clássico The Shadow of Your Smile, passando por três belas composições próprias, Cesar cativa o ouvinte com seus arranjos simples e sofisticados, e uma variedade de timbres que vão do piano acústico ao vibrafone. Para completar, tem ainda Felicidade de Tom Jobim e Pra Machucar Meu Coração de Ary Barroso. 7 Off key, de Leila Maria. Rob Digital. 2004. Gene Lees, Ray Gilbert, Norman Gimbel, o casal Alan e Marilyn Bergman podem não ser nomes exatamente conhecidos dos brasileiros. Nem letristas assim tão bons quanto os nossos Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Vitor Martins, Paulo Sérgio Valle, Nelson Motta, Abel Silva... Mas foram eles, e mais alguns poucos letristas americanos, que transformaram as palavras destes, e de outros grandes poetas da música brasileira, em moeda de circulação internacional. E permitiram que os maiores cantores da língua inglesa - Sinatra, Ella, Sarah e quem mais se possa imaginar que tivesse alguma sensibilidade musical na América nos últimos 50 anos - cantassem música brasileira com naturalidade e freqüência. Música brasileira cantada em inglês virou quase um gênero da música americana; Jobim, Dori Caymmi e Marcos Valle e tantos brasileiros, autores de standards no mundo inteiro. Leila Maria - que por sua intensa musicalidade, sua capacidade de improvisar, seu timbre único e quente, seu padrão de acabamento, sua técnica vocal, seu inglês perfeito - volta e meia é comparada aos grandes cantores americanos resolveu juntar essas duas grandes pontas da produção musical do mundo. Em "Off key" (Rob Digital), seu segundo disco, canta apenas música brasileira. E apenas em inglês. No disco idealizado e produzido pelo expert em cantoras José Milton (com um curriculo recheado de Nanas Caymmis, Miúchas...), Leila mescla o tempo todo suas duas culturas musicais, a brasileira e a americana. A brasileira no repertório, na inventividade e na intimidade com o samba - ouçam o "Summer samba" ("Samba de verão", dos irmãos Valle vertido por Norman Gimbel, o mesmo da "Girl from Ipanema") e comparem seu balanço com as dezenas de gravações desta canção nos últimos anos... A americana no indisfarçável sotaque jazzístico de sua interpretação - ouçam o "All that`s left is to say goodbye" ("É preciso dizer adeus", samba-canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, vertido por Ray Gilbert) e digam se não é uma filha musical de Bille Hollyday quem está cantando... Tal intimidade com o jazz fez com que um dos maiores fãs de Leila Maria, Ed Motta (outro mestre nas duas culturas musicais), dissesse certa vez: - Leila tem o padrão americano, é uma das grandes cantoras vivas do mundo. Isto quando Ed convidou Leila a gravar com ele "A balada do mar salgado", em seu CD mais jazzístico, "Dwitza". Em "Off key", José Milton escolheu para Leila Maria a jazzística formação de trio: o piano de Cristóvão Bastos, o baixo de Jorge Helder e a bateria de Carlos Bala, acrescido do violão de João Lyra, num quarteto insuperável na música brasileira de hoje, músicos que, como a cantora, passeiam com desenvoltura pelas duas culturas musicais que aqui se mesclam. Para o clima brazilian jazz ter ficado impecável, foi chamado para um inspirado solo de flugelhorn em "É preciso dizer adeus", o trompetista Jessé Sadock, um dos maiores nomes da nova geração do jazz brasileiro. Leila e os músicos gravaram juntos no estúdio, como se fosse ao vivo. Como, aliás, deve ser um disco em que a pulsação de quem sabe tocar é tão importante quanto o bom gosto no repertório, as invencões harmônicas, e a precisão de quem canta. O repertório parte evidentemente da bossa nova, a música que, sobretudo a partir do concerto do Carnneggie Hall, em 1962, estabeleceu de fato o casamento entre as músicas brasileira e americana. Mas não se restrige a ela. Alguns dos mais internacionais compositores brasileiros do período pós-bossa nova estão aqui. Como Ivan Lins (e Vitor Martins, com versão de Alan e Marlyn Bergman), de quem Leila grava "The Island", nada menos do que a grande balada "Começar de novo", recentemente gravada por cantoras de registros distintos como Barbra Streisend e Jane Monheit. Ao contrário destas, contudo, Leila dá uma versão cheia de suingue, conduzida pelo baixo de Jorge Helder, sem perda da substância dramática da canção. Dori Caymmi, ele próprio radicado nos Estados Unidos, é autor de "Like a lover" (versão do mesmo casal Bergman para "O cantador", música catapultada para o sucesso no Brasil por Elis Regina no Festival da Record de 1967), uma das canções brasileiras mais gravadas no exterior, que ganha uma versão levíssima, lírica de Leila, reforçando a letra em inglês que fala: "Como um amante, o sol da manhã/Nasce lentamente e beija o seu acordar". "Nothing will be as it was", de Milton Nacimento (e Ronaldo Bastos, com versão de R. Vincent), reaparece introduzida apenas por voz e contrabaixo, jazzística a não mais poder, o piano de Cristóvão fazendo de forma suingadíssima o famoso intermezzo da versão original, Carlos Bala quebrando tudo na bateria e Jorge Helder no walking bass. Das grandes canções de seu pianista Cristóvão Bastos, "Let`s start right now" , de linda melodia, harmonia riquíssima valorizada pelo acompanhamento, desta vez só de piano, do próprio autor. Trata-se da versão de Roxanne Seeman para "Raios de luz" que, com letra de Abel Silva, fez sucesso na voz de Simone no início dos anos 90. Do presente ao passado, Leila vai na origem de tudo, de quando a moderna música brasileira começou a dominar o mundo, o filme "Orfeu do carnaval", de onde pinçou uma certa "A day in the life of a fool", ela mesma, a "Manhã de carnaval" (Luiz Bonfá e Antônio Maria) em versão de Carl Sigman. Música de grande violonista, destacase nessa interpretação de Leila quase toda no improviso, inventando sobre a melodia, o acompanhamento do violão de João Lyra. Na bossa nova, Leila e os músicos sobram. Estão em casa. Em duo, Cristóvão Bastos e João Lyra abrem o disco com a majestosa e pouco conhecida introdução do "Desafinado" (Tom Jobim e Newton Mendonça), para Leila mandar com todo o seu suingue, abusando dos graves e da inventiva divisão ritmica a sua versão em inglês, "Off key" (de Gene Lees), que dá título ao disco. Em "Dindi" (Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, versão de Ray Gilbert), Leila arrasa como baladista. Noutro clássico de Jobim, "Dreamer" ("Vivo sonhando", letra em inglês de Gene Lees), mostra como um samba pode ser cantado de forma sutil. Em "Quite night of quite stars" (a "Corcovado" do mesmo Lees) recebe a mais bossanovista das interpretações de Leila, quase sem efeitos vocais, apenas pequenas invenções ritmicas e com direito a um singelo solo de Cristóvão. A guitarra elétrica de João Lyra introduz "The day it rained", versão de Ray Gilbert para um clássico das internas da bossa nova, "Chuva" (Durval Ferreira e Pedro Camargo), das melodias mais bonitas do mundo, já sacada por Sarah Vaughan no passado e recriada com classe agora por Leila. Outro clássico secreto da bossa nova, "Razão de viver" (Eumir Deodato e Paulo Sérgio Valle), irresistivelmente jazzística no piano elétrico (um Fender Rohdes) de Cristóvão e na melodia pronunciada com cuidado por Leila, reaparece sob o título de "A little tear" (letra do mesmo Gilbert). Fecha sutil e feliz, um disco marcado por sutileza e felicidade. Escolada na noite, onde se acostumou a cantar o melhor da música americana que conheceu ainda criança, na discoteca do pai fã de jazz, e criada no Brasil das grandes canções, Leila Maria parece que viveu tudo que viveu para chegar aqui e cantar, para o Brasil e para o mundo, a força dessas duas culturas musicais. [Hugo Sukman] 8 Pixinguinha, de Paulo Moura e os batutas. Rob Digital. Paulo Moura e Pixinguinha fazem uma combinação perfeita em musica, dos arranjos à interpretação. É como se o instrumentista e arranjador fizesse uma leitura da alma do compositor, e não apenas de suas partituras. Paulo Moura concebeu este trabalho para homenagear o mestre na ocasião de seu centenário. Escolhe o repertório, fez os arranjos e remontou com um time de primeira, a versão atual dos Oito Batutas o grupo com o qual Pixinguinha viajou mundo afora. Os Batutas de Paulo Moura são Joel Nascimento no bandolim, Jorge Simas no violão de sete, Márcio Moura no cavaquinho, Jorginho do Pandeiro, Jovi na percussão e Zé da Velha no trombone. Deste trabalho saiu um primeiro CD que ganhou o Prêmio Sharp de 98. Esta edição que sai agora traz uma nova gravação mais quente e vibrante, de um show que o grupo fez ao final da turnê, e por isto mesmo com muito mais entrosamento, suingue e improvisos. O repertório deste CD é quase todo dedicado às composições de Pixinguinha, dos grandes sucessos como "Carinhoso", "Rosa" e "Um a Zero", a pérolas como "Lamento", "Ainda me recordo", "Naquele Tempo" e "Ingênuo" passando por músicas menos conhecidas, mas nem por isto menos geniais, como "Segura Ele" e "Proezas de Solon". Outras quatro faixas não assinadas pelo mestre têm toda a atmosfera de sua época e completam um repertório clássico do melhor da música carioca: "Pelo Telefone" (Donga e Mauro de Almeida), "Batuque na Cozinha" (João da Bahiana), "Mistura e Manda" (Nelson dos Santos Alves) e "Urubu Malandro" (Louro e João da Bahiana). Nesta última, aliás, Os Batutas comandados por Paulo Moura dão um show de interpretação, improvisando na melhor tradição dos grandes discos de Jazz. E o band-leader esbanja em todo o disco seu virtuosismo na clarineta. parceiros da agulha nesta seção Discos para Agulha deverão ser enviados aos editores, nos endereços a seguir: Floriano Martins - Caixa Postal 52924 Ag. Aldeota - Fortaleza CE 60151-970 Brasil Claudio Willer - Rua Peixoto Gomide 326/124 - São Paulo SP 01409-000 . galeria de revistas . índice geral exégesis (Porto Rico) [Floriano Martins] três revistas hispano-americanas: Archipiélago (México), Maga (Panamá), Matérika (Costa Rica) [F.M.] revistas hispano-americanas, I: um olho no passado recente [F.M.] retorno ao portal revistas hispano-americanas, II: um encontro de duas linguagens [F.M.] triplov (Portugal): diálogo com Maria Estela Guedes [F.M.] rascunho (Brasil): diálogo com Rogério Pereira [Claudio Willer] blanco móvil (México): diálogo com Eduardo Mosches [F.M.] jornal de poesia (Brasil): diálogo com Soares Feitosa [F.M.] digestivo cultural (Brasil): diálogo com Julio Daio Borges [C.W.] el artefacto literario (Suécia): diálogo com Mónica Saldías [F.M.] Jornal da ABCA (Brasil): diálogo com Alberto Beuttenmüller [F.M.] O Escritor (Brasil): diálogo com Erorci Santana [F.M.] Fokus in Arte (Brasil): diálogo com André Lamounier [F.M.] Storm (Portugal): diálogo com Helena Vasconcelos [Maria João Cantinho] Punto Seguido (Colombia): depoimento de Oscar Jairo González Babel (Brasil): diálogo com Ademir Damarchi [C.W.] Corner (Estados Unidos): diálogo com Carlota Caulfield [Maria Esther Maciel] Arquitrave (Colombia): diálogo com Harold Alvarado Tenorio [F.M.] Fronteras (Costa Rica): depoimento de Adriano Corrales Arias Salamandra (Espanha): apresentação de Lurdes Martínez Tropel de Luces (Venezuela): diálogo entre Pedro Salima & amigos (Antonio Guerra, Luis Aníbal Velasquez, Mirimarit Parada, Jesús Cedeño y Eduardo Gasca) Iararana (Brasil): diálogo com Aleilton Fonseca [F.M.] Amauta (Peru): ensaio de Carlos Arroyo Reyes Portal de Poesía Contemporánea (Espanha): depoimento de maría martín arévalo Alforja (México): diálogo com José Vicente Anaya & José Ángel Leyva [F.M.] Capitu (Brasil): diálogo com Edson Cruz [F.M.] Común Presencia (Colombia): diálogo com Gonzalo Márquez Cristo & Amparo Osorio [F.M.] Cult (Brasil): diálogo com marcelo rezende [C.W.] Malabia (Espanha): diálogo com Federico Nogara [F.M.] Vaso Comunicante (México): diálogo com Ludwig Zeller & Susana Wald [F.M.] Matérika (Costa Rica): diálogo com Alfonso Peña & Tomás Saraví [F.M.] Palavreiros (Brasil): diálogo com José Geraldo Neres [C.W.] Piel de Leopardo (Argentina): diálogo com Jorje Lagos Nilsson [F.M.] editores da agulha parceiros da agulha . . revistas em destaque . .. exégesis (porto rico) Ao traduzir alguns ensaios de José Luis Vega (Três entradas para Porto Rico, Fund. Memorial da América Latina, São Paulo, 2000), observei que a realidade política e cultural de Porto Rico possui um radical de violência, cujo marco é o despejar de forças militares estadunidenses em suas praias, em 1898. Até hoje o país não existe como tal, e sofre as adversidades da colonização em seu cotidiano – imposição de cidadania estadunidense, recrutamento militar, ameaça de distorção do próprio idioma nas escolas, cerceamento dos direitos políticos etc. Em meio a tudo isto, impressiona a condição de resistência cultural daquele povo. Talvez tenhamos perversamente nos acostumado àquela situação, sendo raro que uma voz de eco internacional repercuta sua indignação. No entanto, as principais vozes internas, em Porto Rico, estão sempre alertas e atuantes, e graças a elas uma cultura se produz e se individua, ao longo dos tempos, quando menos intrigando aqueles que pensem o contrário. O próprio José Luis Vega, ao fundar a revista Ventana, nos anos 70, logo em seu segundo número alertava: "Os artistas e escritores porto-riquenhos de hoje devem ter um compromisso moral, um pacto digital, com a libertação de nosso povo", ao mesmo tempo em que lembrava que "esse pacto não pode nem deve significar a míngua da qualidade artística de sua obra; pelo contrário, deve significar a superação constante de sua obra e de si mesmo como indivíduo". Politicamente Porto Rico é um fantasma. Não existindo como nação, tampouco existe como célula estadunidense. Sua cultura, no entanto, firmou-se e afirmou-se, podendo contar com uma leitura consistente no tocante aos inúmeros desdobramentos desde o Modernismo até os dias de hoje. Em cada uma das etapas vencidas por essas instâncias estéticas, encontramos vozes importantes (sobretudo na literatura e nas artes plásticas) destacando-se naquela região. Como costuma ocorrer em diversas instâncias, é de suma importância a presença de revistas de cultura, que calibram as relações entre criação e produção. Dentre as que alcançaram destaque na trajetória cultural portoriquenha, cito Ventana, Guajana, Mester e Zona: carga y descarga, que desempenham destacado papel nos anos 60 e 70. Nas duas últimas décadas, podemos pensar tanto em Mairena quanto em Exégesis. A primeira, criada e dirigida por Manuel de la Puebla, há poucos meses encerrou um ciclo de 20 anos de existência, fechando suas páginas e propiciando o surgimento de outra publicação, Julia –homenagem a Julia de Burgos, uma das máximas expressões literárias daquele país. Já Exégesis, surgiu em 1986, animada por um grupo de intelectuais vinculados ao Colégio Universitário de Humacao, tendo à frente Andrés Candelario. Desde o princípio, havia entre eles o poeta Marcos Reyes Dávila, que viria a dirigir a revista em 1990, mantendo-se no cargo até hoje, exceto por uma curta passagem de Carmen Alverio e Rogelio Ruiz Gómez, no período de 1994/95. Tendo sido concebida como veículo de expressão pública das atividades intelectuais da referida intelectualidade, Exégesis, no entanto, não se fechou àquele mundo acadêmico, desde cedo compreendendo que "o crescimento intelectual só é alcançado no plano bidirecional do diálogo" – no dizer justamente de Marcos Reyes Dávila –, ao mesmo tempo em que seu corpo editorial buscava uma perspectiva de expansão editorial que não se viabilizaria caso reflexão e investigação de cunho científico não se aliassem à criatividade intelectual e artística. Assim é que Exégesis, desde o princípio, mostrou-se visceralmente comprometida em romper o muro que separa academia e cultura. E o fez com base em um rígido critério tripartido, que permite igualdade de espaço para autores da instituição que a publica, do país e do exterior, em momento algum limitada essa participação a vínculo acadêmico. Logo nos perguntamos como se viabiliza um projeto desses, e seu diretor nos informa que Exégesis tem recebido "o auxílio espontâneo de toda a comunidade acadêmica". Compreendida como um bem comum, deve ser zelada por todos. A este respeito, segue afirmando Reyes Dávila que "as revistas são tanto instrumentos de expressão e divulgação como o são de projeção e promoção", de maneira que "estão sempre articuladas a partir de circunstâncias invariavelmente diferentes que as definem". Partindo inicialmente para ousada aposta em manter correspondência com outros países, logo Exégesis teria suas páginas marradas pela presença de nomes como Elvio Romero, Ernesto Cardenal, Floriano Martins, Isabel Allende, Jorge Rodríguez Padrón, José Donoso, José Roberto Cea, Manuel del Cabral, ao mesmo tempo em que aí estabelecia um diálogo que viria a propiciar a difusão, no exterior, daqueles nomes essenciais da cultura porto-riquenha. Compreensão bidirecional do diálogo, algo bem distante do mero jogo de troca de favores que se enraizou na cultura brasileira. Graças a essa atitude despojada – admirável lição para o resto da América Latina –, uma pequena comunidade acadêmica tem conseguido dialogar com o mundo. Exégesis hoje se encontra inteiramente disponível na Internet, ao mesmo tempo em que segue recebendo pedidos de assinaturas de vários países, o que prova, além do mais, que as mídias são conjuntivas e não disjuntivas. Vale ainda citar as lúcidas palavras de seu diretor, Marcos Reyes Dávila: "Cremos em Exégesis que o peso posto sobre uma noção fátua e flatulenta da incerteza é um lastre, uma rémora, um freio e um retrocesso histórico a formas análogas à da torre de marfim modernista de finais do século XIX. Cremos que a reflexão e compreensão da realidade não se robustece em um meio inativo, porque a reflexão resulta fenomenologia, elucubração de imagens vácuas, placebo inerte e desnutridor – como o observou Marinello –, além de galã ou vedete – conforme seja o caso – que se esgota na figuração retórica." As revistas chegam à nossa mesa de maneira diversa. É possível que não percebamos além daquele número que folheamos. No entanto, carregam em si toda uma história, espelhos preciosos da cultura de um país. Nos habituamos, por alguma perversão quase irreversível, a estabelecer padrões de cultura. A telenovela no Brasil, nos Estados Unidos e no México, por exemplo, é um recorte magnífico de uma aparentemente distinta forma de decadência cultural nos três países. Outro exemplo: o Uruguai vive hoje, em sua imprensa diária, o fantasma da contenção de despesas, que rouba fôlego da área menos importante à vida útil de uma empresa. Qual? A cultura. A imprensa no Brasil já se curvou a todas as exigências de mercado – na verdade, ajudou a fundar todas elas. Por que misturo os assuntos? Porque o fluxo de capital, de alguma maneira, acabou nos convencendo que o homem não é mais o lobo do homem, mas sim o agiota do homem. Floriano Martins Exégesis. Revista del Colegio Universitario de Humacao, UPR. Diretor: Marcos Reyes Dávila ([email protected]). Acesso virtual: http://cuhwww.upr.clu.edu/exégesis. 2.000 exemplares, formato 21,5x28 cm, 100 páginas, periodicidade quadrimestral. Matéria gentilmente cedida pelo jornal O Escritor, da UBE - União Brasileira de Escritores. . revistas em destaque . .. três revistas hispanoamericanas: archipiélago, maga, matérika 1 Investimentos na produção cultural tendem a crescer ou diminuir de acordo com o influxo de nomes envolvidos ou com a solidez das propostas apresentadas? Predileção por aquelas produções com maior potencial de visibilidade definiria o assunto? A questão giraria unicamente em torno do estratégico lobby? Essas indagações me vêm à tona quando penso nas razões da rara circulação de revistas de cultura no Brasil. Rigorosamente não temos tradição alguma nessa área de produção cultural. Se penso no aspecto da credibilidade, logo me pergunto o que leva o Banco Santander Mexicano a investir em uma publicação naquele país. O próprio estado mexicano, através do IMSS – equivalente de nosso INSS –, com alguma freqüência patrocina revistas de cultura. Igualmente contribuem as universidades, privadas ou não. Caberia então pensar no impedimento de circulação de informação e reflexão cultural, no Brasil, através desse veículo de comunicação. Em 1997 a UNESCO deu respaldo cultural à revista Archipiélago, do México, considerando-a importante instrumento de integração cultural latino-americana. O fato coincidia com o segundo aniversário da publicação, e seu diretor, Carlos Véjar Pérez-Rubio, sentia orgulho ao dizer que Archipiélago se trata de "uma publicação nascida no México em 1995 como expressão de um vasto projeto cultural que tem o propósito de contribuir para a unidade dos povos da América Latina e do Caribe, incluindo as comunidades de origem hispana residentes em países como Estados Unidos e Canadá". É bem verdade que a revista surgiu em 1992, quando teve o número zero publicado, e desde aquele momento buscou articulação entre os vários países estabelecidos como meta, até finalmente definir uma política de ação e conta hoje com 31 números publicados, rigorosamente dentro de uma circulação bimestral. Carlos Véjar nos informa um pouco mais: "O projeto Archipiélago e sua revista tem se apresentado até aqui em importantes eventos culturais realizados em Barbados, Bolívia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, França, México, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela. Sua proposta de articular uma rede de centros culturais onde se possa desenvolver o movimento cultural integrador, intitulada Casas de Nossa América, tem sido recebida com grande interesse e várias instituições se manifestaram dispostas a apoiá-la." Archipiélago surge não isoladamente como uma revista de cultura, mas antes como um sólido projeto de integração cultural, que envolve tanto a criação de um programa editorial como o fluxo de navegação, a circulação pelos vários países, troca de idéias etc. A revista em si tem desempenhado um duplo e importante papel, o de informar acerca de produções culturais em praticamente toda a América e discutir mais detidamente aspectos essenciais à compreensão dessa realidade. Tanto encontramos abordagens genéricas – a dimensão cultural da globalização, a cosmovisão centro-americana – como específicas – estudos sobre a obra de inúmeros artistas, ao lado de ensaios fotográficos, poemas, entrevistas etc., abrangendo um universo amplo de criação e crítica. Some-se a isso a realização de encontros que propiciam a discussão em torno de perspectivas culturais envolvendo o continente de fala hispânica e suas relações complexas. Naturalmente que o Brasil poderia participar desse importante projeto não fosse tão leviana a concepção de si mesma que define nossa cultura. A complexa leitura que nos cabe acerca de uma unidade latino-americana é assunto tratado com diversidade e freqüência em Archipiélago, o que permite compreender melhor a trama que envolve matizes culturais que se aproximam e se distanciam entre si. Haverá aspectos de ordem política ou econômica separando o Brasil da América Hispânica? Como aplicar a estatística em nossa condição irmanada de terceiro mundo? O idioma definirá o panorama cultural? Naturalmente não se pode aqui falar em unidade perdida. Quando menos o assunto seria da ordem de uma falha estratégica, de uma veleidade cultural. As páginas de Archipiélago estão tomadas de discussão dessa ordem, buscando elucidações e ambientação prática para o tema. Ao mesmo tempo, em momento algum se deixa de considerar a criação artística, reproduzindo obras plásticas e versos, sempre cuidando de não se tornar refém dos nomes recorrentes, buscando uma cumplicidade de pauta entre o conhecido e o desconhecido, papel fundamental que deve desempenhar um editor em qualquer circunstância. Archipiélago bem poderia encontrar entre nós uma correlação de interesses com a revista Nossa América, da Fundação Memorial da América Latina. Não resta dúvida que há um aspecto aproximativo, quase confluente, na leitura de pauta de ambas publicações. E logo ressurgem as inquietações: por que não abraçamos uma causa – qualquer uma – com veemência? Com que gratuita indiferença ou superioridade observamos os hispano-americanos? E o que impede uma produção consistente que permita a circulação sistemática de Nossa América? Romper isolamentos provocados pela presunção talvez seja um bom estopim. 2 Ao contrário do México, onde se pode contar com uma larga tradição na circulação de revistas culturais, no Panamá o que encontramos é um território bastante inóspito, onde a atividade intelectual carece de condições diversas de produção e difusão, não havendo editoras e sendo bastante reduzido o número de livrarias. Em meio a este quadro, torna-se ainda mais abnegado o esforço do poeta e prosador Enrique Jaramillo Levi em manter funcionando a revista Maga, criada por ele há quase duas décadas. Em conversa com ele, revela-se a origem da revista: "Maga nasce em fevereiro de 1984, o mês em que morre esse grande escritor argentino, Julio Cortázar. Seu nome tem dois significados: é uma homenagem a ele pelo personagem de La Maga em seu famoso romance Rayuela; mas também esta revista é, e tem sido desde o princípio, uma verdadeira maga da cultura literária no Panamá, pela dificuldade que significa fazer cultura neste país, ter estímulos, receber apoio econômico, inclusive ter leitores fiéis ou permanentes… é como tirar coelhos de cartola e lenços das mangas, embora seja muito mais difícil, porque vivemos ainda a fazer malabarismos e aparentes mágicas para seguir adiante sem cair o nível de qualidade gráfica e de conteúdos, sem deixar-se vencer pelos numerosos obstáculos." Maga tem representado um papel fundamental na cultura panamenha, sobretudo no que diz respeito à literatura e à reflexão crítica sobre cultura e sociedade. "Espaço aberto à criatividade literária e à análise crítica", como ressalta Jaramillo Levi, em sua página receberam acolhida generosa tanto escritores já conhecidos como também tem sido palco de estréia de muitos deles, mostrando-se igualmente aberta ao dialogar com a cultura de outros países. Pergunto-lhe então como tem funcionado Maga durante tantos anos: "Maga já morreu duas vezes, e por duas vezes ressuscitou. Sempre por motivos econômicos. Suas três etapas são: 1984-1987; 1990-1993; 1996 até o presente. Agora é uma co-edição entre a Fundação Cultural Signos, que presido, e a Universidade Tecnológica do Panamá, onde sou coordenador de difusão cultural. Mas estamos entrando uma vez mais em uma etapa difícil. Há uma forte contração econômica no país e os empresários estão fechados no apoio à cultura (nunca fizeram muito por ela), de maneira que no momento estamos circulando sem anunciantes." - O que representa esta Fundação no âmbito da cultura panamenha? "A Fundação Cultural Signos nasce em abril de 1997 como uma alternativa à indiferença e incapacidade dos governos de turno para implementar uma política editorial coerente e sólida que contribua para tirar do anonimato um número considerável e crescente de novos escritores panamenhos que, já a princípio da década de 90, têm material literário de uma qualidade mais que decorosa e, além do mais, desejos de dá-la a conhecer como um primeiro passo para seu desenvolvimento intelectual e humano." - Além da função editorial e da co-produção da revista Maga, o que mais tem realizado? "Como complemento às iniciativas editoriais desta Fundação, também propusemos, desde o princípio, duas outras, igualmente importantes para a formação de novos escritores de talento: a docência – criação de seminários, oficinas literárias, conferências e mesas-redondas com temas afins à literatura, organização de encontros de escritores e lançamento de livros – e a criação de incentivos literários específicos." Nos 45 números até aqui publicados, a revista Maga é o mais sólido veículo de difusão da literatura no Panamá. Deveria haver um esforço conjunto de toda a parcela da sociedade panamenha que lida com cultura, no sentido de não se permitir a extinção desse empenho estóico de Jaramillo Levi, pelo notável estímulo à criação literária em que se converteu. Fato é que as duas entidades que a mantêm hoje são responsáveis pela produção majoritária de livros no país. E Maga é a câmara de eco de toda essa produção. Eventuais discrepâncias devem ser consideradas em aberto, e levadas a público, o que só reforçará o panorama cultural no Panamá. 3 Quaisquer dificuldades apontadas até aqui em nada justificam a inação e a má aplicação de recursos. Em muitos países a condição é quase inteiramente nula no que diz respeito à produção de uma revista de cultura. Em outros simplesmente o obstáculo radica em uma sutil manifestação da usura, o inconciliável ego daqueles que detêm situações decisivas de poder (qualquer poder). Vem da Costa Rica um exemplo de desprendimento e compreensão da realidade dada. O contista Alfonso Peña, hoje ao lado do poeta Guillermo Fernández, edita a revista Matérika. Com apenas três números publicados, a revista já afirma uma ousadia estética, ao somar obra gráfica e literária em um objeto que se destaca pela contundência plástica e intelectual. A cada edição é convidado um artista plástico, que a ilustra completamente. Os dois primeiros números foram ilustrados pelos artistas costarriquenhos Mario Maffioli e Hernán Arévalo, enquanto que o terceiro esteve a cargo do brasileiro Eduardo Eloy. Em suas páginas já foram publicados escritores como Saúl Ibargoyen, Alfonso Chase, Mario Camacho, e inclusive uma larga apresentação de poetas brasileiros, incluindo Claudio Willer, Dora Ferreira da Silva e José Santiago Naud, dentre outros. Contudo, o que importa aqui destacar é a antecedência deste projeto, cujo primeiro momento encontramos ainda nos anos 80, quando o mesmo Alfonso Peña cria a revista Andrómeda, aventura originária que circulou em duas dezenas de números e propiciou um diálogo entranhável entre escritores e artistas na Costa Rica e diversos outros países. Diante de impedimentos corriqueiros, a revista acabou deixando de existir. Nos anos 90 surgiria um segundo momento, desta vez em forma de jornal, cujo nome era International Graphiti, também com circulação de mais de 10 números. Em todos estes momentos esteve sempre presente a determinação de Alfonso Peña pelo estímulo ao diálogo como maneira decisiva de se fazer uma determinada cultura compreender-se a si mesma, vindo então a afirmar-se como tal. O registro de marca Andrómeda hoje foi convertido em uma galeria de arte que igualmente desempenha funções editoriais, por onde se publica a revista Matérika. O que melhor caracteriza uma defesa estética de Matérika é a abertura para um diálogo internacional, talvez medida de um cosmopolitismo que encontramos em San José, mas sobretudo uma compreensão de que os governos em nossos países, na América Latina, já são suficientemente responsáveis por toda forma de isolamento. Sendo uma afirmação de pluralidade, Matérika é igualmente uma afirmação da cultura costarriquenha. Ao lado da revista, confirmando o projeto inaugural de Alfonso Peña, que reúne nomes de peso na cultura daquele país, consolida-se galeria de arte, produtora de vídeos e editora, permitindo um raio de ação mais amplo e consequentemente um diálogo mais consistente. Floriano Martins Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América. Diretor general: Carlos Véjar Pérez-Rubio. Av. Baja California 349, Colonia Condesa, México DF 06170 México. Acesso virtual: http://www.archipielago.com.mx. Endereço eletrônico: [email protected]. 4.000 exemplares, 90 páginas, periodicidade bimestral. Maga. Revista Panameña de Cultura. Editor: Enrique Jaramillo Levi. Apartado Postal 10276 Panamá, 4 Panamá. Acesso virtual: http://www.utp.ac.pa/revistas/maga_actual.htm. Endereço eletrônico: [email protected]. 1.000 exemplares, 80 páginas, periodicidade quadrimestral. Matérika. Editores: Alfonso Peña e Guillermo Fernández. Apartado Postal # 159-1002, Paseo de los Estudiantes, San José, Costa Rica. Acesso virtual: http://www.zurqui.com/crinfocus/and/art.html. Endereço eletrônico: [email protected]. 2.000 exemplares, 80 páginas, periodicidade trimestral. Matéria gentilmente cedida pelo jornal O Escritor, da UBE - União Brasileiras de Escritores. . . revistas em destaque . .. revistas hispanoamericanas, I: um olho no passado recente São duas as circunstâncias básicas que norteiam a criação de uma revista literária: concentram em suas páginas os postulados estéticos de um determinado movimento ou escola, ou então se realizam na simples difusão eclética de textos. Os dois casos são perfeitamente corretos desde que o editorial defina e assuma a tendência escolhida. Mais recentemente as revistas se inclinam pela segunda opção, o que nos leva a uma aparente digressão: o que há por trás da reduzida ocorrência de movimentos literários ao longo das últimas décadas, hoje praticamente extintos? Entre os muitos valores que perdemos encontram-se o da palavra dada e o de compartilhar interesses. De todas as formas o homem foi levado a isolar-se em si mesmo e a não encontrar mais significado em honrar princípios e compromissos. Isto se deu de maneira tão simples que é um absurdo que tenhamos caído em artifício tão pouco engenhoso. E qual foi este astuto mecanismo? Isolar imagens, conceitos, significados, ecos. Tudo passa a ter sentido isoladamente, esdrúxula falácia, como se tivéssemos um homem aqui, uma cadeira ali e uma revista mais à frente. À medida em que ganha terreno esta falácia, deixamos de nos ver. Desacreditamos na idéia compartilhada e nos tornamos vassalos de uma auto-suficiência inóspita. Muitas vezes sem que nos apercebamos, comemoramos mais o surgimento de uma nova revista do que o marco de uma outra haver chegado a seu número 100. Este número para nós soa como um escândalo. Como algo pode durar tanto? Esta é a heresia pós-moderna: que algo dure mais que um instante. Então deveríamos queimar na fogueira do esquecimento um equatoriano chamado Fredo Arias de la Canal, por haver publicado no mês passado o número 424 da revista Norte, que edita no México desde 1929. Trata-se verdadeiramente de um escândalo e não pode aqui ser tomado como base para a nossa conversa. Contudo, podemos pensar no esforço do paraguaio Marcos Reyes Dávila que há mais de uma década edita em Porto Rico a revista Exégesis, mesmo país em que Manuel de la Puebla dirigiu, por 18 anos, a revista Mairena. E quase duas décadas levou Octavio Paz envolvido com a direção da revista Vuelta, por ele fundada. Há mais de dez anos o argentino Eduardo Mosches edita no México a revista Blanco Móvil e também há mais de um decênio Luis Alberto Crespo dirige na Venezuela a revista Imagen. Quando se fala hoje no nome do venezuelano Juan Liscano fatalmente o vinculamos ao largo período em que esteve à frente da revista Zona Franca, uma das mais importantes de seu país. Mais recentemente não se pode deixar de mencionar os esforços de Juan Riquelme ou Gonzalo Márquez Cristo, que se encontram à frente da venezuelana Babel e da colombiana Común Presencia. São muitos países e a referência a todos seria obviamente infrutífera, quando menos cansativa. Tenho me referido antes ao diretor do que à revista em si. Isto se dá porque intencionalmente citei revistas que pertencem àquela segunda instância inicialmente tratada, ou seja, que não se encontram diretamente vinculadas a um movimento ou a uma escola literária. Não quer dizer que não tenham um conselho executivo, a compartilhar idéias. Mas sabemos que é forte e decisiva a presença do diretor, ao mesmo tempo em que ali estão definidas linhas editoriais desvinculadas desta ou aquela tendência estética. São revistas que buscam uma medula a partir da abrangência. E o fazem por uma razão muito simples: entendem que representam, cada uma para seu país e seu tempo, o importante papel de catalisador de tudo o que se passa à volta delas, em todo o mundo, em termos de valores literários. Nenhuma das revistas até aqui mencionadas pôs em confronto aspectos regionais, políticos, etnográficos ou quaisquer outras formas de eventual reducionismo cultural. Isto quer dizer que souberam reconhecer igual importância a uma expressão local e outra oriunda do exterior. Encontro em algumas revistas hispano-americanas uma relevância do texto e uma despreocupação com a insustentável contagem de páginas, linhas ou caracteres exigida em outras instâncias. Não raro encontramos edições inteiras dedicadas a um único autor, ou mesmo um largo espaço destinado ao diálogo sobre determinada circunstância literária. Exemplos temos na venezuelana Babel, que ocasionalmente surge com edição inteira destinada à revisão crítica de alguns dos principais movimentos ou grupos decisivos à história da literatura em seu país; assim como as revistas Auditorium, da República Dominicana, ou Lotería, do Panamá, costumam realizar homenagens, que tomam toda uma edição, a seus principais escritores. Surge aqui um outro aspecto a ser destacado. Estas duas últimas revistas pertencem ao Estado, a exemplo da mexicana Fronteras e tantas outras mais, ou seja, são iniciativas de uma instância governamental. Mesmo assim, alcançam isenção suficiente para avaliar a trajetória estética de determinado autor sem prejuízo de ordem alguma. O aspecto a destacar seria a propriedade do Estado entender que não pode interferir no substrato da cultura que orienta a tradição de uma zona por ele administrada apenas circunstancialmente. Em outras palavras: nenhum governo, qualquer que seja a apetência política do mesmo, deve interferir no desdobramento estético de uma cultura. Mas não nos esqueçamos daquela outra circunstância que norteia a criação de uma revista literária: o vínculo a movimentos, escolas, tendências. Em nome desta ligadura importantes revistas foram criadas na América Hispânica. Vou me referir a cinco delas em particular apenas para não tornar-me mais impertinente ou enjoativo que o devido. A cubana Orígenes, a mexicana Contemporáneos, a argentina Poesía Buenos Aires, a colombiana Mito e a chilena Mandrágora. Exceção feita a esta última, que trazia manifesta uma defesa do Surrealismo, as demais foram súmulas da efervescência cultural que lhes demarcava a existência. Todas estiveram vinculadas a um grupo. E surgiram como um ideal comum, ou seja, como a fonte possível de um diálogo, o que se pode fazer brotar a partir da convivência de idéias. Neste sentido, creio que são as mais importantes revistas surgidas na América Hispânica. É curioso que nenhum historiador se deteve a estudá-las conjuntamente. Mais grave ainda: a fortuna crítica de algumas delas foi arregimentada pelos próprios diretores, não despertando até hoje a merecida atenção por parte de estudiosos do assunto. A mexicana Contemporáneos foi fundada em 1929 graças a um frutífero diálogo entre poetas como Jaime Torres Bodet e Xavier Villaurrutia. Jaime havia viajado a Cuba, onde tomara conhecimento de uma outra publicação, a polêmica Revista de Avance (1927-1930). Entendiam então que o prestígio internacional alcançado por algumas publicações européias poderiam se repetir a partir do México, desde que a aventura possuísse uma definição estética e fosse bem apresentada. Surgia assim revista e grupo, definindo uma das mais consistentes gerações em toda a América Hispânica. No Chile, dez anos depois, quando já surgira o grupo Mandrágora, que tinha entre seus articuladores Braulio Arenas e Enrique Gómez-Correa, ao final de 1938 resolveram criar a revista homônima, dando seqüência a um projeto editorial proposto pelo grupo. Por sete números editaram então a revista Mandrágora. Em 1944, o cubano José Lezama Lima funda a revista Orígenes, juntamente com o crítico José Rodríguez Feo. A inquietude de Lezama já o levara a fundar três outras revistas: Verbum, em 1937, da qual saíram três números; Espuela de plata, em 1939, que alcançaria a marca de seis números editados; e Nadie parecía, com Angel Gaztelu, em 1942, que chegaria ao décimo número. Segundo o próprio Lezama, a raiz dessas publicações foi a amizade, o diálogo freqüente e o respeito mútuo pelas opiniões peculiares. O nome da revista acabou confundindose com o de toda uma geração de escritores e artistas plásticos. Orígenes alcançou a marca de 40 números, durando até 1955. O grupo de intelectuais arregimentado por Raúl Gustavo Aguirre na Buenos Aires de 1950 insurgia-se contra toda forma de ortodoxia, ao mesmo tempo em que refutava ingerências acadêmicas no mundo da criação literária. Assim surgia Poesía-Buenos Aires, que por dez anos se manteve em franca atividade. A revista possuía textos programáticos, o que lhe dava um caráter de movimento. Em seu decorrer, ali próximo, em Bogotá, Jorge Gaitán Durán e Hernando Valencia Goelkel propunham um arrojado plano de desdobramento cultural. Pode-se dizer que a formação do grupo Mito, que logo sustentaria a publicação de uma revista homônima que atingiria a circulação de 25 números, foi o acontecimento mais marcante em toda a cultura colombiana, tanto pela dimensão estética quanto pela interferência no plano político. Esta é a geração de Alvaro Mutis e Gabriel García Márquez, os dois mais conhecidos dos brasileiros. Estas revistas tinham uma raiz comum: o entendimento de que cabe ao poeta zelar pela firmeza da cultura. A partir desta frase tão simples surge uma curiosidade: qual o limite de uma cultura? Até onde a minha orelha supura por má influência da cultura alheia ou me embriago glorioso sobre os restos de uma cultura dizimada por mim? Parece que não entendemos mais a ação da rosa dos ventos sobre o território da cultura. A defesa de uma expressão artística não pode estar vinculada a uma ramificação estética, mas o contrário jamais será dispensável. Não importa o quanto Velázquez era barroco, mas sim o quanto que o barroco espanhol foi expresso a partir da obra de Velázquez. Este deslocamento indevido tem sido a raiz de grande parte do prejuízo que hoje resulta de um inventário da produção artística em nosso tempo. De volta às revistas, hoje raridades só encontradas em coleções especializadas, como vimos, à frente delas estiveram alguns dos mais destacados poetas hispano-americanos deste século: José Lezama Lima, Xavier Villaurrutia, Raúl Gustavo Aguirre, Jorge Gaitán Durán e Enrique Gómez-Correa. Mas não as tenhamos aqui como casos isolados. No áureo período das vanguardas surgiu um verdadeiro enxame de revistas, algumas das quais com amplo destaque, a exemplo da peruana Las Moradas, dirigida por César Moro e Emilio Adolfo Westphalen, ou a argentina Ciclo, que trazia Enrique Molina e Aldo Pellegrini à frente. O que nos cabe aqui, além do informe geral, é compreender que as revistas literárias não se apartam de um leque de plumas sagradas da atividade humana na terra. O que isto quer dizer? Que não fazemos revistas e fazemos cadeiras e fazemos amor, como aspectos isolados de uma mesma natureza humana. Somente a estultice crê em uma gaveta desorganizada combinando com paz de espírito. O que isto quer dizer? Que revistas literárias não são anfetaminas ou jogos de guerra. Como somos dados à fraude, sempre levamos o meio para cama e o tratamos como fim. O que isto quer dizer? Que o empecilho real na edição de uma revista não é seu aspecto financeiro, mas antes o caráter da iniciativa. Mesmo diante da dificuldade financeira, o que se tem que discutir é como validar meios. Embora seja imenso o abismo procriado pelo equívoco entre os valores da fé e a fé em valores, a verdade é que o homem não é nada senão aquilo em que acredita. As revistas literárias nada são a não ser uma das formas de crença do homem nos valores humanos. Floriano Martins Matéria gentilmente cedida pelo jornal O Escritor, da UBE - União Brasileiras de Escritores. . . revistas em destaque . .. revistas hispanoamericanas, II: um encontro de duas linguagens Já por três números seguidos tenho comentado aqui em O Escritor a respeito de importantes revistas literárias e de cultura existentes na América Hispânica. Reitero que o trabalho que seguem realizando os diretores dessas publicações assume um peso extraordinário - e talvez único quando o assunto em pauta é o relacionamento das inúmeras culturas que constituem o continente americano. Mais curioso ainda é observar que, em grande parte, esses editores são poetas, ou seja, uma vez mais a poesia situada como uma ponte erguida acima de todas as eventuais dispersões, impedindo o homem de realizar-se em sua plenitude. Já havia comentado aqui nestas páginas sobre a revista mexicana Alforja, mas agora devo mencioná-la uma vez mais, apenas para registrar que a edição # 19 desta notável publicação dedicou a totalidade de suas 170 páginas à poesia brasileira, ali incluindo mais de 40 poetas de distintas gerações e tendências. Também uma outra revista já destacada nesta série de artigos, Archipiélago, prepara-se agora para a circulação de uma edição especial dedicada à cultura brasileira. Em função do lançamento de Alforja, em maio passado, estive no México, e ali pude conversar com os editores de ambas publicações, o que naturalmente reforçou nossa cumplicidade no sentido de se buscar uma interação entre nossas culturas. Nessa ocasião, pude ainda encontrar-me com Eduardo Mosches, editor de uma terceira revista, Blanco Móvil que, por duas vezes (anos 80 e 90) dedicou números especiais à poesia e à prosa no Brasil. Com todos eles conversei e pude sentir o carinho imenso que têm por nossa cultura, um profundo e, por vezes, excessivo respeito. E justifica-se o excessivo justamente pelo que nos falta de perceber a própria importância do que fazemos, sem falar no fato de que o empenho dos mexicanos, por exemplo, em buscar um diálogo com a cultura brasileira não é compensado por nós em momento algum. A partir da conversa que tive com Eduardo Mosches, de Blanco Móvil, surgiu-me a idéia de sistematizar uma enquete para as páginas de O Escritor, algo que nos permitisse uma leitura mais dinâmica desse jogo mútuo de conquistas e obstáculos que temos que enfrentar os editores de revistas. Parti de quatro indagações básicas, a respeito da origem, concepção editorial, relações com publicações similares e com a imprensa de uma maneira geral. Uma outra perspectiva a ser acrescentada aqui é o surgimento de revistas virtuais ou de publicações que circulam, utilizando os dois meios, impresso e virtual. O Brasil tem uma dificuldade, bastante coerente com nossa política de alheamento, de perceber a importância crucial de fazer circular bens de cultura pela Web. Esta é uma etapa da contemporaneidade em que apenas a marginalidade cultural lhe há compreendido os mecanismos de ação. Nem mesmo as agências de publicidade ou os godmakers que comandam as campanhas eleitorais perceberam ainda a importância do veículo. Observemos, por exemplo, em uma Argentina que vive hoje uma situação bastante reveladora dessa ausência de diálogo entre culturas latino-americanas, como funciona o grupo Paginadigital, de circulação apenas virtual, mas com uma penetração extraordinária dentro e fora do país. Ao conversar com seu diretor, Pablo Castro, me disse que "o crescimento de Paginadigital superou nossas expectativas e tem se diversificado bem além do que havíamos planejado no princípio, estando atualmente com um volume de 3.500 visitas diárias e um total superior a um milhão de visitas desde a data de criação do site, ao final de 1999". Paginadigital é um veículo de circulação de textos que lhes são remetidos por outras publicações. Me disse ainda Pablo que o site foi criado "basicamente como um meio solidário para unir idéias e forças para resistir à desumanização do sistema capitalista e liberal atual". Esta compreensão de uma atuação política, sem descaracterizar o conteúdo estético veiculado, lhe dá uma solidez extraordinária. Paginadigital tem sido um valioso veículo de informação acerca das atividades culturais dentro e fora da Argentina. Penso nisto quando, na conversa com Eduardo Mosches, da mexicana Blanco Móvil, ele me diz que "as relações com as revistas do continente, lamentavelmente, são poucas, e espero que através de vocês possamos abrir nossa comunicação e participação em outras revistas". Ora, esse isolamento deve ser rompido em suas duas margens. É curioso que Mosches me diga isto, porque justamente a Blanco Móvil tem sido revista a dedicar seguidamente edições especiais à literatura de vários países, incluindo os latino-americanos. Conheçamos um pouco mais de Blanco Móvil. Nos diz Mosches: "A revista nasce em 1985, como publicação de uma livraria foro, que é a Gandhi. Logo no princípio é de um tamanho pequeno, como um folheto teatral, de 24 páginas, com uma seção central dedicada a um escritor. A relação com a livraria durou até 1988, momento em que nos separamos dessa empresa e nos tornamos independentes. Já havíamos modificado o formato, já se encontrava no tamanho carta. A partir da independência realizamos uma mudança de capa e ampliação do volume, chegando a 56 páginas. A capa passava a ser a cores. Foi difícil esse processo de independência, mas pouco a pouco obtivemos certa estabilidade econômica, que tornou possível, nos melhores momentos, uma circulação de quatro números por ano." Em seguida lhe indaguei a respeito de um balanço possível entre o buscado e o alcançado, ao que me respondeu: "A concepção editorial era a de apresentar o afazer literário de setores menos conhecidos, seja em âmbito nacional ou internacional. Com isto se quer dizer que a intenção era a de apresentar escritores de qualquer parte, que não necessariamente formem parte do aparato e presença editorial internacional. Não há excessivo interesse em mostrar os que já são conhecidos, mas sim aqueles que vão concretizando suas apostas literárias em cada país, inclusive o México. Por outro lado, buscamos temas que não são tão recorrentes. A partir daí podemos dar exemplo nos números dedicados a Utopia e Literatura, Poetas e Narradores Catalãos, Literatura Danesa, Boliviana, Filosofia e Literatura, Literatura Indígena no México e na América Latina. Angola, Israel, enfim, nos aproximamos de múltiplos segmentos e aspectos da literatura, sem nos tornarmos seguidores dos boom literários. Além do que há um marcado interesse em apresentar a produção poéticas das gerações mais jovens." E logo falamos sobre as recepções na imprensa do trabalho magnífico que vem realizado: "Ao longo dos 17 anos de existência de Blanco Móvil, tivemos, no geral, uma boa acolhida da imprensa e diversos meios de comunicação. A primeira etapa era de enviar a revista aos jornalistas relacionados com o meio literário e cultural, mas percebemos que isto não era suficiente. Portanto, se decidiu realizar uma ou duas apresentações públicas com a aparição de cada novo número. Esses lançamentos eram realizados com um caráter interdisciplinário, uma vez que deles participavam, além de alguns autores incluídos na edição, um par de atores que lêem os textos literários, poemas e contos, e a noite se completa com a apresentação de algum músico. Isto há gerado um apoio maior por parte da imprensa, rádio e televisão, através de crônicas, entrevistas ou simplesmente notas de informação." Como disse anteriormente, esse primeiro diálogo com Eduardo Mosches me levou a sistematizar uma conversa mais detida com editores de várias revistas. Algumas delas são frutos de um convívio pessoal, cujo componente mais importante é a realização de projetos comuns. Exemplo disto foi a maneira com que me recebeu na Costa Rica o editor de Fronteras, Adriano Corrales. Ali podemos planejar umas tantas ações que começamos a concretizar em termos de aproximação de nossas culturas. Porém ladeio aqui seu depoimento do que me enviou por meio eletrônico o chileno Omar Lara, editor da revista Trilce. Julgo importante destacar o trabalho de ambas, a costarriquenha inteiramente patrocinada por uma universidade, enquanto que a chilena sem apoio institucional de espécie alguma. Não as situo aqui como ações contrapostas, mas antes como uma referência a distintas maneiras de se produzir algo consistente. Vejamos o que nos diz primeiramente Adriano Corrales: "A revista Fronteras nasceu como um projeto de extensão cultural de um departamento do Instituto Tecnológico da Costa Rica (ITCR), no ano de 1994. Seu primeiro objetivo foi converter-se em um espaço editorial para dar a conhecer as distintas investigações que vinham realizando nossos professores no que respeita ao âmbito das culturas populares. Até o presente foram publicados 9 números semestrais. Porém, na medida em que se foi desenvolvendo o projeto (a partir do terceiro número), fomos nos inteirando da existência de um vazio em relação a revistas culturais que mantivessem um perfil intermediário entre a revista especializada e a revista popular, formato que perseguíamos desde o princípio. Assim é que, além da ênfase antropológica, histórica e sociológica, fomos abrindo espaço para outros aspectos, tais como a literatura e a arte em geral. Por outro lado, começamos a receber colaborações de distintos países latino-americanos onde, imprevisivelmente, a revista foi chegando graças à ação de amigos e colaboradores." Indaguei a Adriano como a revista sobrevive: "Fronteras hoje se financia basicamente com a verba do ITCR e com a venda de exemplares, mas estamos abrindo a venda de publicidade como uma colaboração e apoio a este projeto editorial. Ela é distribuída em várias livrarias de San José, Heredia, Ciudad Quesada e Cartago. Mas também pode ser encontrada em Bibliotecas, Centros Culturais e Salas de Teatro. E as assinaturas estão franqueadas segundo anúncio no próprio expediente da revista." E agora nos fala o chileno Omar Lara, editor de Trilce: " A revista nasceu paralelamente ao grupo de poesia Trilce, em março de 1964, em Valdivia (Chile). Até 1973, quando praticamente toda a nossa geração desapareceu do mapa literário chileno, a revista publicou 16 números, com uma regularidade muito irregular. Ocorre que a revista era um de nossos afãs, não o único. Nos anos 1965 e 1967 organizamos os primeiros encontros da Jovem Poesia Chilena, em Valdivia. Também foram publicados alguns livros individuais de membros do grupo e nos sentíamos bem envolvidos com os movimentos sócio-políticos daquele momento." E como seguiu a revista, que novos rumos tomou? "Depois, no exílio em Madrid, publicamos três números, entre 1981 e 1983. De volta ao Chile, já em Concepción, reiniciamos a publicação dentro do que chamamos de uma Terceira Época. E nisto seguimos empenhados até hoje. Uma vez que não temos auspício institucional nossa freqüência é imprevisível. Quis torná-la quadrimestral, mas a realidade nos impõe uma circulação semestral. Mesmo ciente de que defenderei até onde possa essa periodicidade, não tenho nenhuma garantia quanto a isto. Trilce tem sido apresentada diretamente em países como Peru, Equador, Espanha, Alemanha, Argentina, e através de amigos em vários outros: Estados Unidos, México, Uruguai, Portugal. A rigor, a revista é uma revista de amigos, o que não está mal, certamente. Temos muitos leais entusiastas, generosos amigos. Sempre pensei em Trilce como uma publicação propiciadora de diálogos. Tenho consciência de que em vários momentos fomos uma janela através das qual muitos poetas e leitores em geral puderam conferir as ocorrências poéticas de outros lugares, através de entrevistas, poemas, traduções, correspondência etc." As duas possibilidades de condução de um processo editorial permitem aclarar que em nada se justifica a inércia encontrada no Brasil. Dentro ou fora do que nos habituamos a chamar de "sistema", apenas reagimos e mesmo assim com um ar paranóico (presunçoso) que pouco ou nada constrói. A seguir incluímos a montagem em dez blocos de um auto-retrato da revista Lote, argentina, desenhado por seu editor, Fernando Peirone: "1 - Tipo de material que publica. - Em traços gerais se poderia dizer que é uma revista de crítica cultural e política. 2 O rol das revistas culturais na Argentina. - O papel das revistas culturais, que na Argentina têm uma grande tradição, é o de dar circulação a um saber e um agir que não se movem no mundo oficial, o papel de introduzir debates e traduções que habitualmente não são manuseados nos círculos comerciais, o de proporcionar ferramentas alternativas para a abordagem do público (e do privado), o de dar a conhecer as expressões artísticas e culturais novas, diferentes. 3 A qual público se dirige? - Dirige-se a um público heterogêneo. A invenção dos convênios revistas para repartir entre sócios, clientes etc. - como forma de distribuição, nos possibilitou que a revista não dependa das vendas e que em menos de dez dias esteja completamente distribuída, em mãos de jovens, velhos, empresários, professores, intelectuais etc., obrigando àqueles que participam conosco a rever sua linguagem e suas maneiras de dizer; o mesmo ocorre com os leitores que, ao recebêla, se dão conta que é uma revista que - no pólo oposto do videoclip demanda tempo daquele que se disponha a lê-la. Este sistema de distribuição ingressa na revista em uma paisagem que de outra maneira - se dependesse exclusivamente da venda - não chegaria. 4 Como se relacionam com a realidade? - Não nos relacionamos com a atual nos tempos de imediatismo que exiege um diário, mas sim com a distância e a implicação necessária para discorrer criticamente sobre a época que nos tocou viver. 5 Lote é lida por gente jovem? - Sim. A revista tem um suplemento jovem de educação cooperativa que chega gratuitamente (subvencionado por distintas cooperativas do sul de Santa Fe) aos terceiros e quartos anos das escolas secundárias, provocando debates e sendo utilizado como material complementar de estudo. 6 Busca consagrados ou busca descobrir vozes novas? - Em Lote participam consagrados em meio a um coro de vozes anônimas - como a daqueles que fazemos a revista - e politonais que lhe dão um perfil diferente, do interior, não dando ouvidos aos mandatos portenhos de correção cultural. 7 E esses jovens buscam algo distinto do que procuram os de gerações passadas? - Sim, há um conceito diferente do que é cultura. Não lhes interessa tanto a praxis social do pensamento quanto a possibilidade de aplicá-lo a uma qualidade de vida mais digna. Embora menos comprometida politicamente - no sentido tradicional do termo -, a juventude edifica seus entornos com modelos políticos explícitos, tolerantes, abertos, à medida de um mundo que sonham e não conseguem trasladar além de seus grupos de origem. Este é um pouco o padecimento que lhes obriga a pos-modernidade. 8 Lote promove polêmicas, debate, intercâmbio de idéias? - Permanentemente. Em cada número se questiona o status quo e são liberadas salvas de pensamento crítico. 9 Em um passado não muito para trás, os escritores reconhecidos colaboravam neste tipo de publicações. Com reagem hoje? - São reticentes, estão em seu lugar e pouco lhes dá que as revistas culturais dediquem-se à difusão de seus trabalhos. Menos ainda lhes importam ler manuscritos de novos escritores. Existe, no entanto, uma tradição que se conserva viva e ativa, participando em cada um desses empreendimentos. Grande parte dos colaboradores de Lote pertencem a essa casta de descastados. 10 Há uma disputa entre as versões impressa e virtual? - Até o momento não. Nossa revista tem uma página web desde o número inaugural, onde são publicadas as matérias mais importantes de cada número e, se temos uma acentuada visita diária ela quase sempre corresponde a leitores estrangeiros - porque lhes resulta mais fácil e menos custoso visitar a revista na tela do que assinar a versão impressa. Mas são, até o momento, públicos diferentes." Esta conversa com Fernando Peirone, editor de Lote, é bastante revelador de uma série de aspectos que seguiremos tocando nos próximos artigos. O que estamos propondo aqui, nas páginas de O Escritor, não tem caráter conclusivo, mas antes arregimentador de um diálogo essencial entre editores de revistas em âmbito continental. Fujamos das relações de bairro ou quadrilhas, e busquemos a representação mais substanciosa de uma cultura. A realidade constituída de uma nação não se encontra definida por seus políticos ou economistas, mas antes por aquela fatia empenhada, sob diversos enfoques, na formação e identificação de um caráter cultural. Floriano Martins Lote. Diretor: Fernando Peirone ([email protected]). Pellegrini 560 - Benado Tuerto - Santa Fe (2600) Argentina Trilce. Diretor: Omar Lara ([email protected]). Casilla 2501 Concepción, Chile Blanco Móvil. Diretor: Eduardo Mosches ([email protected]). Apartado Postal 21-063 México DF (04000) México Página Digital. Diretor: Pablo Castro ([email protected]). http://www.paginadigital.org (Buenos Aires, Argentina) Fronteras. Diretor: Adriano Corrales ([email protected]). Apartado Postal 223-4400 - Ciudad Quesada - Costa Rica Matéria gentilmente cedida pelo jornal O Escritor, da UBE - União Brasileiras de Escritores. . . revistas em destaque . .. triplov (portugal) diálogo entre editores: maria estela guedes & floriano martins A revista TriploV é hoje, ao lado de duas outras, Ciberkioski e Storm Magazine, os veículos virtuais mais substanciosos na imprensa cultural portuguesa. É projeto da Agulha firmar cumplicidade com revistas em vários países, diálogo que já se estabelece de outras maneiras, a exemplo da seção «Resto do Mundo», que assino para o jornal O Escritor, da União Brasileira de Escritores. Neste encontro de dois editores, com a portuguesa Maria Estela Guedes, damos a conhecer os meandros de nossa aventura editorial, permitindo ao leitor conhecer um pouco mais de ambas publicações. [F.M.] - Como nasceu o TriploV, perguntas tu? Tinha obrigatoriamente de sair do ovo, dada a crise da edição em papel: em Portugal há só meia dúzia de escritores que vivem da escrita. Eu nem pretendia viver da escrita, queria apenas ter um editor que não cobrasse pela edição… De outra parte, o livro e as revistas em papel têm tiragem limitadíssima. O TriploV, num ano, criou-nos um público ávido, e isso é reconfortante, é bom saber que a leitura não morreu, as pessoas querem mesmo ler, enriquecer-se, partilhar conhecimentos, trocar colaborações, e isso um pouco em toda a parte do mundo, mas em especial no Brasil. Esse foi o meu desafio aos outros responsáveis pelo site, José Augusto Mourão, Maria Alzira Brum Lemos e Magno Urbano: «Vamos reconquistar o Brasil!» E acho que estamos a conseguir… É claro que tive de aprender a lidar com o PC de outro modo, mas ESTELA felizmente o Magno Urbano, nosso operador de sistema, tem tido a paciência de me ensinar. E tirei uns cursos on-line. Mas ainda falta muito para estar apta. Sabes tu, Floriano, aqui só eu é que mexo no site, tenho de fazer tudo, desde compôr o texto até pô-lo no ar. Como é com a Agulha? Tens alguns conhecimentos avançados de informática e criação de webpage ou a revista é entregue a profissionais? - A Agulha é dirigida por mim e o Claudio Willer, isto em termos de definição de pauta. Mesmo residindo a 3 mil quilômetros de distância um do outro (São Paulo e Fortaleza), nos falamos diariamente e assim afinamos este e outros projetos nossos. Em termos de designer, a revista é toda feita por mim, da idealização ao acabamento. Ao final, no momento de atualização de sistema junto ao provedor, contamos com a terceira fatia de nossa cumplicidade, o Soares Feitosa, que dirige o Jornal de Poesia, onde a Agulha está ancorada. Os três somos escritores e tivemos que aprender todos os meandros dessa complexa atividade de editor, o que inclui ainda a parte de contatos e difusão. Evidente que a circulação virtual tem maior abrangência que a impressa, mesmo considerando o reduzido percentual de utilização de Internet em um país como o Brasil. Contudo, é ainda impossível se pensar em um veículo como a Agulha em termos empresariais, alcançando condições básicas como o pagamento de matérias. Somos todos, incluindo nossos colaboradores, uns abnegados dispostos ao trabalho intelectual sem remuneração, o que seria impossível em uma publicação impressa. Mas veja: quando começamos a fazer a Agulha, sentimos uma necessidade de estabelecer uma rede bem ampla de contatos, daí que criamos a «Galeria de Revistas», onde reproduzimos capa e link de revistas em várias partes do mundo. Neste sentido, como se relaciona o TriploV em Portugal? E não quero aqui restringir-me apenas a veículos virtuais. FLORIANO - Olha, Floriano, eu não tenho tempo para tudo. A difusão inicial do TriploV foi feita pelo Magno Urbano aos motores de busca, eu mando de vez em quando a newsletter do site, «Ser Espacial», a umas mil pessoas, e nada mais. O feedback em Portugal tem sido bom, saiu um artigo de João Barrento no "Público" muito favorável ao site, o «Jornal de Lamego» descobriu-me no ciberespaço, quando em tantos anos de tarimba os meus conterrâneos não me tinham descoberto em centenas de números de jornal, nem na rádio, nem na televisão. Algumas revistas virtuais e sites têm referido o TriploV, como a «Storm-Magazine», e também retribuo links, mas o principal retorno do investimento é o programa de estatística: num ano, temos vindo a subir da dezena para os milhares de visualizações de página por dia, etc.. Eu não estou interessada em ampliar muito os contactos internos; a audiência, sim. Muitos colaboradores significam muitas páginas para pôr no ar e já agora começo a não ter capacidade de resposta. A ideia é manter poucos contactos, mas escolhidos e diversificados no planisfério, e investir no ensaísmo de todo o género. A poesia, devo dizer-te, é o sector menos lido do TriploV, e no capítulo da ciberarte, que era a minha grande motivação, o desastre é total: não aparecem ESTELA colaboradores, as minhas próprias experiências ainda mal começaram porque há outras prioridades, e antes de começar eu devia ter aprendido o que ainda não sei: a trabalhar com o Photoshop e o Image Ready. Não sei o que se passa convosco, mas por aqui sinto imensa dificuldade em fazer com que os cibernautas leiam poesia, e não posso sequer chamá-los através das metatags porque não há nada específico para pôr nos campos description e keywords - a poesia não tem pontos de referência, forçar com palavras-chave do tipo «cerejas», «beijos» ou «mar» é enganar quem procura saber como cultivar cerejeiras, onde encontrar um site pornográfico ou a tabela das marés; de qualquer modo, os termos são tão extensos que o poema não apareceria nos primeiros lugares dos motores de busca, a quem pesquisa. A poesia não tem referentes, pelo menos a mais despojada, a não historicista. O dossier «Herberto Helder» é muito lido porque as pessoas já conhecem o poeta e nas caixas de pesquisa dos motores de busca escrevem «Herberto Helder». Uma estreia absoluta como a Tília Ramos não tem pesquisa possível, só será descoberta por quem entrar pela página principal, e esse público é minoritário. - Certa vez uma revista virtual no Rio de Janeiro nos procurou empenhada em fazer uma matéria sobre a Agulha. Este rigorosamente é um caso único. Temos estabelecido com outras publicações virtuais, em vários países, uma permuta de links. Além disso há uma barreira entre veículos impressos e virtuais, ao menos no Brasil. Ainda não perceberam o que há de complementaridade entre eles. Um ponto de cegueira só lhes permite entender uma inexistente condição de concorrência. Hoje a Agulha conta com um mailing de mais de 60 mil endereços, é nossa mala ativa e raramente recebemos pedido de exclusão. Nós circulamos na extensão de dois idiomas: português e espanhol, com um buscado equilíbrio entre ambos, contando ainda com um expressivo reforço de outro site que coordeno, a Banda Hispânica, este último um banco de dados sobre a poesia de língua espanhola. Isto dá à revista uma expressiva visibilidade, inclusive envolvendo uma ativa cumplicidade de correspondentes em dezenas de países. Nossa opção pelo ensaísmo em grande parte definiuse pela ausência de uma reflexão mais substanciosa sobre temas ligados à arte e à cultura no Brasil. De uma maneira geral, a poesia que se publica entre nós, nos veículos de imprensa, é um verdadeiro festim de epígonos, textos com artifícios poéticos desgastados que se repetem à exaustão. Mas independente disto, em muito me atrai essa característica de arte de exceção - ou ausência de referentes, como dizes - da poesia. Há uma lista inesgotável de grandes poetas que enfrentaram - e enfrentarão sempre - esse obstáculo de veiculação de suas obras. É natural que os estreantes comam a fatia maior desse pão amassado pelo Diabo, o que não quer dizer que não devamos, editores, estar atentos ao trabalho deles. Um outro aspecto que começa a proliferar, Estela, é o surgimento de editoras virtuais. Nós mesmos na Agulha, durante alguns meses, experimentamos a publicação de uma série de e-books, projeto com grande receptividade junto aos leitores mas que lamentavelmente foi abortado ao perdermos nosso parceiro FLORIANO em tal empresa. - Vou contar em segredo, s.f.f. não divulgues por aí: o site nasceu poeticamente falido, e eu preciso de dinheiro, a informática devora o meu ordenado. Sou eu que estou a suportar todas as despesas e são muitas. Ainda não me dispus a pedir subsídio, e agora o Governo português também está teso… Não pago direitos de autor, mas também não exijo dinheiro para editar… Já fiz uma experiência de carrinho de compras, falhou porque era preciso eu montar uma empresa de e-commerce, passar facturas… Ora eu não tenho tempo nem para escrever os meus versos, quanto mais para redigir nessa língua bárbara dos algarismos! Contar, só histórias. Uma das ideias era a dos e-books e cheguei a verter para pdf o livro Francisco Newton, que soma já muitas leituras. Outra ideia, aliás sugerida pelo Magno Urbano, é a de vender todo o site em CD. Esta ideia é fabulosa porque eu actualizo-o quase todos os dias e então podíamos vender uns 200 TriploVs diferentes por ano… Estou na disposição de alinhar numa qualquer hipótese rentável, se só tiver de dar material, meu e dos colaboradores do site… E como só dou isso, não peço metade dos lucros, apenas uma percentagem compatível… Há uns quatro ou cinco livros no TriploV, alguns inéditos, outros esgotados, e de qualquer modo tudo o que é impresso em livro é inédito à escala do planeta. Eu deixei de me ralar com ineditismos, publico o que acho instrutivo, bom e conveniente. Também deixei de me ralar com esse fantasma do roubo, os escritores não publicam na Internet porque há muitos ladrões!… Venham os ladrões, aprecio quem me rouba, é porque leu e adorou! E fora com esses vírus Nimda dos que só vêem montras e é quando saem a passear ao domingo! ESTELA - Na verdade enfrentamos os mesmos obstáculos, excetuando o fato de que a Agulha, se não gera lucro, também não gera despesa, isto do ponto de vista financeiro. Claro que há um investimento imenso de tempo. Tanto eu quanto o Willer temos outra atividade, ainda que ambientada em uma mesma perspectiva editorial. Agora, o ineditismo assume uma proporção algo falaciosa, cabendo aí observar apenas o aspecto ético da reprodução de textos já publicados, ou seja, solicitação de autorização, referência de fontes, etc.. Ensaios reproduzidos de livros ou mesmo de outras revistas habitualmente conquistam novos leitores, pois ampliamos o raio de circulação dos mesmos. O roubo é inevitável e inestimável, além do que está colado à pele do conceito de propriedade privada. Não cabe generalizar, mas antes verificar de quais inúmeras maneiras ele vem sendo praticado algumas delas bastante aceitas por nossas sociedades. Agora, como tens conduzido o TriploV em termos de orientação de pauta? Editorialmente, há algum tema ou abordagem que desperte mais interesse teu? Penso na coincidência existente entre tua revista e a «VVV» editada nos anos 40 por Breton, Duchamp e Ernst, nos Estados Unidos, ou seja, haveria aí alguma coincidência também com os ideais surrealistas? FLORIANO - Eu republico muito, com autorização, e textos de séculos transactos, porque preciso. As pessoas tratam o TriploV como revista, mas não é. Estou a fazer um depósito, e há bases de dados no site, para os meus trabalhos em História do naturalismo. Isso recorda-me que estudo a língua das gralhas, língua das aves ou língua de ponta nos textos científicos. A Agulha não é de costura… Na ponta da língua tem pimenta, pelo menos… O meu vínculo mais forte é com o modernismo português e descendentes, e mais indirectamente com o surrealismo, aliás agrada-me que estabeleçam essa relação, é legítima. Uma das pessoas mais importantes para mim, porque me rasgou horizontes e deitou por terra preconceitos, o Ernesto de Sousa, cineasta que fez o filme português dar o salto do cinema de pátio para o novo cinema, mas foi também artista de multimédia, homem que despoletou o florescimento da vanguarda em Portugal, etc., criou, comigo e com o Fernando Camecelha, um grupo, o VVV, de cuja actividade artística resultaram festas e as caixas Pipxou - há imagens e informação no directório dele. Dediquei-lhe o site, e quando tive de escolher um nome, lembrei-me do VVV, pensando: vou continuar a nossa obra, apesar de o Ernesto já ter morrido. «VVV» também quer dizer Ego sum Via et Veritas et Vita, segundo a interpretação esotérica de outro cineasta, António de Macedo. Nós pronunciamos triplov, à russa, e o meu contributo para o alargamento do campo semântico do nome foi o ovo alquímico, o «triplovo», como o Magno Urbano designa o logotipo que criou. O elo de ligação entre todos os movimentos da modernidade é a agulha, que também se exprime no Morra o Dantas, morra! Pim!, de Almada Negreiros. Sempre estive nessa onda de guerra ao convencional. Quanto a definição de pauta, ou programação, recordo que Breton fala do acaso feliz. Pois bem, a única pauta do TriploV é esse acaso luminoso, como este de estarmos agora aqui sem o termos premeditado. Nunca me envolveria em nenhum projecto editorial que implicasse programação e periodicidade rígida, porque isso é inviável no perímetro da minha acção. Parte dos nossos conteúdos, o segundo mais aliciante de todos, é constituído pelas comunicações ao Colóquio Internacional Discursos e Práticas Alquímicas. Os participantes não entregam os trabalhos. Por isso criar uma revista dentro do TriploV, como era desejo do José Augusto Mourão, por exemplo, está fora dos meus propósitos. Prefiro que o site seja tratado equivocadamente como revista, porque a classificação pode vir a ser útil para fins de patrocínio. Além disso, deixar o triplovo a chocar durante um mês ou mais, para só em data certa ver os pintos a bater as asas, não se acomoda ao meu sistema nervoso. Quando aparece um novo pinto, lanço-o imediatamente no céu. ESTELA - E está perfeito que seja assim, mais abrangente o tríplice V do que no caso de Breton, onde aliava o V da Vitória ao Voto no sentido de energia vital ou Volta «a um mundo habitável e imaginável». E cabe bem a lembrança ao Almada e seu manifesto, ele que soube ver bem o valor intrínseco da antecipação a tudo. Admirável Almada que vivia a lembrar o essencial que é a poesia fazer «nascer asas em Nós». Pode-se dizer de Agulha que seja uma revista, tem estrutura e FLORIANO perspectiva estética que atende ao objeto. Ao contrário, o que faço na Banda Hispânica deve ser visto como um banco de dados, uma fonte virtual de consultas acerca da poesia de língua espanhola. Tua referência à pimenta («pelo menos»), eu a entendo como uma aguda visão crítica que se alimenta dessa entrega ao outro, de buscar a integridade das coisas. De buscar a verdade em vida e em toda a vida. É exatamente o que estamos fazendo aqui, neste nosso breve diálogo inicial, quando aproximamos nossos projetos editoriais, Agulha e TriploV. Lisboa, Fortaleza. Outubro de 2002. Maria Estela Guedes (Lamego, 1947). Tem colaborado em quase todos os mais importantes jornais portugueses, na rádio e na televisão. Em 1987 foi levado à cena um espectáculo multimédia da sua autoria, O lagarto âmbar, na Fundação Calouste Gulbenkian. Entre os seus livros, encontram-se: Herberto Helder, poeta Obscuro (1979), Crime no Museu de Philosophia Natural (1984) e À Sombra de Orpheu (1990). Dirige a revista TriploV (www.triplov.com). Contato: [email protected]. . . revistas em destaque . .. rascunho (brasil) diálogo entre editores: rogério pereira & claudio willer Jornalismo literário pode ser apaixonante? Não, responderão os leitores de suplementos de nossos grandes jornais, frios, burocráticos, universitários em excesso. Sim, responderão os leitores de Rascunho, publicado em Curitiba, Paraná, a julgar pela seção de cartas desses leitores, estuante, prolífica, com adesões entusiásticas e protestos indignados referentes aos ensaios e resenhas nele publicadas. Rascunho já ultrapassa trinta edições em três anos de existência. Lembra bastante o que se publicava há vinte anos no Brasil, no tempo da imprensa alternativa e da assimilação da sua contribuição pela grande imprensa. Isto, lembrar o que outrora já foi feito, é uma qualidade, e não um defeito desse periódico; é um dos motivos para muita gente o considerar o melhor jornal literário brasileiro, neste momento. E, conforme pode ser entrevisto na conversa com ele, preparada para esta Agulha, o que seu editor, Rogério Pereira, tem de combativo, idiossincrático, voluntarista, está diretamente relacionado a esse bom resultado. [C. W.] - Você não veio do nada, ou de algum vazio interplanterário. Já fazia jornalismo antes, não é? Conte algo sobre suas origens e procedência. Apresente-se. CLAUDIO WILLER - Tenho 29 anos (beirando os 30), os pés rumam para o altar, com a bela Cristiane. Cheguei em Curitiba, aos 6 anos, vindo do sudoeste de Santa Catarina (meus pais eram pequenos ROGÉRIO PEREIRA agricultores). Dedico-me ao jornalismo há muito tempo. Aos 13 anos, já era office-boy da Gazeta Mercantil, em Curitiba. Antes disso, fui vendedor de flores em frente a um cemitério (muito poético, por sinal), fabriquei móveis e matei muito passarinho nos matagais de Curitiba. Trabalhei durante oito anos na Gazeta Mercantil. Cursei Filosofia e Jornalismo. Comecei a trabalhar como repórter em 1996. A partir daí, embrenhei-me por várias redações. Fiz campanhas políticas (Lerner, Taniguchi e, recentemente, Beto Richa). Ganhei algum dinheiro, fiz as malas em 1999 e fui fazer pós-graduação em jornalismo político em Madrid. Voltei a Curitiba. Dirigi um jornal popular (o Primeira Hora). E cá estou agora a matar sabiás. - E como é que surgiu essa idéia de fazer Rascunho? Você já tinha essa intenção, de fazer um suplemento literário, faz tempo, ou foi algo que aconteceu assim, de repente, num estalo, em um ímpeto de inspiração, em uma mesa de bar? CLAUDIO WILLER - Quando voltei da Espanha, no começo de 2000, fui trabalhar como assessor de imprensa na Prefeitura de Curitiba, um mausoléu repleto de teias de aranha. Lá, ficava a tecer matérias sobre ruas asfaltadas, praças inauguradas etc. Então, resolvi escrever uma coluna de resenhas/críticas literárias no Jornal do Estado, em Curitiba, todas as segundas-feiras. Ah! Esqueci de dizer que além dos sabiás, sempre me dediquei à leitura e à escrita (na escola, vendia resenhas dos livros e redações para os alunos mais vagabundos; às vezes, o pagamento era em dinheiro, outras, em lanche). Depois de algum tempo com a coluna semanal, na "tranqüilidade" do serviço público, resolvi juntar um bando de malucos e criar o Rascunho, pois nunca gostei muito dos suplementos existentes. Juntamo-nos na mesa de um bar: apresentei a idéia, fiz o projeto gráfico (em parceria com o jornalista Fabrício Binder), e apresentei ao Jornal do Estado. Depois, muitas noites de insônia e café a cada edição mensal. ROGÉRIO PEREIRA - Você partiu de alguma reflexão crítica sobre o jornalismo literário atual, uma intenção de preencher um espaço vazio, cobrir uma lacuna, algo assim? CLAUDIO WILLER ROGÉRIO PEREIRA - Isso pesou muito, mas a vontade de fazer um bom jornal literário pesou mais. Nunca concordei muito com o tom conciliatório dos suplementos literários, sempre jogando a sujeira para baixo do tapete. Considero os suplementos um grande salão de baile de confraternização, um passa a mão na cabeça do outro. Pura bajulação. Falta a discussão, o apego à polêmica. As idéias opostas são sempre bem-vindas. É claro que a responsabilidade deve estar implícita. O que se vê por aí é um bando de compadres a tomar chá no fim da tarde. Os suplementos literários dos grandes jornais são o quintal para um churrasco literário, com carne de segunda e muita lengalenga. CLAUDIO WILLER - E esses colaboradores, esse grupo tão diversificado, como você os achou? Você procurou ou escolheu a dedo gente disposta a escrever de modo passional, veementemente contra ou a favor algum texto ou autor? - Para começar o Rascunho, chamei jornalistas (todos bons amigos) em quem confiava muito: Paulo Polzonoff Jr., Adriano Koehler, Paulo Krauss, Andrea Ribeiro, Alessandro Martins, Eduardo Ferreira, Jeferson de Souza, entre outros. Precisavam ser bem amigos mesmo, pois não receberiam (e até hoje não recebem) um centavo furado para escrever resenhas/críticas/entrevistas para um jornal literário chamado Rascunho, que até agora não foi passado a limpo. Com o tempo (não sejamos modestos: o Rascunho cresceu, ganhou vida, melhorou muito. Passou de oito para 16 páginas), muitos outros nomes foram se juntando, pois acreditaram no projeto: José Castello, Fernando Monteiro, Nelson de Oliveira, Álvaro Alves de Faria, Fabrício Carpinejar, entre tantos outros. São colaboradores fiéis e de suma importância. Sem eles, o Rascunho seria apenas um sonho. Ninguém ganha nada, mas se diverte um bocado. Acho. Todos os meses, aparecem novos colaboradores. Conseguimos criar um grande canal de discussão literária, e, assim, as pessoas sentem-se motivadas a participar, apesar de o pagamento ser um "muito obrigado" por e-mail ou telefone. E nessa tropa, sempre há espaço para novos colaboradores. ROGÉRIO PEREIRA - Quem teve a idéia de cotejar matérias pró e contra algum autor ou obra? Continuarão, esses exercícios de pluralismo? CLAUDIO WILLER - Criar um jornal para ser morno e insosso como tantos outros estava fora dos planos. Sempre fui a favor da polêmica. O primeiro grande "cacete" foi no Décio Pignatari, com o texto "50 anos de enganação", escrito em parceria com o Paulo Polzonoff Jr. Aí, o Rascunho deixou claro o seu "desprezo" pela poesia concreta. Mas, mesmo assim, abrimos espaço para os amantes concretistas. O Rascunho é um barco furado que teima em não afundar. Portanto, sempre cabe mais um. Depois, veio o texto sobre o Valêncio Xavier: "Equívoco", novamente assinado por mim e pelo Paulo. Acho que somos os "grandes" polemistas: ele mandou bala no Scliar e no Loyola. Eu escrevi um texto polêmico sobre o Marcelo Mirisola, que sonhou que era escritor e até hoje continua acreditando. O Rascunho tem essa característica polêmica, mas sempre com muita dose de humor e responsabilidade. O pluralismo vai imperar até o fim, até os últimos dias. ROGÉRIO PEREIRA - Suplementos culturais e jornalismo literário têm história, grandes antecedentes - Suplemento do Estadão, o do JB, etc. É possível especificar relações de Rascunho com esses antecedentes, comentar algum que tenha influenciado ou servido como referência? CLAUDIO WILLER ROGÉRIO PEREIRA - Acho que não sofremos influência de nenhum suplemento das "antigas". Até mesmo porque não conheci nenhum deles no dia-a-dia. É claro que conheço a história dos grandes suplementos culturais, mas a minha idéia era fazer um jornal que valorizasse o texto, em contraponto à frugalidade, rapidez e concisão do jornalismo em geral. Adoro ver uma página do Rascunho cheia de letras, de idéias, de discussão. Meu lema: entre o texto e a ilustração, mate a ilustração. Questão de gosto. É claro que às vezes exagero na dose, mas a overdose rascunheira é benéfica à saúde. - E de lá de fora, publicações de outros países, mencionaria alguma? CLAUDIO WILLER - Morei na Espanha e conheço muito bem a imprensa espanhola, em especial o El País, que mantém o excelente suplemento literário Babelia. Lá, o texto é valorizado e as idéias são amplamente discutidas. Até acho que tenha me influenciado de alguma maneira. Mas não sou um grande conhecedor do jornalismo feito em outros países. Conheço-o como qualquer navegador de Internet. Clico aqui e ali e vou descobrindo coisas. ROGÉRIO PEREIRA - Com relação ao presente, ao momento atual: você faria comentários sobre os suplementos, periódicos literários e revistas atuais? CLAUDIO WILLER ROGÉRIO PEREIRA - Como te disse, não acompanho os suplementos e revistas de outros países, a não ser o El País, uma paixão irresponsável. - Que tal lhe parece o atual crescimento, quando não proliferação de revistas de poesia e periódicos literários? Teria destaques, comentário sobre algum deles? CLAUDIO WILLER - Recebo uma grande quantidade de jornais e revistas literárias/poesia. Há coisa muito boa, como o Suplemento de Minas Gerais e a revista Continente, de Pernambuco. Também gosto muito da Bravo!, apesar de seu pedantismo almofadinha. A Cult não está entre as minhas preferências, mas às vezes acerta a mão. De um modo geral, acho que há um grave problema nos projetos considerados "independentes", principalmente em relação às revistas de poesia. Aqui em Curitiba, existia uma revista, que era um emaranhado de coisas, muitas vezes sem pé nem cabeça, para agradar a certos grupinhos de amiguinhos (assim no diminutivo). Há várias publicações editadas por grupinhos. Esse tipo de iniciativa me parece a masturbação do elefante com o avestruz (Que fique bem claro, nada contra os poetas fundadores; alguns muito bons, por sinal). Mas algumas revistas servem de muralha para atacar outros grupos ou preservar "idéias" consideradas indissolúveis. São, na verdade, frágeis fortalezas. E isso acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro (com o grupinho dos cariocas da gema), em Brasília, em Garanhuns, em Jaboatão dos Guararapes, no ROGÉRIO PEREIRA fim do mundo. O problema é a falta de abertura: a quem pertence ao grupinho, loas; aos demais, pedras no sapato molhado. Assim não há discussão, não há avanço, não se dilata a consciência (como diz Fernando Monteiro). Revistas e jornais precisam ter abertura, uma janela para se respirar. Caso contrário, todos morrem asfixiados no ocre cheiro dos corpos putrefatos. - Já estava em seu projeto originário ser tão polêmico assim, ter uma seção com tantas cartas de leitor pró ou contra alguma matéria? Você tem uma vocação de incendiário, iconoclasta ou polemista? Enfurecer gaúchos, isso o agrada especialmente? CLAUDIO WILLER - Meu esporte preferido é enfurecer o vizinho, jogando pedras no telhado em dia de chuva. A polêmica é necessária. A polenta sem molho é massa sem graça. Os leitores participam porque sentem a necessidade da discussão, de expor idéias, de criticar, de reclamar. Tudo isso faz muito bem à cultura. É triste quando se vai fechar a edição e há poucas cartas nos ofendendo, falando que somos imbecis, terroristas etc. Somos terroristas para o bem de alguns e desgraça de outros. Se pudesse, faria um incêndio a cada dia. Ainda mais aqui em Curitiba que é frio à beça. Temo uma invasão gaúcha, mas os arames de Curitiba hão de agüentar. ROGÉRIO PEREIRA - Como é viver, trabalhar e publicar algo em Curitiba? Como você se relaciona com o ambiente literário local? É verdade que Curitiba é uma cidade provinciana? O mito e a realidade têm correspondência? CLAUDIO WILLER - Curitiba é a sonolência do morto. Viver em Curitiba é uma maravilha. Não acontece nada, não ocorre nada, a não ser as mortes nos botecos da periferia. Curitiba é a capital da arrogância, da classe média alta de parca visão, das meninas encostadas no muro à espera do marido, do vampiro solitário sem um pescoço para desfrutar. Não há discussão literária nessa terra. O Rascunho não é conhecido e, tampouco, reconhecido. Somos um holograma. Mesmo assim, Curitiba tem vários bons escritores: Jamil Snege, Cristovão Tezza, Roberto Gomes, Miguel Sanches Neto, Manoel Carlos Karam, José Castello, Dalton Trevisan, e mais uma meia dúzia. Mas não há vida literária, discussão etc. Cada um em sua toca. É o jeito curitibano. Eu mesmo sou assim, mas da minha toca mando alguns mísseis. ROGÉRIO PEREIRA - O que você gostou mais de publicar em Rascunho, qual matéria ou quais lhe proporcionaram especial prazer por ter podido fazê-las saírem? CLAUDIO WILLER ROGÉRIO PEREIRA - Há várias. Sou suspeito em falar, pois vivo a lamber a cria. Mas acho que as matérias polêmicas (em relação a Décio Pignatari, Valêncio Xavier, Scliar, Mirisola, Augusto de Campos, entre outras) foram as mais prazerosas, pelo liberdade com que foram escritas. É claro que grandes entrevistas também prazerosas, como a com José Saramago. Também é sempre uma alegria muito grande publicar inéditos de grandes escritores, como aconteceu com Dalton Trevisan e Lygia Fagundes Telles. O bom desse Rascunho é que sou eu quem decide o que será publicado. Até hoje, não censurei nenhuma matéria. Minha vocação para censor do DOPS está adormecida. - E o futuro? Quais serão os próximos passos? Há planos de expansão, haverá crescimento de Rascunho? Quantitativo, qualitativo ou ambos? Algo deverá ou deveria mudar? CLAUDIO WILLER - Acho que o próximo ano será decisivo para o Rascunho. Hoje, o Rascunho é enviado para 3 mil pessoas em todo o Brasil, por meio de uma parceria com a Imprensa Oficial do Paraná. Com o novo governo de Roberto Requião, não sei se tal parceria será renovada. Hoje, o jornal não tem condições de arcar com despesas de correio. Será a morte do Rascunho, caso ele circule apenas em Curitiba e região. Mas por outro lado, vamos entrar com um projeto de apoio da lei de incentivo à cultura. Aí, a sobrevida será maior. A intenção é ampliar o número de páginas de 16 para 24. E também aumentar o número de "assinantes" do jornal. Uma alternativa para capitalizar o Rascunho é criar uma carteira de assinantes pagantes. Hoje, todos recebem gratuitamente o jornal. Talvez seja a hora de pedir uma contrapartida dos leitores. De resto, é continuar ateando fogo e chateando alguns gaúchos. ROGÉRIO PEREIRA - Para terminar, faça alguns comentários interessantes e simpáticos sobre periodismo eletrônico em geral e Agulha em especial. Aliás, a propósito, conexão ibero-americana nunca o interessou especialmente? E conexão lusófona? CLAUDIO WILLER ROGÉRIO PEREIRA - O jornalismo eletrônico é importante para facilitar as discussões. Ainda não sei de sua capacidade para discussões de grande fôlego. Mas não há dúvida da importância que tem. Agulha é uma prova disso. Sempre com temas interessantes e textos com qualidade, longe da superficialidade tão característica à Internet. Nunca me interessou a conexão ibero-americana e lusófona, pois acho que o Rascunho tem muito chão a percorrer no Brasil. Ainda vamos quebrar muitas vidraças e matar muitos sabiás. São Paulo, Curitiba. Outubro de 2002. Rogério Pereira é jornalista. Rascunho é publicação mensal da Editora Letras & Livros. Rua Filastro Nunes Pires 175 Curitiba PR 82010-300 Brasil. É encartado no Jornal do Estado do Paraná, mas tem distribuição complementar e pode ser solicitado envio gratuito diretamente ao editor. Contato: [email protected] . revistas em destaque . .. blanco móvil (méxico) diálogo entre editores: eduardo mosches & floriano martins Eduardo Mosches nace en 1944, mexicano de origen argentino. Estudió Ciencias Políticas en Berlín y Cinematografìa en la Ciudad de México, en la UNAM. Trabajó varios años de obrero agrícola en un kibutz en Israel, más tarde, como impresor y en producciones cinematográficas. Fue maestro universitario en Ciencias de la Comunicación y laboró como promotor cultural en la Casa del Lago de la UNAM. Ha realizado traducciones del alemàn y del portugués. Fue director del Foro Cultural Gandhi, y editor en Folios Ediciones, Nueva Imagen y Plaza y Valdés. Es director y fundador de la revista literaria Blanco Móvil, desde 1985 y director editorial de la revista, especializada en derechos humanos, La memoria y el parteaguas. Actualmente es Coordinador del área de publicaciones de la Universidad de la Ciudad de México. Ha publicado diversos libros de poesìa, entre los que se encuentran Los lentes y Marx, Los tiempos mezquinos, Cuando las pieles riman, Viaje a través de los etcéteras y Como el mar que nos habita. Desde hace años imparte talleres literarios en diversos estados del país. Ha publicado en periódicos y revistas en México, Estados Unidos, Israel, Brasil, Chile, Argentina, entre otros. Ha recibido el premio de poesía Anita Pompa de Trujillo, Sonora, 1995. Fue premiado como editor literario por el Instituto de Bellas Artes (1993) y por el Fondo para la Cultura y las Artes (1993 y 1994). FM - Eduardo, és argentino de nascimento. Desde quando e por quais razões foste morar no México? EM - Vivo en México desde 1976. Mi llegada a la Ciudad de México fue fruto de la casualidad, una mezcla de amistad y microcontrabando. Mi pasaje fue pagado por la madre de una amiga mexicana con la condición de que trajese dos maletas llenas de ropa nueva para ser vendida en México. La calidad de la ropa era muy buena y los precios relativos para el México de esos años muy económico. Por esas razones llegué, la política de la supervivencia a la latinoamericana. El porque me quedé fue diferente. Estando todavía en México, se da el golpe de Estado en la Argentina por parte de la Junta Militar, ese hecho me hace reflexionar sobre mi regreso, puesto que en esos años militaba en la izquierda trotskista y había sido detenido dos veces. Sentí que no debía regresar en esos momentos. Así inició mi larga estancia y asentamiento en México. FM - E em que circunstâncias nasceu o projeto editorial de Blanco Móvil? EM - El proyecto de la revista nace en el ámbito de una librería, la Gandhi en la Ciudad de México, como una especie de boletín literario bibliográfico de la librería. El tamaño era como el de un libro de bolsillos. La idea era la de dedicar cada número de la misma a un escritor/ra. Aparece el número cero en julio de 1985, dedicado a Julio Cortazar. Y en los primeros 14 números los creadores que aparecieron, con todo y una somera presentación, fueron desde Augusto Roa Bastos, Camilo José Cela, Juan Rulfo, Agustín Yañez, Claude Simón, José Revueltas, Elena Poniatowska, Felisberto Hernandez, Nadine Gordimer y Luis Cardoza y Aragón. Ya en estos iniciáticos intentos ya se notaba la vena de aventurarse en los recovecos literarios, que se aventuraban mas allá de lo mexicano, pero incluyéndolo. Debo decir que esta tendencia en esos momentos en México, era diferenciadora. La mayor parte de las revistas literarias abrevaban en sus propias fuentes, se editaban a sí mismo o a los amigos y conocidos. La gran diferenciada sería Vuelta, aunque ya su perfil literario se estaba desvaneciendo, para convergir más hacia el ensayo político o filosófico. Por nuestra parte, se daba el intento de abrir ventanas poco conocidas. Quizá, mi propio periplo personal, el de ya haber vivido en cuatro países, en diferentes continentes, cierto aromilla objetivo del exilio, me hacia inclinarme por acercarme a tejidos literarios mas allá de lo nacional, tanto mexicano como argentino (esto lo digo por mis origenes) y tampoco, cerrarme al ámbito de lo latinoamericano, por esto del pensamiento bolivariano y socialista, que era fuerte su influencia en esos años… En fin, es posible decir, que desde esos muy humildes inicios la visión de relación con y hacia la creación literaria internacional siempre estuvo presente, aunque fuese inconcientemente, no conceptualizado desde su inicio, pero así se dió. Creo que así fueron los inicios en la revista Blanco Móvil. FM - Quer dizer que Blanco Móvil antecede toda essa espécie de boom de revistas literárias e de cultura surgidas no México e que viria a tornar este país possivelmente o maior celeiro de publicações dessa ordem em toda a América Latina? EM - De cierta forma sí, puesto que llevamos ya algo más de 17 años galopando en las planicies literarias. Da un gusto sobrevivir y continuar más o menos rozagante, aún a pesar de las penurias, angustias y apretones que implica llegar a conseguir el dinero para pagar la edición. Esa es otra aventura en el proceso de existencia de una revista independiente. Por otro lado, creo que es magnífico que en México se de esa presencia de varios centenares de revistas literarias y culturales a lo largo del territorio nacional. Es una muestra de la búsqueda de expresar la pluralidad y hasta el ánimo democrático, en un país que recién se está iniciando en una concepción y actitud democrática, o sea la aceptación de la pluralidad de pensamiento. FM - E fora do México, com quais outras publicações similares vocês mantinham contato? EM - Lamentablememte tenemos poco contacto con revistas en el exterior. Fuera de esta excelente relación y constante realación con Agulha, es poca y esporádica, por ejemplo, con Atlántica en España y Periódico de Poesía en Argentina. Espero que se pueda abrir un nuevo sendero y a través de esta relación con ustedes podamos llegar a contactar otras revistas. Para crear una especie de internacional de revistas alternativas y literarias. Formar un bloque activo ante la estupidez de los gobernantes en la mayor parte de los países. En nuestro continente, quiero decir la única figura de gobernante esperanzador es la de Lula en Brasil. Lo demás da lástima, por su mediocridad en parte y por inclinación al servilismo ante los Estados Unidos por otra. Bueno, adelante con la literatura y la cultura. FM - Eu acho no mínimo curioso que Blanco Móvil ressinta-se da falta de um diálogo mais amplo com publicações similares em outros países, justamente quando ela cumpre o digno papel de levar ao leitor mexicano o mais expressivo da literatura desses países. Todos deveríamos ter para contigo um largo gesto de gratidão. Crês que o assunto é pura e simples da ordem de uma ausência de reconhecimento, ou haveria aí em pauta algum outro componente? EM - Quizá, una actitud personal, cierta timidez, de ampliar mis contactos hacia el exterior. Aunque quizá, y tu pregunta me ha hecho meditar, los correspondientes representativos de otros países no han demostrado una acertada actitud solidaria, de colaboración, de participación, en fin, quizá de reconocimiento. Valdrán más los proyectos propios, los celos profesionales, que la difusión de la propia literatura, de la ampliación hacia el exterior y hacia otros lectores? Es posible que el ánimo de la propiedad privada, de la pertenencia, esté más internalizado en muchos editores y en los escritores, que una actitud socialmente abierta, gregaria. Socializante. FM - E como é o relacionamento com a imprensa, dentro e fora do México? EM - En méxico ya se ha dado un cierto reconocimiento. La persistencia de tantos años ha servido para esto, que los medios reconozcan este trabajo. En el exterior ha tenido algo de presencia, muy diminuta, en España - España, especialmente Cataluña -, en Estados Unidos, gracias a la presencia de mi padre como periodista en Washington en la prensa en español, en fin, sólo en parte se reconoce. FM - Blanco Móvil tem projetos de vir a circular também na Internet? Qual relevância este veículo de difusão virtual representa hoje para a cultura mexicana? EM - Sólo se da el deseo, estamos en proyecto de crear una pagina Web. No estoy muy empapado, inmerso en los aconteceres de difusión virtual. Siento que es importante, pero me siento en mi interior todavía muy guttenberiano. FM - Quais os planos futuros da Blanco Móvil? EM - Para el próximo año tenemos en preparación números sobre la literatura de Belice, ciencia ficción latinoamericana, literatura contemporánea de Portugal y cerrando con cuentistas canadienses, de lengua inglesa. FM - E como são possíveis essas edições? Contas com apoio financeiro de algumas instituições dos países contemplados? EM - Es parte de la aventura literario editorial. Sobre Belice, por ejemplo, una amiga escritora muy cercana, Francesca Gargallo, conoce ese país desde hace muchos años y nos dijimos: vamos a hacer un número sobre la cultura y literatura; por ahí aparece un apoyo, pero no es seguro. Sería magnífico tenerlo. En el caso de los portugueses, nuevamente se pensó primero en el proyecto y no pensamos ante todo en el apoyo, por otro lado, con los canadienses, ahí si hay una posibilidad amplia de obtener apoyo por parte del país, en fin, la aventura de navegar por, con y hacia la literatura es realmente apasionante. Es lo importante, sin desechar para la nada la necesidad, hecho sustancial de esta sociedad, que todo producto es mercancía y debe pagarse. Y también es una aventura y reto, poder encontrar el apoyo económico para que cada número de la revista pueda estar en manos del futuro lector. Además, es parte de la amistad hacia los amigos escritores, el reencuentro a través de la revista. Fortaleza, México - novembro de 2002. Blanco Móvil. Criada e dirigida por Eduardo Mosches. Apartado Postal 21063 México DF 04000 México. contato: [email protected]. . . revistas em destaque . .. jornal de poesia (brasil) diálogo entre editores: soares feitosa & floriano martins FM - O que exatamente te levou a criar o Jornal de Poesia? SF - Em 1996, a Internet aqui no Brasil era uma realidade muito distante. A surpresa de praticamente nada haver em língua portuguesa. Para suprir esse problema, é que resolvi inventar o Jornal de Poesia. Inicialmente, pensei no nome Armazém de Poesia, porque, a rigor o JP não é um jornal, no sentido estrito de notícias novas substituindo notícias velhas. Não, no JP as primeiras páginas ainda estão lá, intactas. A escolha do nome "jornal", pensamento meu na época, daria mais força de divulgação... Valeu, sim. É ponto de encontro de muitos pesquisadores, jovens, estudantes, velhos e saudosistas. Recebo muitas cartas. Respondo-as todas. FM - Como se deu todo o processo de criação? SF - Foi pei-pei!, que isto de criar, na minha cabeça, não comporta muita estrumação. Como se fora um fiat daqueles do Senhor Deus dos Exércitos... Faça-se o JP! Pronto, está feito, taqui o bichim, bem feitim, bem bonitim. Claro que deu uma trabalheira dos diabos. Equipe e dinheiro. Era uma época em que eu ainda não havia quebrado, de modo que contratei quatro operadores, comigo cinco, e metemos o pau. O sacrifício (e prazer!) de digitar tudo. Eu mesmo digitei o Navio Negreiro e muito de Pessoa. Depois veio a quebra dos açougues, comigo dentro, também quebrado. Os operadores reduziram-se a dois; depois a um, finalmente nenhum. Hoje, até já "desquebrei", mas não voltei a contratar ninguém, mesmo porque a proposta inicial do JP, com o tempo deixou de ter maior urgência. Já não há aquela "orfandade", há sites e sites na Internet afora. Digamos, a necessidade de recuperar coisas descuidadas, autores perdidos, mortos, não mais editados. Aos novos, sugiro-lhes que façam eles mesmos suas pages. Coloco link e me poupo da trabalheira. Nesse meio tempo, surgiu a Usina de Letras, com um programa interativo, o autor vai escrevendo, e o bichocomputador aprontando tudo... Encaminho o pessoal para lá; tem dado muito certo. Houve um tempo, de plena liseira, em que cogitei cobrar uma colaboração mínima. Poucos toparam, é certo, mas foi muito oportuna: ajudou a pagar os operadores. Por falar em operadores, qualquer dia destes abro-lhes uma página de agradecimento: Jurandir, Alisson, Marcone, Massa, Rosemberg e mais dois cujo nome a velhice me atrapalha agora. Não, hoje não há mais cobrança alguma. FM - A criação de um site tão amplo implica em uma manutenção algo complexa. De que maneira ela vem sendo realizada? SF - Inicialmente, a equipe. Era um tempo de Bahia, de muitas saudades até, contei com a colaboração do provedor E-net, um canadense (Christian), um japonês (Raul), uns caras finíssimos. E veja, naquele tempo, era tudo muito caro. Pois eles hospedaram o JP sem nada me cobrar. Depois, quando vim embora para Fortaleza, a Secrel, através do Messias, um cara também gente finíssima, deu-me todo o apoio. Posso dizer, resumindo a conversa, que da parte dos provedores, inicialmente a E-net, de Salvador, depois a Secrel, daqui, Fortaleza, o apoio tem sido absoluto. Hoje, eu-xozim é que faço tudo. Inclusive a atualização diária da página. Claro que tudo isto me toma um tempo danado. Aposentei-me, mas tanjo um escritório de advocacia tributária, de manhã, de tarde e de noite... Se você me perguntar de onde tiro tempo, responderei que sou um lobisomem, corro as sete partes do mundo de noite e, de manhã bem cedo, sou o primeiro que chega ao escritório, o último que sai, com escuro... a tempo só de virar lobisomem do JP outra vez. Mais nada. FM - Como deve proceder aquele poeta que queira participar do Jornal de Poesia? SF - Hoje encaminho a turma para a Usina de Letras: http://www.usinadeletras.com.br/. Como eu disse, é tudo muito fácil e gratuito. Depois, o poeta me passa o endereço e então coloco o link no JP. Mas há a estimadíssima figura do cupinchato. Claro que meus amigos não hão-de ficar na chuva. Homenageio-os, pois. Hoje mesmo coloquei a página do Dimas Macedo sobre o poeta Alcides Pinto, cupinchíssimos, meus e seus. Se deu trabalho? Mas eu é que fico devendo o favor a eles... FM - E no caso de instituições, editoras, fundações, que acaso queiram estabelecer algum tipo de parceria, ou mesmo enviar-te sugestões de novos autores a serem incluídos, como tens reagido a esse tipo de diálogo? SF - Em aberto! Estou só aguardando. Mas quem disse?! Vamos ver se aparece algum doido. Gastar dinheiro do próprio bolso para um empreendimento como o JP não é coisa fácil de encontrar. FM - Hoje o Jornal de Poesia é site indicado pelo Instituto Camões, em Portugal. Como se deu tal conexão? SF - O JP hoje é referência mundial em literatura, sobretudo na lusofonia. Faço questão de não colocar contadores na página. Os amigos, penalizados e generosos, sempre dirão que é pouco; os inimigos, de inveja, que é mentira... De modo que prefiro desconfiar que é lido, bastante lido. O pior é quando vou fazer uma pesquisa sobre um assunto qualquer; volta e meia, caio no JP. Uma chatice, uma desmoralização, claro que é, achar aqui em meus pés o que busco tão longe... Espio no espelho, tomo um gole d’água... Se fumasse acenderia um; se bebesse emborcaria goela abaixo uma lapada de aguardente. FM - Quais outras relações tem conseguido estabelecer o Jornal de Poesia, nacional e internacionalmente? SF - Ah, como tem sido gratificante! Esta semana apareceu no escritório um amigo do JP, brasileiro de Pacoti, Ceará, morando em Bufalo, Colorado, há uns 50 anos. Foi festão! Ainda nos começos, Bahia, apareceu por lá um luso-canadense, Vasco, desviando roteiro só para conhecer o editor do JP. A festa? Sou inteiramente a favor. FM - Sendo reconhecido como o site mais abrangente sobre o tema, o Jornal de Poesia chama a atenção por ser atividade privada e fruto basicamente do trabalho de uma única pessoa. Institucionalmente o país não conta com algo similar, independente da extensão ou complexidade do projeto. Alguma vez foste procurado, seja pelo MinC ou mesmo por uma secretaria de cultura local, municipal ou estadual? SF - Tenho pensando seriamente nisto. Mas, o tempo que vou gastar para correr atrás de um político, melhor corrê-lo atrás de um cliente do escritório... Assim tem sido. Não, por enquanto não vou atrás deles não. FM - Qual papel poderia acaso desempenhar a Internet no estabelecimento de laços culturais entre o Brasil e a América Hispânica? SF - Bom, a grande notícia do JP foi a chegada de Floriano Martins como responsável pelo intercâmbio hispânico. De um projeto inicialmente só luso, podemos dizer que o JP é ibérico, a ampla navegação de Espanha e Portugal. Realmente tem sido um verdadeiro absurdo darmos as costas aos hispânicos, que têm uma literatura tão rica. A escolha não poderia ter sido melhor, justamente aquele que, também sozinho, fazia, via correio, esse intercâmbio. Não há limites! Por outra, a hospedagem da Agulha dentro do JP é apenas o coroamento daquele ditado nordestino: Quanto mais cabras, mais cabritos. E bons cabritos, diga-se de passagem. FM - Como se mantém hoje o Jornal de Poesia em termos de suporte e difusão? SF - Apenas no boca-a-boca. O JP está nos buscadores de toda a orbe, desde o Cadê, Brasil, ao mundial www.google.com. Claro que quanto mais divulgado, melhor. É hora de passar um mail-geral sobre as novidades, pelo menos as do mês. Vamos pensar nisto. Fortaleza, dezembro de 2002 Jornal de Poesia. Criado e dirigido por Soares Feitosa. Endereço: http://www.jornaldepoesia.jor.br/. . . revistas em destaque . .. digestivo cultural (brasil) diálogo entre editores: julio daio borges & claudio willer Em Agulha já foi comentado, várias vezes, o risco representado pela concentração e pelo crescimento dos monopólios de comunicação, especialmente para o Brasil, país cuja legislação é frouxa, tornando-o uma preferência eletiva de aventuras irresponsáveis e empreendimentos temerários (bastando observar o que se passa, neste país, com a televisão paga, a cabo, com as redes de TV, e com a telefonia, inclusive em sua intervenção na transmissão pela Internet). Nesse contexto, é um motivo de satisfação apresentar Julio Daio Borges do Digestivo Cultural, www.digestivocultural.com e www.digestivocultural.com/blog/. É o típico free-lancer de si mesmo, capaz de levar a bom termo um projeto pessoal, em um empreendimento que conta com toda a simpatia de Agulha. CW - Depois da saída de cena de no. - entre outros projetos - o foco de uma entrevista sobre o Digestivo Cultural forçosamente acaba incidindo na questão da viabilidade. E, em uma publicação híbrida como o Digestivo, com algo de newsletter, de periódico eletrônico, e de ecommerce, também sobre sua identidade. Antes de qualquer outra coisa, um pouco de biografia: de onde emergiu Julio Daio Borges, o que fazia antes, em resumo, quem é você? Em especial, antes do Digestivo, seu campo de atuação era mais o jornalismo impresso, marketing, informática? JDB - Sou engenheiro por formação. Estou ligado aos computadores desde os onze anos de idade. E às letras, desde os dezessete. Mantive sempre essa dualidade. De 1996 até 2001, trabalhei em bancos, consultorias e empresas de telecomunicação. O lado engenheiro prevaleceu nessa época. Mas eu nunca parei de escrever. Montei um site pessoal (jdborges.com.br, em 1999) e o Digestivo Cultural (Digestivocultural.com, em 2000). No entanto, foi só em meados de 2001 que o jornalista emergiu, e subjugou o engenheiro. (Quer dizer, em termos: para estruturar o Digestivo, eu precisei muito da minha "expertise" de engenheiro.) CW - Examinando tudo o que você apresenta, fica-se com a impressão de que é simples manter à tona um periódico eletrônico. Basta trabalhar 26 horas por dia. É isso mesmo? JDB - Considero uma profissão de fé. Um verdadeiro ato de heroísmo. Trabalhar com cultura no Brasil. Ainda é aquele negócio da cereja no bolo. Quando você fala sério, é considerado chato, difícil, prolixo. Quando você faz piada, acaba atraindo um leitor ou outro, mas corre o risco de se repetir e cair no entretenimento puro e simples. Na Internet, mais ainda. Já reparou que nós somos os "filhos do jornalismo impresso" falando para os "filhos da televisão"? O diálogo parece impossível (e é), mas, ainda assim, existe (embora pouca gente queria investir nisso). CW - Dê algumas coordenadas cronológicas: quando foi que você começou a pensar em fazer um informativo, jornal ou boletim, eletrônico? Como surgiu a idéia? Digestivo? De onde saiu esse título? Anglicismo, é? De digest, um sumário ou condensação de informações? JDB - O Digestivo propriamente dito surgiu em setembro de 2000. Eu estava tentando resolver esse enigma: por um lado, o desejo de escrever e seguir carreira em jornalismo; por outro, a Internet se abrindo como um mar de possibilidades. Então pensei num formato relativamente breve, falando de cultura, num sentido utilitarista e, ao mesmo tempo, crítico. O nome vem daí. É contraditório, na verdade. Mas é também simpático e as pessoas, em geral, apreciam. Eu queria que o Digestivo - como boletim - fosse auto-sustentável e, portanto, me direcionei a um público mais amplo. Não queria apenas os iniciados, nem só os especialistas. CW - Quais as razões da escolha do segmento cultura, e não economia e/ou política, ou negócios em geral, por exemplo? Em tese, dariam mais Ibope. Aliás, é cultura, ou cultura e variedades? JDB - Por que "cultura"? É o mesmo que me perguntar por que "azul" e não "vermelho". Simplesmente porque me pareceu o caminho mais natural. Nunca me vi editando um semanário sobre economia ou política. Fora que o efêmero não me atrai. A informação, a notícia. Prefiro a análise, a reflexão. Admiro os repórteres, claro, mas sempre preferi o lado mais autoral do jornalismo. O subjetivo invés do objetivo. Sem dizer que economia e política não são assuntos que eu domino (ou que tenho pretensão de dominar). Sobre cultura dar pouco Ibope, não concordo. Basta pensar em três dos colunistas mais populares no Brasil: Diogo Mainardi, que "mexe com cultura"; José Simão, que escreve na Ilustrada; e Luis Fernando Verissimo, que escreve no Caderno 2. CW - Quanto tempo levou, entre definir as principais características do Digestivo, e pô-lo no ar? Houve modelos, veículos nos quais se inspirou? JDB - O Digestivo Cultural, como ele é hoje - falo do site como um todo , resultou de um trabalho de mais de dois anos. Como eu disse, a minha referência e a dos Colunistas era fundamentalmente a imprensa escrita. A partir disso, a idéia foi dinamizar alguns processos aproveitando as facilidades da internet. Em termos de publicação, por exemplo: cada um hoje publica, controla e modifica o seu texto automaticamente. Em termos de interatividade, outro exemplo: por meio de fóruns, e-mails, número de acessos, lista dos mais lidos, etc. Foi um grande aprendizado - e continua sendo. Algumas idéias mirabolantes se revelaram inúteis; outras, nem tanto, produziram resultados surpreendentes. CW - Quando o Digestivo Cultural foi lançado, há pouco mais de dois anos, as expectativas sobre o crescimento de veículos eletrônicos eram outras. Hoje, reverteram-se. Havia uma previsão, talvez apocalíptica, de substituição total ou parcial do jornalismo impresso pelo eletrônico, que não se cumpriu. Você não acha que está pisando em um campo minado? Você chegou a fazer uma análise crítica de outros projetos, a diagnosticar onde falharam? JDB - Quando o Digestivo apareceu, a Internet já claudicava (estamos falando do final de 2000). Quando chamei os Colunistas, e decidi implementar a revista eletrônica (início de 2001), ninguém pensava em faturar milhões. Queríamos fazer barulho, mostrar um trabalho digno de nota, provar que havia novos talentos não contemplados pela imprensa, agitar o meio, derrubar alguns paradigmas, etc. Nesse sentido, diria que conseguimos. Óbvio que, em outros tempos, o conteúdo do Digestivo seria remunerado por um portal - e, quem sabe, poderíamos viver disso (o que não acontece hoje). Sobre a análise crítica de outros sites, ela é feita constantemente e nos ensina muito. CW - Quando, nos informativos sobre o Digestivo Cultural, você declara viabilidade econômica, o que isso significa? Cobertura de custos de manutenção, ou que dá para viver bem disso? Quanto por cento da sua receita é diretamente ligada ao Digestivo (anunciantes, patrocinadores, assinantes), e às vendas ou à prestação de serviços, do tipo construção de sites? (isso, mesmo considerando a óbvia sinergia entre ambos, que um puxa o outro, que a circulação do Digestivo o fortalece em prestação de serviços e vice-versa). JDB - Quando falo em viabilidade econômica, falo em custos muito baixos se compararmos o Digestivo a uma publicação equivalente em papel. Como a estrutura já está montada, não há quase manutenção. Fora que o site e as facilidades que a internet proporciona eliminam uma porção de intermediários. Há basicamente a redação, para se remunerar - o que é, convenhamos, a parte menos onerosa de uma revista ou de um jornal. Quanto às receitas, o grosso vem do ecommerce (no entanto, muito longe daquilo que você está imaginando). Já a publicidade em internet foi praticamente banida - ficando restrita aos grandes portais (às vezes, nem isso). E a parte de serviços vai crescendo aos poucos, embora tenha sofrido um baque com a desaceleração geral da mídia. CW - O Digestivo Cultural apresenta textos e informação, mas também bastante e-commerce. Em parte, não seria um Submarino terceirizado? (ou seja, assumindo funções de que Submarino desistiu, diretamente, como sua própria revista) JDB - A pergunta é interessante. Sérgio Buarque de Holanda tentou introduzir Weber no Brasil, mas tudo indica que não foi feliz. Aqui, ganhar dinheiro ainda é pecado. Entre a intelectualidade, então, pecado mortal. Assim, se um "site de cultura" se propõe a faturar alguns trocados com os produtos que gratuitamente divulga, logo é tachado de "vendido" ou de "mercenário". O que existe entre o Digestivo Cultural e o Submarino é uma relação de parceria comum, e nada mais. Acontece que nos pareceu lógico oferecer a facilidade de se adquirir livros, CDs e DVDs via internet, através do nosso site, e receber uma comissão por isso. Os intelectuais brasileiros precisam perder esse preconceito. Quem sabe abandonando o voto de pobreza e pensando em soluções comercialmente mais viáveis. Teríamos, inclusive, publicações financeiramente mais saudáveis. CW - O que lhe deu maior prazer publicar, lhe provocou maior satisfação? Do Digestivo atual, o que lhe agrada mais? Fale um pouco mais sobre a contribuição propriamente cultural do Digestivo, o que ele acrescenta, além de possibilitar acesso a mais informações via net e, portanto, dar sua contribuição para a democratização da informação. JDB - Não vou falar de um texto ou outro, porque cometeria certamente alguma injustiça com algum colaborador. O que me orgulha mais é termos construído, a partir do zero, um periódico que hoje é referência em termos de jornalismo cultural, tanto dentro quanto fora da Internet. Veja bem: eu sou praticamente um "outsider", não venho de nenhum jornal, nunca tive ligações na grande imprensa, entrei como novato nesse negócio. A maioria dos Colunistas também (começaram como eu). De repente, recebemos elogios do Millôr Fernandes, felicitações do Mino Carta. Depois uma citação honrosa do Sérgio Augusto, uma indicação do Ruy Castro. Uma menção do Daniel Piza, uma consideração do Sérgio Dávila, um voto de confiança do Luís Antônio Giron. Por fim, as mensagens do Diogo Mainardi, da Ana Maria Bahiana, o apoio da Sonia Nolasco. Tudo isso não é mera coincidência e eu não acredito que aconteça por acaso. Em termos de reconhecimento, ninguém acreditou que chegaríamos tão longe. Nem nós mesmos. Pessoalmente, acredito que nem ninguém mais chegue. É o tipo de coisa que não acontece duas vezes. . . revistas em destaque . .. el artefacto literario (suécia) diálogo entre editores: mónica saldías & floriano martins FM - Como situar a atividade cultural de uma uruguaia que vai residir na Suécia e ali acaba projeto editorial de difusão da literatura iberoamericana? MS - Mi propia condición de poeta es sin duda y en primer lugar lo que me lleva a la concreción de un proyecto editorial como El Artefacto Literario, pero también sin temor a equivocarme puede decir que es mi propia situación de distancia geográfica y psicológica del sitio de mis origenes lo que da, o busca dar, desde el primer momento un contenido especial a El Artefacto Literario: la búsqueda de perspectivas de tiempo y espacio, la contextualización de calidades literarias independientemente de la pertenencia a tal o cual grupo, la apuesta por una trascendencia literaria que no depende de quién escribe sino de lo que se escribe. Lo que escribimos es apenas una gota en un inmenso mar, y estoy convencida de que si pudieramos de verdad comprender esto de corazón, de una forma totalizadora… si pudieramos comprender cuál es nuestro lugar en una perspectiva realmente abarcadora de tiempo y espacio podríamos también ser mejores creadores, sin estar demasiado ocupados y preocupados por la difusión y promoción de nombres, y más atentos a la difusión de calidad. Si no hay calidad entonces no hay nada para difundir. Y si como creadores tenemos la inmensa dicha de alcanzar una trascendencia literaria de tal envergadura que dentro de dos mil años las gentes integren nuestros versos en su vida cotidiana poco importa cuál ha sido nuestro nombre. Son estos al menos algunos de los ingredientes que impulsan y renuevan El Artefacto Literario, como proyecto editorial. FM - E em quais circunstâncias consegues concretizar as bases desse projeto editorial? Indago como ele se estrutura e quais as tuas condições de trabalho. MS - De ninguna forma es posible hablar de una única circunstancia o de varias circunstancias que se dan en un solo y único momento. Las circunstancias y las bases que dan nacimiento y van estructurando un proyecto editorial se van dando de a poco, paso a paso e incluso de manera intuitiva. En un primer momento y durante algunos meses El Artefacto Literario fue un espacio que incluía distintos géneros: no solo poesía sino también prosa y dramaturgia. Poco a poco el proyecto editorial se fue abriendo, concretando y limitando a la poesía. Así se han ido construyendo las bases; poco a poco, pero siempre desde la idea principal: la difusión de literatura de calidad. Y como la gran mayoría de los proyectos culturales El Artefacto Literario ha sido desde el comienzo y sigue siendo un proyecto altruista, que permanece y crece a partir del esfuerzo editorial. Esas son las "condiciones de trabajo": inversión personal en lo económico y en tiempo de trabajo. FM - Em que exatamente baseou-se a definição pela poesia, e não pela prosa ou a dramaturgia? MS - Creo que es importante apostar por un decantamiento paulatino de uno de los géneros, aunque por supuesto que en muchos casos es imposible establecer las fronteras entre uno y otro. No digo que sea imposible llevar adelante un proyecto de calidad que ampare diferentes géneros, pero sí creo que es una tarea imposible cuando una publicación no cuenta con medios ni humanos ni económicos como para enfocar en varios ámbitos y no correr el riesgo de entrar en un proceso de pérdida de calidad literaria. Mi tiempo es tremendamente reducido y en ese sentido creo que lo mejor que puedo hacer como editora es buscar focalizar, y elegir un campo, en este caso la poesía. Si la revista tuviera medios económicos entonces también podría contar con recursos humanos que permitieran una propuesta más amplia. Sin embargo, este es apenas uno de los aspectos en cuanto a por qué poesía y no prosa o dramaturgia. Si El Artefacto Literario recibiera en algún momento apoyo económico de algún tipo tampoco que implicara la posibilidad de disponer de recursos humanos creo que continuaría optando por la poesía. Dar un perfil y limitar los campos siempre es necesario e incluso deseable. FM - El Artefacto Literario possui algum apoio institucional? Como é mantido o projeto editorial? MS - Como mencioné ya en algunas de las preguntas anteriores El Artefacto Literario no cuenta con ningún apoyo económico. En Suecia muchas actividades o proyectos culturales reciben -aunque no siempreapoyo de organismos culturales estatales, pero no es así cuando se trata de medios digitales. Por otra parte está claro que por definición y por la propia característica de un medio y otro -digital y de papel-, una propuesta digital implica costos menores que una publicación de papel. Esta última debe contar con gastos de impresión, de papel, de encuadernación y ni hablar luego del costo de distribución y marketing. Los medios digitales ofrecen en ese sentido una posibilidad muy diferente: los costos se reducen en comparación enormemente y las posibilidades de difusión se multiplican. Claro que siempre de todas formas es necesario asumir costos fijos y en la medida en que la revista va creciendo se necesitan medios económicos sobre todo para el desarrollo del proyecto editorial. FM - Há intercâmbios com outras publicações similares? De que maneira vem sendo feita a difusão de El Artefacto Literario? MS - La difusión de un medio digital se realiza, en primer lugar, por vía digital. En este sentido y luego de un año y medio de vida he podido comprobar como editora que la revista ha hecho caminos impensables y ha llegado a gran cantidad de lectores. Semanalmente recibo enormidad de cartas postales y e-mails desde todo el continente latinoamericano; de países europeos como España, Portugal, Italia, Suiza, Alemania, Inglaterra, Noruega, Dinamarca y por supuesto Suecia; de Angola, Mozambique, Sudáfrica. No hay semana que no me llegue por correo postal algún libro de poesía, y de la misma forma material por vía digital. Por otra parte, y de manera natural, la conformación de un consejo editorial ha llevado también a una difusión importante de la revista. El apoyo que de manera permanente ofrecen a la revista poetas como José Kozer, Reynaldo Jiménez y Saúl Ibargoyen Islas es de gran valor para El Artefacto Literario. El aporte que el joven peruano José Ignacio Padilla también de manera permanente ha dado y da a la revista ha sido por ejemplo fundamental para la difusión de El Artefacto Literario en el Perú, entre poetas de calidad de este país y no menos entre el público lector. De alguna manera todos los miembros del consejo editorial, cada uno de manera diferente han significado un apoyo valioso para la continuación y maduración de la revista. Cuando se trata de publicaciones similares creo que aún estamos en los comienzos. Creo que un intercambio natural que se ha dado es el apoyo mutuo entre la revista cultural Agulha, de la cual tú mismo eres editor, y El Artefacto Literario. Otros intercambios y/o cooperaciones se están gestando en muchas direcciones, geográficamente en lo interno y hacia afuera. FM - Muitos leitores da Agulha indagam quando teremos uma edição em papel. Confesso que já não tenho essa possibilidade como uma meta, interessando bem mais a ampliação de circulação no meio digital. Acaso El Artefacto Literario tem planos para futuras edições impressas? MS – Creo que en el reclamo de tantos lectores siempre hay un fondo de sabiduría muy sana, porque es indudable que el medio digital ni ha sustituido ni sustituirá la magia del papel, así como los mensajes electrónicos no sustituirán la carta postal ni la tarjeta rústica. Si bien es imposible saber y predecir qué sucederá en dos mil años, lo cierto es que a esta altura probablemente el ser humano cuenta, en su relación con el papel, con una afinidad casi genética. En cuanto a El Artefacto Literario por el momento no tengo planes de ediciones impresas, pero tampoco cierro las puertas a esa posibilidad. Creo que especialmente se trata de problemas de recursos económicos y humanos para que esta tarea pueda ser posible. De todas formas pienso que ante la posibilidad de elegir alguna via impresa probablemente lo que más ayudaría a la poesía de calidad sería la opción por el libro impreso. Esta es una posibilidad que la revista viene madurando en realidad ya desde los comienzos, pero para esto es fundamental contar con una infraestructura mínima y una financiación económica que haga posible la cobertura de los gastos, cosa que al menos por el momento no resulta posible. FM - Como tens sentido a reação dos leitores? Quais os indicativos que mais se destacam nas inúmeras cartas que certamente deves receber? MS - Me resulta difícil sintetizar en pocas palabras la reacción de los lectores, porque en el mar de cartas encuentro cosas muy diferentes. Desde autores realmente de calidad pero desconocidos o muy poco conocidos que valoran enormemente la tarea editorial que El Artefacto Literario ha emprendido hasta autores ya establecidos que luego de haber visto mucho y tal vez demasiado en esto del quehacer literario, perciben este proyecto editorial como algo fuera de lo común dado el abanico de propuestas estéticas diferentes. No pocos lectores se sorprenden buenamente, por ejemplo, por la sobriedad del diseño gráfico de la revista, pero en especial se sorprenden de que yo en mi calidad de poeta no incluya en mi revista una sección mía, con mis propios poemas; es decir, aplauden y saludan el hecho de que no use mi proyecto editorial para promover mi propia poesía. Yo siempre respondo que en realidad no ha sido lo que me ha movido en lo personal a concretar un proyecto editorial. Y en este sentido vuelvo al tema que te mencionaba al principio: la perspectiva individual y colectiva, en tiempo y espacio. Creo que mi mayor preocupación como poeta y como editora (entre otras cosas) es la de intentar comprender cuál es nuestro rol como seres humanos y en nuestro quehacer, sea cual sea, en una perspectiva histórica; aquí, allí, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y estoy convencida de que esa perspectiva, o al menos el atisbo de esa perspectiva, no es posible de alcanzar desde los éxitos circunstanciales, o reconocimientos que con la mejor de las intenciones vienen de voces amigas. Los éxitos o reconocimientos circunstanciales son por supuesto estímulos humanamente necesarios, pero en el fondo no son más que espejismos de algo que puede no ser muy real en una perspectiva de tiempo y espacio. Probablemente allí nos asiste en especial la pregunta que creo todos deberíamos hacernos y responder con total sinceridad (al menos ante nosotros mismos): qué es lo que buscamos con nuestra escritura? Qué buscamos con la difusión de nuestros versos? FM - Para encerrar, qual a periodicidade de atualização de El Artefacto Literario, em que se baseia a definição de pauta da revista e quais novas perspectivas imaginas para ela neste 2003? MS - Actualmente y desde ya hace un par de meses El Artefacto Literario se ha planteado una periodicidad de tres o cuatro números al año, con ciertas variaciones dependiendo de las posibilidades. En este sentido creo que hay que ser lo más flexible posible, pero sin despistar al lector. Un medio como el digital a veces nos propone casi el vértigo de la frecuencia a extremos algo alarmantes. Es cierto que es necesaria una dinámica diferente a la que exige una publicación impresa pero pienso que de ninguna manera la frecuencia ha de estar por delante de la calidad y del rigor en el trabajo editorial. La periodicidad de tres o cuatro números al año permite una planificación y una selección más rigurosas, y una maduración de la idea detrás de cada número que ayuda enormemente a no perder de vista el objetivo principal. Es en este contexto y en este ánimo donde se definen las pautas de la revista. Este seguirá siendo en lo fundamental el camino a recorrer durante el próximo 2003, y seguramente habrá también buenas sorpresas. Entrevista realizada em dezembro de 2002. La revista digital de poesía El Artefacto Literario nace en Suecia en agosto del 2001, bajo la dirección editorial de Mónica Saldías. Consejo Editorial: José Kozer, Víctor Sosa, Reynaldo Jiménez, Saúl Ibargoyen Islas, Floriano Martins, Eduardo Espina, José Ignacio Padilla, Claudio Daniel. Dirección electrónica: http://go.to/artefacto E-mail: [email protected] . . revistas em destaque . .. jornal da abca (brasil) diálogo entre editores: alberto beuttenmüller & floriano martins FM - O Jornal da ABCA inicia atividades em setembro de 2001, após uma gestão anterior em que a entidade contava com outra publicação, o Jornal da Crítica. Quais os traços essenciais que distinguem um periódico do outro? AB - O primeiro traço foi de divergência editorial. O Jornal da Crítica não identificava a Associação Brasileira de Críticos de Arte nem demonstrava identidade com qualquer tipo de crítica. De quê crítica se tratava? De música, de teatro, de artes visuais? Além disso, todo jornalista sabe que há um formato de jornal que já é clássico. Este foi outro fator negativo do JC. Pelo formato, o JC era mais uma news letter ou um boletim do que um jornal, o JC assumiu o formato desses tipos de periódicos, com fotos pequenas, pequenas manchetes e mini-colunas. FM - Com periodicidade aparentemente semestral, é possível observar, nos três números até aqui publicados, uma melhor definição editorial, sobretudo no que diz respeito à presença de matérias e informações, que extrapolam a órbita enfadonha e viciada dos dois centros hegemônicos, Rio e São Paulo. Como tem sido possível articular uma pauta mais abrangente a partir dos diversos segmentos da ABCA em todo o país? AB - A periodicidade é fato importante em um jornal de grande circulação, mas na ABCA temos um jornal de críticos específicos, voltados para as artes visuais de seus Estados de origem. Temos críticos espalhados por todo o Brasil, não seria justo privilegiar apenas o eixo do Sul Maravilha. Temos hoje atividades no Nordeste, como a Bienal do Ceará, do Museu de Arte Moderna da Bahia, do Instituto Joaquim Nabuco do Recife, tanto quanto a Bienal do Mercosul, de Porto Alegre e a Bienal de São Paulo. Como editor, procuro cobrir todas as regiões. Um jornal deve ser democrático e o Brasil é um país continental; há enorme dificuldade de saber o que se passa longe do eixo Rio - São Paulo, que sempre recebeu cobertura total da grande imprensa. Somos um jornal alternativo em todos os sentidos, um periódico mais de ensaios que de notícias e de reportagem, mas gosto de sempre editar entrevistas com personalidades do setor de arte visual. O Jornal da Crítica privilegiava notas internacionais, o Jornal da ABCA quer ver o país unido e respeitado como um todo, só depois olhamos para os fatos internacionais de importância. O editor desenha o jornal durante meses, a colher aqui e ali os fatos mais relevantes e variados. Como não é um jornal feito somente por jornalistas, ele tem mesmo um aspecto incomum, talvez insólito, mas já tem uma diagramação própria, tem um rosto. FM - Por outro lado, dada a conexão existente entre ABCA e AICA, de que maneira a publicação de um jornal que represente a entidade brasileira tem encontrado chances de um diálogo mais intenso com seus pares em outros países? AB - A AICA está dividida. Antes, o presidente ficava em Paris, sede da entidade; agora a presidência permanece em seu país de origem, ou pelo menos era assim até bem pouco tempo. Nós temos correspondentes na França, Itália, Alemanha, atentos aos fatos mais importantes da Europa. Prefiro um texto vindo de lá a copiar notas de jornais estrangeiros. Nós da América Latina somos vistos com restrições pela inteligência européia da mesma forma que pelos Estados Unidos. Entretanto, elogiaram o jornal. Nós temos de provar que somos superiores a essas questiúnculas. Por outro lado, eu não elogiaria a news letter da AICA, falta-lhe um caráter próprio, para dizer o mínimo. FM - Não me parece que tenhamos que provar nada exceto a nós mesmos, sendo este um dos dilemas centrais da cultura brasileira: a baixa auto-estima. Mas como se relaciona então a direção do jornal com os críticos latino-americanos de uma maneira geral? Há outras publicações desta natureza na América Latina ou, a exemplo, da AICA, tudo se resume a mera circulação de news letter? AB - A América Latina é formada de países que sofrem a História e não de países que fazem a História. A globalização serviu, pelo menos, para que isso ficasse claro. Eu criei a Bienal Latino-Americana em 1978, para unir a AL muito antes do atual Mercosul, mas os doutores da USP Aracy Amaral e Walter Zanini convidaram os críticos e historiadores da AL para um conclave cuja decisão já estava tomada, ou seja, acabar com a Bienal Latino-Americana. Não perceberam que os demais países não queriam reforçar a liderança do Brasil. A primeira edição tinha caráter antropológico, daí o tema Mitos e Magia, um dos cernes da Arte na AL. Era para melhor nos conhecermos e partir para projetos exclusivos e sair dos vícios da Bienal Internacional, na qual havia uma espécie de acordo, no qual só os grandes venciam. Para ter-se uma idéia, de 1951 até 1977, ou seja, em 25 anos de existência da Bienal de São Paulo, só a Argentina ganhou o Grande Prêmio, em 1977, quando eu era curador; ano em que o Conselho de Arte e Cultura resolveu terminar com os prêmios, já que não se tratava de atletismo, mas, sim, de cultura. Não há como discutir um prêmio entre pintura e escultura, são coisas distintas. Como saber o que é melhor entre vídeo e instalação? Os críticos da América Latina sobrevivem a duras penas, não recebem os altos salários dos países que fazem a História. Por isso, o interesse pessoal é maior do que o interesse cultural. Há muito pouco intercâmbio entre as Nações da AL. Os críticos da América Espanhola, quando escrevem livros, deixam o Brasil de fora, porque desconhecem a arte que se faz aqui. Com tantas bienais no Brasil isso talvez mude. Nós estamos dando exemplo: a AICA devia ter um jornal e uma revista on-line, mas não fazem nem um nem outro. A divisão da AICA na AL, criada há cerca de cinco anos, sumiu como por encanto, sob a presidência de Horacio Saffons, da Argentina. O nosso representante nessa Divisão Latino-Americana nem fez um relatório sobre as atividades dessa entidade fantasmática. Há muito que fazer e poucos que querem realizar algo nos nossos Tristes Trópicos, como dizia Levy Strauss. FM - Como se dá a circulação/distribuição do Jornal da ABCA, nacional e internacionalmente? AB - Infelizmente, de forma aleatória. Não há ainda uma distribuição correta e muita gente, por isso, nem sabe da existência do jornal. A ABCA tem problemas de verbas e de verbo. Não há dinheiro e somos poucos colaboradores no jornal. FM - No editorial do número 3 do Jornal da ABCA mencionas certa dificuldade no envio de matérias para o fechamento de pauta no sentido de uma maior abrangência dos críticos vinculados à entidade em todo o território nacional. A que atribuis essa participação ainda reduzida dos críticos em todo o país? AB - Falta de interesse. Quando há interesse na matéria, o texto chega rápido. Se não há interesse pessoal, jamais virá. Há certo pessimismo de minha parte, mas é uma avaliação correta. Há associados que enviam pesquisa em andamento, para mostrar que estão a pesquisar, assim, recebem créditos junto aos seus amigos. Outros reaproveitam matérias que já saíram em jornal, não têm amor pela associação. Nesses casos eu não edito. Vou criar normas de redação e enviar para todos. A primeira regra é a de que a matéria deve ter interesse nacional, caso contrário não sai. Aumentou o número de colaboradores. Os associados estão interessados no Jornal da ABCA porque ele vem sendo elogiado. Eu agradeço, pois faço tudo sozinho, sem a ajuda de nenhum associado, apesar de que há uma comissão editorial. Assim é a América Latina, assim é o Brasil. FM - Como entendes a importância da Internet na reflexão e difusão de bens culturais e artísticos? Acaso a ABCA já não começa a ressentir-se de uma ausência de circulação através da Internet? Há planos para a criação de um site da entidade? Quais fatores determinam a inexistência de atuação nesse veículo? AB - Quando assumi a editoria do jornal, chamei a atenção para este fato: o jornal escrito depende de uma boa circulação e esta de verba. Propus, de início, uma revista on-line, pois a circulação já não seria problema, mas a diretoria, da qual não faço parte, entendeu que não poderíamos ficar sem o jornal impresso, pois já era uma conquista da ABCA. Eu insisti que deveríamos, então, fazer ambos. A revista on-line ainda vai demorar, mas creio que sairá em 2003. FM - Por último te deixo a tribuna livre, para o comentário de algo que acaso tenhamos esquecido de abordar. AB - Gostaria de pedir aos colegas da ABCA cooperação. Sei que fazer cultura em um país que não se importa com ela, é difícil, mas temos de acreditar no futuro do país. A ABCA precisa fazer algo pela comunidade, já que foi esta mesma comunidade que pagou os estudos universitários da maioria dos associados. Este jornal precisa percorrer escolas, universidades, museus e bienais. Precisamos crer na ABCA e, principalmente, em nós próprios. Entrevista realizada em dezembro de 2002. O Jornal da ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte) surge em São Paulo em setembro de 2001, dirigido pelo crítico Alberto Beuttenmüller. E-mail: [email protected] . . revistas em destaque . .. o escritor (brasil) diálogo entre editores: erorci santana & floriano martins O poeta e jornalista mineiro Erorci Santana tem se destacado sobremaneira pela direção do jornal O Escritor, da União Brasileira de Escritores, tarefa que divide com Ieda Estergilda de Abreu e que requer um tato especial considerando que as entidades de classe costumam ser lugares onde todos se sentem no direito de reclamar de algo enquanto que praticamente ninguém se dispõe a ajudar. Erorci tem publicado alguns livros de poesia, dentre os quais Carnavras (1986), Concertos para Rancor (1993) e Maravilta e outros cantares (2002). A seguir, uma conversa rápida em que nos conta algo a respeito dos meandros editoriais no tocante ao jornal O Escritor. [F. M.] FM - Desde quando se publica O Escritor? ES - O Escritor foi criado em janeiro de 1980, quando o número zero foi lançado junto com a candidatura do poeta Péricles Prade à presidência da UBE. A pauta consistiu em um debate com escritores, do qual participou Jamil Almansur Haddad. FM - O que tens acrescentado à pauta essencial do jornal desde que assumiste a direção? ES - Assumi a edição do jornal a partir do número 81, lançado em julho de 1997, após a morte de Henrique L. Alves, que o editava, com a percepção adequada de tratar-se de um jornal realizado por uma agremiação de escritores e que, portanto, mais que estender-se ao que é universal deveria espelhar o que era doméstico, minha preucupação inicial foi melhorar a projeto gráfico da publicação, cuja precariedade era evidente. Num segundo momento, procurei ampliar o corpo de colaboradores voluntários, à duras penas, pois a escassez de articulistas qualificados, que se proponham a trabalhar graciosamente, é o principal problema a ser resolvido para que existam publicações literárias no país, pois é sabido que os cofres estão fechados para o financiamento do jornalismo cultural. Em data mais recente, em ação conjunta com o diretor da publicação e presidente da UBE, o poeta Claudio Willer, logramos a formação de um Conselho Editorial ativo e a participação da escritora Ieda Estergilda de Abreu na co-edição. A ampliação do leque de pessoas envolvidas na discussão e produção do jornal (ainda que não possamos fazer isso em tempo integral, pois precisamos lidar com outros ofícios para sobreviver) viabilizará uma pauta mais consistente. FM - Há um abismo intrigante entre os associados da UBE e os colaboradores do jornal. A que atribuis isto? ES - Reflitamos sobre o gosto amargo de nossa condição. O exercício da literatura no Brasil é árduo, sem o mínimo incentivo ou apoio. Quantos escritores potenciais não se diluem nessa sociedade tecnocrática e retrógada? A maioria dos escritores (assim chamados porque comprovaram essa condição com a mínima escrita) associados à UBE são latentes, embrionários. Ingressam na entidade em busca de apoio logístico e social. Querem alguém que leia e comente seus rudimentos literários, diga-lhes que estão em bom caminho e que não estão sozinhos nessa tresloucada aventura. Há os bons escritores nas fileiras da UBE, sim, veteranos e assentados, gente que poderia, se tivesse boa vontade, agregar-se à essa plataforma de manobras coletivas em torno do fenômeno literário, serem transformados em agentes da difusão e da discussão dessa produção. Mas escritores, mercê de juízos de valor agregados ao seu ofício e à sua personalidade é um ser pouco inclinado a expandir-se à esfera coletiva, romper seu casulo. Viciamse em demarcar posição destacada e individual. Escritores fingem ouvir escritores, com freqüência fingem a condição de aprendizes quando são orgulhosos e arrogantes. De modo que a existência de agremiações de escritores fundadas na suposta necessidade da defesa de interesses comuns chega a ser uma traição de intenções individuais. O escritor vive o dilema entre o individual e o coletivo, na incerteza que se faz entre a pujança do ser e a eventual necessidade de alinhamento para sobreviver. Associa-se às UBEs e dá o assunto por resolvido. São poucos os que se lançam ao trabalho abnegado pela classe. Mas a dimensão da luta do escritor no mundo hoje é pra não morrer à míngua, é a da própria sobrevivência do prestígio da ficção, garantir o leitor do futuro num sistema que parece apostar impiedosamente na imbecilização da espécie. Respondendo à pergunta, colaboradores graciosos têm mesmo que ser capturados à laço. FM - Qual recepção crítica o jornal tem encontrado, dentro e fora dos muros da entidade? ES - Melhorou bastante. Os leitores têm elogiado o conteúdo e a apresentação. E precisamos acreditar e trabalhar pensando na progressão qualitativa, fugir sempre do engessamento diversificando os temas e os membros do corpo de colaboradores. FM - Considerando a existência de uma grande limitação de espaço para a manifestação de obra e pensamento do escritor brasileiro em nossa imprensa, não interessaria a O Escritor buscar um projeto editorial mais ousado, através de uma lei de incentivo, algo assim? ES - Interessa, sim, e é da ordem do dia esse pensamento. Precisamos trabalhar para que isso aconteça. Mas um grande jornal de debate da causa do escritor e da literatura, plural e aberto, deveria vir na esteira do fortalecimento da representação política da classe, com a criação de uma federação de escritores, ampliação de seu poder de intervenção na distribuição dos recursos, na implantação de projetos nacionais de incentivo à produção literária e de edição de obras dos autores brasileiros, de barateamento da produção e distribuição do livro, de projetos de sedução e formação de leitores. Lembra-me que a UBE recebeu do INSS um casarão em comodato na Rua Marquës de Paranaguá, 124, em São Paulo e até agora não conseguiu os recursos financeiros necessários para promover o restauro. A maior agremiação de escritores do país sequer têm uma sede social e isso é no mínimo deplorável. Jornal O Escritor. Órgão da UBE - União Brasileira de Escritores. Editores: Erorci Santana e Ieda Estergilda de Abreu. Rua Barão de Itapetininga 262 Sala 326 São Paulo SP 01042-447. Acesso eletrônico: www.ube.org.br. Contato: [email protected]. . . revistas em destaque .. fokus in arte (brasil) diálogo entre editores: andré lamounier & floriano martins André Lamounier é músico profissional, Professor, Arranjador, Produtor Musical, Compositor de um estilo próprio com mais de 400 composições, destacando-se inúmeras peças para piano popular e clássico, canto popular e lírico, ballets, oratório e peças sinfônicas. Também autor de musicais com estilo “Broadway/Hollywood” e Diretor Presidente/Fundador da Editora Fokus in Arte. FM - Como surge Fokus in Arte e o que lhe justifica o nome? AL - Fokus significa enfocar em alemão. “Enfocar a arte” é a tradução do nome de nossa revista. A Arte está em toda parte, em tudo que fazemos. Seja no dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, no cinema, estamos em constante processo de criação do mundo e de nós mesmos. Nosso propósito é levar ao leitor esta visão: Somos protagonistas de nossa história e vivemos construindo o que amanhã denominarão como Arte. Partindo do princípio de que os personagens de ontem, que criaram e recriaram nosso jeito de ver o mundo, de ler, ver as horas; inventaram a roda, o automóvel, a tecnologia; descobriram a música, a pintura, a dança e a poesia; desenharam o que viam, descobriram a fotografia; enfim, em tudo a ARTE estava presente e fora criada pelo homem que foi ontem igual a mim e a você. Hoje, somos os artistas que estamos inventando e criando o amanhã. Queremos, através da Revista Fokus in Arte, registrar estes personagens que estão criando uma nova etapa da História de nossa Humanidade, ao mesmo tempo, que levar ao leitor a possibilidade dele entender o que nos cerca e permitir que ele também registre suas conquistas, seus desejos e suas verdades. FM - No editorial do segundo número se fala em “variedade, entretenimento e muita informação” como uma preocupação básica da revista. Que tratamento é dado ali ao conceito de “entretenimento” em um projeto editorial que centra seu foco na arte? AL - Muito bom! A arte quando é vivida em seu dia-dia, transparece em tudo que fazemos. Desta forma, o entretenimento, é focado como uma vertente do “fazer a arte”. Assim como um trabalho pode ser considerado um lazer, se este for um projeto de realização e sonho profissional. Matérias como a que encabeça o segundo número, “Swing – Uma explosão de Prazer” fazem parte da editoria de Comportamento. No entanto, podem divertir além de informar o leitor para que ele compreenda melhor o mundo atual. Cada ser humano é único, próprio e individual e percebe o mundo de maneira diferente e também individual. Aí está a arte. O que para uma pessoa é informação, para outra pode ser apenas uma leitura de entretenimento. Porém, dentro deste processo, colocamos à disposição do leitor um aprendizado lúdico onde a cultura é propagada e onde a arte passa a ser vista de maneira natural e instantânea. FM - Como te parecem que se relacionam hoje no Brasil as mídias impressa e virtual? AL - A mídia impressa ao meu ver, ainda tem a possibilidade de propagar matérias mais longas e prolixas enquanto as informações dos noticiários virtuais se restringem a “pílulas” de notícias. Nestas pílulas, o leitor direciona sua pesquisa numa rede própria de conhecimento e muitas vezes ele pode até chegar a informações mais profundas do que aquela encontrada pronta na mídia impressa. Porém, vivemos em ritmo alucinado de produção onde o capital é a vedete dos dias atuais. Neste processo, o leitor ansioso por dados enxutos, vê na mídia impressa a idéia pronta e completa enquanto as pílulas da Internet se tornam superficiais a primeira vista. Mesmo que superficiais estes dados virtuais podem atender as necessidades do leitor mais afoito por tempo e capital e, sem ocasião para continuar sua pesquisa ele pare nos primeiros informes encontrados no mundo virtual e dê como finalizada sua rede de sabedoria, embora o consumo de elementos encontrados não contribua tanto para seu capital intelectual. Há assim, dois lados da moeda. De um, a informação mais profunda, porém, aquele que necessita de maior pesquisa (Internet).De outro, a mídia Impressa, a ciência completa, entretanto, sem interatividade. Neste novo mundo que se desenha, as duas mídias, em minha opinião, tem a somar e subtrair para nossos leitores. Mais uma vez depende de cada ser humano – próprio, único e individual – escolher que rede (ou redes) de conhecimento deseja escolher para seu crescimento próprio. FM - Como vocês têm sentido o retorno do trabalho que estão realizando? AL - Ainda é muito cedo, estamos firmando nossa marca neste diversificado mercado. No entanto, já pudemos perceber, nestas primeiras edições, que o público está pronto para coisas novas, feitas com carinho, independência e preocupada com o aprendizado mais intelectual, menos consumista. Nossos leitores têm encontrado um espaço para expor sua visão do mundo, sua arte, seu jeito de viver, muitas vezes vetado por publicações que se preocupam apenas por aquilo que vende, mesmo que não seja interessante para a vida de quem lê. Desta forma, estamos recebendo e-mails, cartas e telefonemas de jovens, intelectuais, artistas e universitários que vêem nosso veículo como um instrumento vanguardista, uma arma para a formação de opinião culta, artística e engajada na política do mundo atual. FM - Quando fizemos, Adriano Espínola e eu, a revista Xilo (1999) - impressa e de circulação nacional em bancas (projeto lamentavelmente abortado em seu número inaugural por ingerência do grupo empresarial que nos contratou como editores) - também constatamos, de imediato, essa expectativa do leitor por um tratamento não mais viciado em relação a arte e cultura. Sigo defendendo, desde então, que há que romper essa barreira do lugar-comum que não é determinada em isolado pelo mercado, mas sobretudo é fruto de uma conivência da parte de quem faz cultura neste país. O que pensas a respeito? AL - Penso que nosso povo - musical, inteligente, curioso e essencialmente alegre - está sempre apto a conhecer tudo que é novo e a descobrir o que aqui se cria. É obrigação de todos aqueles que possuem algum veículo de comunicação, criar espaço para a difusão de nossa cultura tão farta. A liberdade de expressão seja ela através da música, da dança, das artes plásticas ou da literatura deve ser respeitada, pois falam diretamente do coração de quem cria, seu jeito de pensar, de agir e de compor a Humanidade para aquele que o consome - parte inerente do dia-a-dia, já que caracteriza aquele que registra em sua memória a criação e sua evolução. Infelizmente, hoje em dia a aquisição da arte e sua divulgação estão acopladas ao consumo exagerado do mundo capitalista impedindo um olhar para a arte pura e simples. O giro rápido de capital e a aceleração do ritmo cotidiano fazem com que muitos veículos de comunicação prefiram a divulgação do lucro certo e rápido ao invés de propagarem quem realmente está fazendo história em nossa Cultura e em nossa Arte. FM - Gostaria ainda de observar que acho uma grande lição a que transmites aos intelectuais deste país, que seja justamente um músico a preocupar-se de maneira tão substanciosa com a difusão e reflexão em torno de nossa cultura. Nossos escritores, por exemplo, caíram no ardil da especialização, de tal forma que hoje podem melhor ser entendidos como autistas do que como artistas. A Agulha te recebe, assim, com imenso carinho e respeito. A palavra final é tua. AL - Agradeço à Agulha, mas considero vocês, merecedores de tais elogios. A Agulha sempre foi um espaço aberto para artistas de diferentes vertentes e precursor no que tange a liberdade de criação e sua propagação. Como músico, quero resgatar a beleza da música pura sem ser nostálgico ou copiar estilos. Afinal, vivemos em um novo mundo delineado pela tecnologia avançada, pela Globalização e pelo exaltar da Publicidade. No entanto, continuamos seres que pensam, que sentem, que refletem e principalmente que criam... Resgatar a criação (não me refiro à criatividade, mas a criação como algo mais profundo) aliada ao desenvolvimento da atualidade e a liberdade de expressão são, para mim, um desafio extremamente prazeroso. Em minhas composições, pretendo resgatar a sensibilidade melódica, a estrutura complexa dos grandes mestres da Música Mundial, a Tecnologia de nosso tempo, a Alegria dos musicais, a naturalidade e a liberdade em encarar o mundo como ele se desenha para nós e a leitura de nossa história. Enfim, quero mostrar ao mundo que o ‘hoje’ pode ser mais culto sem ser chato, pode ser mais sensível sem ser “piegas”, pode ser complexo, fino e bonito sem ser caro. Desejo, através da Revista Fokus in Arte propagar que, assim como eu, muitos artistas, intelectuais e pessoas comuns anseiam por escrever nossa história e assinalar para o mundo quem somos - um povo preocupado com a preservação de nossa obra e com o ambiente em que vivemos. Um povo que deseja registrar o jeito com que enfrentamos nossas angústias (naturais do ser humano), a maneira como avançamos nossas tecnologias e o modo como buscamos a felicidade para que futuramente nossos netos possam ter orgulho de seus antepassados. Revista Fokus in Arte Diretor-Presidente/Fundador André Lamounier van Lammeren Editora Chefe e Jornalista Responsável: Carla Braga - Reg. MTB no. 18.348 Direção de Arte e Diagramação: Slavisa Rupar Lamounier Colunistas: André Lamounier - Sérgio Madureira - Silvio Alvarez - Dr. Vanor Cosme da Silva Assinaturas: As assinaturas poderão ser feitas pelo tel: (22) 2523-2252 ou através do e-mail: [email protected] Distribuição exclusiva para todo o território Nacional pela Fernando Chinaglia Distribuidora S/A. A Revista Fokus in Arte é uma publicação da Editora Fokus in Arte Ltda. CNPJ 05.271.786/0001-03 Rua Duque de Caxias no 46 - sala 07 Centro - Nova Friburgo RJ 28.613-060 BRASIL Telefax: (22) 2523-2252 15.000 exemplares de circulação trimestral . jornal de poesia triplov alô música . revistas em destaque .. storm magazine (portugal) diálogo entre helena vasconcelos & maria joão cantinho MJC - Quase dois anos após o aparecimento da Storm Magazine, um evento cultural bem significativo no universo virtual português, qual o balanço que fazes dessa aventura? Porque sentiste a necessidade de criar um “espaço” virtual, neste meio em que o virtual é tão desvalorizado, face à imprensa? HV - A Storm Magazine tem bases totalmente idealistas o que quer dizer que são, também, em parte, irrealistas. Mas esse detalhe não me preocupa. Os factos aí estão : uma publicação que se tem mantido sempre on-line, a excelência dos textos e das imagens – não posso permitirme ser modesta – os contactos, as amizades, as cumplicidades que se estabelecem. Pode haver colapsos nas estradas virtuais, chuvas ácidas de vírus perversos, muitas horas em frente ao monitor, nenhum provento material. Mas que diabo! Ter uma revista a funcionar na Net com muitos milhares de leitores dá muito gozo. Há vinte anos que escrevo para jornais e revistas. A minha formação tem-me permitido expressar ideias sobre a cultura em geral, a literatura e as artes plásticas em particular. Já escrevi também sobre problemas sociais, sobre moda, sobre viagens a lugares distantes, sobre sexo, sobre cidades, sobre a vida, em suma. Tenho tido sorte. Mas, ao longo destes anos, também percebi que há muita gente que não tem as mesmas oportunidades que eu. Viver num local como Lisboa, que é um centro de cultura, ajuda muito. Mas... e os outros? Os que estão longe, isolados, os que não têm “contactos”, não vão às festas do momento, não conhecem esta ou aquela figura que naturalmente lhes pode “abrir portas”? Na Storm, as portas estão abertas às pessoas, em todo o mundo, que queiram participar. Imaginei a Storm assim. Eu e os meus amigos, em Portugal, no Brasil e no resto do planeta – sim, temos leitores nos cinco continentes – podemos, neste espaço virtual, publicar textos, exprimir opiniões, trocar impressões uns com os outros. Orientamonos pelos nossos gostos e interesses. Faço questão de me guiar pela ausência de preconceitos e pela busca da qualidade e de uma espécie de “iluminação” que a cultura dá de mão beijada, naturalmente. Tudo isto só é possível em clima de paz e entendimento. Na Net não há fronteiras físicas nem barreiras discriminatórias. Não creio que haja maior liberdade do que esta. Quanto à questão contida na pergunta e relacionada com a “desvalorização do virtual pela imprensa”, suponho que essa desvalorização não existe. Qualquer publicação em suporte tradicional que se preze tem, também, o seu contraponto virtual. O que quer dizer que sentem a necessidade de se “virtualizarem”. Tenho uma relação sentimental, romântica, apaixonada, com os livros, com as revistas, com os jornais. Ler em suporte papel continua a ser um prazer absoluto. Mas também acho que se publica em demasia e que, por contraste, a reflexão e a crítica são escassas e muito limitadas. Por isso, a Storm publica um pouco de tudo. Parece-me bem, não achas? MJC - A imagem da Storm, neste momento em que tu confessas um dos objectivos fundamentais, é a procura de uma cultura virada para a comunicação e para essa “iluminação” que, naturalmente, só pode nascer de uma visão despreconceituosa da realidade. Onde a cultura nasce da confluência e do confronto crítico. É essa a visão que tens da cultura? E parece-te ser essa o exemplo da cultura portuguesa? Repara que me refiro, não apenas à arte, mas também à literatura... HV - Acho que não sei bem o que é a Cultura num sentido lato, ainda continuo à procura; é uma busca incessante, como no amor, como na amizade. Só sei que é um projecto de vida. É o que nos faz sermos únicos porque dá ímpeto e vigor ao pensamento, despoleta emoções. Acho que cultura não é sabermos tudo, é procurarmos compreender. Isto pode parecer pretencioso mas não sei explicar melhor. A Cultura, como a que tento veicular através da Storm, não é uma coisa abstracta, é algo que todos construímos, (ou destruímos) a cada momento. Quanto ao que chamas cultura portuguesa só sei que o nosso país está cheio de pessoas extraordinárias em todas as áreas das artes, da literatura, do pensamento, da ciência. Temos a vantagem de sermos um país muito antigo, muito cosmopolita, simultaneamente europeu e virado para a imensidão do oceano. Só quem não quer é que não tira partido desses factores. Felizmente vejo cada vez mais intelectuais, escritores, artistas, cientistas a pensarem pela sua própria cabeça e a agirem com mais eficácia, contrariando a tendência para o queixume – que não é apanágio exclusivo do meio cultural português. Curiosamente, é nas grandes cidades, onde existem mais meios, que se concentra um maior número de “vencidos da cultura”. Tenho muito pouca simpatia por quem proclama que “tudo é muito difícil”, que este é um “país de incultos” mas não levanta um dedo para mudar o estado das coisas. MJC – A tua experiência e convívio com artistas plásticos deu-te uma visão, não apenas da literatura, como da cultura em geral, diferente? O facto de não teres sido criada em Portugal deu-te uma outra perspectiva e uma consciencialização da cultura como diversidade? Gostava que me falasses dessa experiência, da tua infãncia e adolescência e no modo como isso influiu na tua formação. Como é que era chegar a Portugal nos teus 18, 20 anos? HV - Tive a sorte de ter crescido sujeita às boas radiações, por um lado da Literatura – o meu pai deixava-me (e até me incentivava a) ler tudo – e , por outro, do efeito directo de culturas muito diversificadas. Li muito nova Homero, Platão, Montaigne, sem perceber nada. Mas alguma coisa ficou. Devorei Conrad, Melville, Dickens, Faulkner, Kafka, Mann e , naturalmente, Dostoievsky, Tolstoy. Nunca tive grande inclinação para literatura infantil e juvenil, embora tivesse passado por um ou dois anos – quando começei a interessar-me pelas incríveis mudanças que estavam a acontecer no meu corpo – em que li coisas mais “leves” (Colette, as irmãs Brontë, Somerset Maugham) porque não me concentrava nada e só pensava em namoros e coisas assim. Mas, para além dos livros e de gostar de desporto (fazia natação de competição) e de andar à pancada com rapazes vivi em lugares (na Índia e em África) onde as pessoas me comunicaram uma cultura oral e visual fortíssima. Por isso, houve sempre o lado “estudioso” ligado aos livros e um lado dos “sentidos”, ligado ao mundo e às pessoas que me rodeavam. Para mim, Portugal não existia, era o lugar onde viviam umas pessoas muito antigas, os meus avós. Vinha a Portugal regularmente, nas férias grandes para ir à praia – horrível, fria, enevoada – e passar uns dias no campo, por altura das vindimas. Quando fui obrigada a vir para ficar – para a universidade – passei um tempo sinistro. Experimentei pela primeira vez o inverno, o olhar fechado das pessoas, o cinzento chumbo do ambiente. E é preciso não esquecer que eu entrei para a Faculdade ainda com 16 anos. E vim sózinha, de África. Parecia-me que, aqui, não havia nada que me interessasse. É claro que me meti em todas as revoluções que me passaram diante do nariz: a estudantil (muito animada), a sexual (muito excitante), a política (muito empolgante); a social (muito frustrante), a cultural (muito diversificada). Não perdia sessões de cine-clubes, o cinema era o grande veículo de conhecimento e de conscencialização, antes de 1974. Portugal era um país absolutamente chato com meia dúzia de pessoas geniais. Eu fui à procura delas e deixei-me ficar, a observar. Quanto ao meu contacto com as artes plásticas foi posterior quando conheci o Julião (exactamente em 1974) e fui viver com ele. Mas, entretanto, já tinha corrido a Europa à boleia, só para ver Museus. MJC – Não metas já o Julião, porque quero pegar nessas vivências e explorarmos/avaliarmos o peso da revolução. Conta-me como influiu toda essa loucura, essas revoluções várias, ao nível da tua formação. Sentes que elas te marcaram definitivamente? Como? Que cicatrizes deixou essa época na tua geração? HV - Sex, drugs and rock n’ roll. Foi tudo muito e MUITO bom. Agora, que já se passaram uns anos, vejo tudo isso como um tempo muito breve, muito “explosivo” cujos estilhaços ainda conservo no meu corpo como pedaços de cristal ou luzes fosforecentes. Mas não me parece que tenha sido “loucura”. Louca da vida fico eu, agora, quando vejo muita gente a andar de um lado para o outro sem paixões, sem experiências, sem desejos intensos. Fico sempre espantada quando deparo com pessoas inteligentes a “guardarem-se”, a retrairem-se para não correrem o perigo de estarem vivas. Não vá o Diabo tecêlas... Fico abismada quando percebo que essas mesmas pessoas boas e inteligentes acham que podem evitar o sofrimento e atravessar este mundo sem um arranhão, agarradas aos seus carros, às suas casas, aos seus “bens”. É claro que tudo isso é muito bom, eu também gosto e defendo acerrimamente o direito à felicidade. Mas creio que não me estou a contradizer.É interessante passar por revoluções, correr perigos, sofrer, ser-se deixada por amantes, ver ideais desfeitos, ser-se traída e poder sobreviver para o contar. Ah! E fazer revistas de cultura na internet onde, curiosamente, encontro pessoas e não avatares de catálogo de jogos de computador. MJC - Achas que essas vivências deram mais responsabilidade aos intelectuais e artistas da época? HV - Não sei. Terás de perguntar aos intelectuais e aos artistas. Não sou nem uma coisa, nem outra. MJC - Depois começou a tua relação com o meio artístico. Qual foi a tua formação nesse campo e como foi a tua experiência de crítica de arte? HV - A minha relação com o meio artístico, como dizes não teve um começo. Sempre tive esse fascínio por aquilo que sai das mãos das pessoas como se viesse directamente de um lugar qualquer, misterioso e fantástico. Em criança, o meu pai mostrava-me as imagens dos grandes artistas em livros sumptuosos e à noite, quando fugia do meu quarto para me juntar a quem vivia nos anexos – os “criados” – observava o que eles faziam num pedaço de madeira com um canivete ou os “brinquedos” que construíam e me ofereciam a partir de um cordel, de um trapo, de um fio eléctrico – pássaros, bicicletas, pessoas, barcos, formas abstractas - e sentia a mesma emoção. Eu nunca soube fazer nada assim. Mais tarde, na faculdade, a Literatura não era suficiente. Quando passei a ver obras de arte “ao vivo” e não em reproduções, tive um choque. Tive ataques de choro e riso, tremuras incontroláveis e paralisias que duravam eternidades perante coisas que vi. Ainda hoje sou assim: não consigo controlar esta reacção absolutamente romântica e nada “fashionable”. E li sobre o Pater, o Ruskin, o Berenson – é claro que não tinha as obras deles, as propriamente ditas – mas arranjei o Gombrich que me ensinou muito, embora a sua “História de Arte” tivesse parado muito atrás, no tempo. (Curiosamente, estou agora a ler o livro dele sobre “Primitive Art”, que é bastante interessante).E, é claro, havia o Herbert Read e o seu “The Meaning of Art” que me parecia tão “moderno”! E depois, encontrei o Julião e tudo deu uma reviravolta estonteante... MJC - Paixão e conhecimento, tudo em simultâneo? Foram anos intensos, esses que viveste? Talvez seja bom lembrar a “revolução artística” que irrompeu nesses anos em Portugal, ainda fresquinho da revolução? HV - Sabes, acho que as revoluções são “feitas” por pessoas com motivos muito práticos – ter o que comer, receber melhores salários, fazer pagar caro aos que usaram o poder de forma abusiva – e são “seguidas” por pessoas cujo motivo principal é o sexo. Não há nada mais sexy do que uma revolução. Imagina o que é isso acontecer quando se tem vinte anos, como era o meu caso e o do Julião! Imagina o que é duas pessoas encontraremse num momento daqueles em que tudo palpitava e estava vivo e descobrirem que tinham os mesmos interesses, as mesmas paixões! É claro que, como nós havia muitas outras pessoas, mais velhas – mais receosas ou mais novas – “mais inconscientes”. É natural que, logo após o Abril de 1974 se tenham criado imediatamente movimentos e correntes, umas mais conservadoras, outras totalmente vanguardistas. Quanto a nós, não estávamos preocupados com etiquetas, como deves calcular. Conto isto muita vezes mas não me posso esquecer: conheci o Julião porque o meu namorado da altura me disse que mo ía apresentar – eram (são) muito amigos – acrescentando que eu de certeza ía ficar melhor com o Julião “porque eu era maluca demais para ele” ( o meu namorado que deixou rapidamente de o ser). É evidente que este termo “maluca” era um elogio e até hoje o sinto como tal. E ser-se doida era fazer o que eu e o Julião fazíamos: amar intensamente. Sabes, ele é que me ensinou a olhar a arte. Eu estava cheia de Literatura até aos ossos. O Julião agarrava em mim e levava-me para a zona do porto e ficávamos horas a olhar para os guindastes e principalmente para aqueles contentores enormes a brilharem como prata com aquele canelado regular, macio, despojado e imponente. E ele dizia-me. “isto é tão bom como um Donald Judd, um Walter de Maria, um Richard Serra!” E eu ficava com cara de parva: “Espera aí, e os Tiepolo, os MichelAngelo, os Rembrant, os Goya, os Grecco, os Breughel?”.E ele ria-se e dizia, “Pois, isso já está tudo feito. E agora?” Por isso, convíviamos todos em alegre fricção, os que guardavam a reverência ao passado e os que sabiam que ele, o passado, existia mas... já estavam noutra. Procurávamos o que mais nos interessava, o que nos arrebatava, onde quer que estivesse. Viajávamos, líamos, íamos a exposições, passávamos noites inteiras a discutir com os amigos. Não havia barreiras, íamos ao encontro de quem quisessemos. Ainda conheci o Almada (Negreiros) um velhinho mirrado e havia o “guru” que era o Ernesto de Sousa, um verdadeiro revolucionário, uma figura romântica que nos falava de “body –art”, “land-art” , “mailart”. Mas devo dizer que o Julião e o Fernando (Calhau) eram uma espécie de discípulos que nenhum mestre quer. Aprendiam demasiado depressa, sempre muito à frente dos acontecimentos. Já estavam, cada um à sua maneira, a anos-luz de tudo o resto. Acho que não tinhamos medo de nada. MJC – Parece-me que essa última frase te revela...Tu permaneceste uma aventureira. Porque não seguiste uma cómoda, embora laboriosa, vida académica, já que te interessava tanto a arte e a literatura? HV - A via académica nunca me seduziu, embora essa seja uma opção para muitas pessoas cujo trabalho valorizo grandemente. Para mim não dava, nunca deu. Talvez seja uma falha, no meu carácter, esta maneira de ter de estar absorvida, “arrebatada” por tudo aquilo que me proponho fazer. De contrário, mal entro na rotina – uma imagem que eu sempre associei à vida académica – sinto-me a morrer. Não estou para aqui a dizer que sou capaz de levar uma existência sempre ultra excitante mas pelo menos, evito a passividade e o conformismo. Sempre que posso. É a minha disciplina. Talvez seja interessante recordar que com o 25 de Abril de 74, deu-se em Portugal um fenómeno semelhante, talvez, ao que está a acontecer agora no Brasil. Isto é, artistas e intelectuais que eram vistos como “outcasts” pelo regime anterior, foram chamados para ocupar cargos públicos e para intervir política e socialmente. Creio que essa é que foi a verdadeira revolução. Subitamente, tinhamos os Gilberto Gil de Portugal com poder para mudar o estado de coisas. E foi o que fizeram, uns melhor e outros pior. Mas creio que o balanço possível, hoje em dia, é muitíssimo positivo. É um pormenor muito esquecido ou até mesmo ignorado. O Julião, por exemplo, foi para a Secretaria de Estado da Cultura e durante o pouco tempo que lá esteve – largou o cargo, alguns anos mais tarde, para se dedicar só à arte – organizou eventos extraordinários e trouxe a Portugal gente que nem sabia onde o nosso país ficava, no mapa. Ele tinha os conhecimentos e o instinto natural para saber quem era quem e o que era preciso fazer para dar um murro certeiro na estagnação em que viveramos. Acompanhei todo esse processo e participei activa e directamente – com muitas outras pessoas, evidentemente – em acontecimentos que marcaram a história artística de Portugal, como, por exemplo, a Alternativa Zero do Ernesto de Sousa, as Bienais de Desenho e, mais tarde o Depois do Modernismo, com o Luis Serpa. MJC – E houve também essa abertura fantástica para a introdução da arte pós-moderna, que essa geração protagonizou, talvez entre todas a mais eufórica aventura. Achas que a mentalidade dessa época mudou realmente, relativamente à arte e à cultura? Lembro-me da euforia que causaram um Lyotard, um Gianni Vattimo, trazidos a Portugal e que enchiam as salas dos auditórios... HV - Creio não ser capaz de estar à altura para dar uma visão tão panorâmica como desejas. Só gostava de lembrar que a segunda metade dos anos setenta passouse em tempo de “arte conceptual” que deve ter sido o tempo mais romântico da história da arte. Tudo porque o que contava era a ideia, a emoção criada. As “peças” eram todas efémeras, destrutíveis, lixo. As referências eram evidentemente o Joseph Beuys – com a sua história de piloto de guerra abatido e salvo da morte por ter sido recolhido e envolto em gordura e peles), Duchamp, como santo patrono. (O “Urinol” – é uma peça tão poética e sensual!) Mas imagina que havia um qualquer cataclismo e se perdiam os museus, os livros de História de Arte, as referências “intelectuais”. O urinol, os trenós do Beuys acabariam, provavelmentem numa lixeira. Este conceito de morte imediata da obra de arte será talvez a derradeira tentativa de contrariar a ideia que o artista tem da permanência , da imortalidade. Claro que houve peças de arte conceptual que ainda permanecem e permanecerão. E o mais curioso é que nos ferozes economicistas anos oitenta, estes artistas são absorvidos pelo sistema – a “arte povera” passa a ser arte rica – e acaba-se a inocência. E, é claro, houve o famoso “regresso à pintura”. Ao fim e ao cabo os museus e os coleccionadores estavam a ficar fartos de ter objectos que estavam a perder o brilho, a atravancarem as salas... MJC - Mais tarde houve a tua entrada no meio literário, com o livro de contos Não há horas para nada. Como foi essa primeira experiência, a tua recepção? HV - Não foi uma “entrada no meio literário” nem nunca pensei nisso. Sempre escrevi, o livro foi um acidente de percurso e não teve sucesso algum. Certamente não me forneceu qualquer passaporte para a “cena literária” que não estava interessada em mim. E eu nem sabia bem o que era essa “irmandade” restrita. Eu costumo dizer que falhei completamente com o meu livro: os contos eram suposto ser, por um lado, uma crítica divertida a certos tiques da sociedade de então e, ao mesmo tempo, uma tentativa séria de eu “treinar” uma determinada forma narrativa. Pois bem: os críticos riram-se do meu esforço e não acharam graça nenhuma ao que eu achava cómico. Não sei bem porquê!!! É verdade que eu passava a vida a viajar – trabalhava nos aviões – e, quando não estava a trabalhar, estava na mesma a apanhar aviões para ir a festas, a jantares, a inaugurações nos quatro cantos do mundo. Em minha casa também havia sempre gente, passavam-se semanas, meses, em que havia pelo menos uma dúzia de pessoas para jantar. Era muito divertido, muito louco, muito estimulante, muito cansativo. Eu escrevia nos intervalos, a correr, em pedaços de papel dos museus e dos hotéis. Só me lembrava do Raymond Carver – passe a comparação – que nunca escreveu um romance porque nunca teve tempo, tinha de escrever nos intervalos do trabalho. Coitado, morreu quando ficou famoso. Eu nunca fiquei famosa e ainda cá estou... por enquanto. Nessa altura não conhecia escritores e os que conhecia não me interessavam, à parte o (António) Lobo Antunes. O problema não era dos escritores, era meu. Fui criada e educada no universo da literatura anglo-saxónica. A literatura portuguesa, muito influenciada pela francesa, não conseguia prender a minha atenção. Achava tudo muito centrado no umbigo de cada um, muito discursivo, muito misógino, muito preconceituoso, muito circunscrito, muito fechado, muito bairrista. Claro que, no que diz respeito aos franceses, havia a Duras – que eu devorava – e, noutra área, o Roland Barthes, o Philippe Sollers, o Michel Foucault, cuja “Histoire de la folie à l’âge classique” me interessou muitíssimo. Mas eram leituras complementares, importantes, sim, mas não definitivas. STORM-MAGAZINE. O Lugar da Cultura Direção: Helena Vasconcelos Lisboa - Portugal . . revistas em destaque .. punto seguido (colombia): depoimento de oscar jairo gonzález Punto Seguido se inicia en 1979, cuando concurren en una misma obsesión y en un mismo sentido, en la ciudad de Medellín -que llamamos Med-yin- los poetas John Sosa, Luis Fernando Cuartas y Jesús Rubén Pasos. Toda su visión se relaciona -cantidad relacionable, como la llama Lezama Lima- y se hace desde una mezcla de las lecturas que ellos hacen de Rimbaud, Lautreámont, Baudelaire, Vallejo, Huidobro, Genet, Gaitán Durán, Trakl, Celan; con lo que ellos conciben y realizan como una forma de hacer la revolución, de crear y causar en el mundo las formas nuevas y los nuevos ideales, por la vía entonces del sueño, lo inconsciente, lo real, lo ideal, la rebeldía y la irreverencia. Es pues, todo esto una mezcla escandalosa y crítica sobre el mundo, sobre nuestra realidad y sobre lo que se hace en la ciudad. Intentos y tentativas de dar a “conocer” lo que se estaba haciendo aquí, sin mediaciones de nada y sin apoyo de nadie, que hoy todavía se mantiene intacto para con ello mantener siempre una postura crítica y sin adhesiones inconedicionales a nada. El principio y el hilo conductor entonces es el de la libertad, de lo que Stefan Baciu, llamaba lúcidamente: “Palabras en libertad”. Entonces desde allí, la revista ha sido y será, sin duda, un medio de catharsis, de exploración y de aventura contra todo lo establecido y contra la impostura y la imposición de estilos y estéticas literarias academicisitas, retóricas, realistas y anacrónicas. Formas nuevas para mundos nuevos, por lo cual se práctica de manera totalitaria, si así podemos hablar, aquel principio baudelairiano: “Id al fondo de lo desconocido, para hallar lo nuevo”. En ese sentido y en esa perspectiva una de las inquietudes principales que se intentan resolver aquí, es también la manera de hallar y halonar hilos conductores de nuestra tradición americana, de instalarnos en una “historia de la sensibilidad”, para decirlo con Raymond Klibansky, y esta no podría hacerse sino no sabemos lo que hacemos. Entonces ella misma ha creado esos hilos de comunicación, que son más que nada de nuestra comunidad americana. Y por eso mismo entonces, no solamente da a conocer lo que se hace aquí en la ciudad, sino también lo que se hace en nuestra América y en el mundo, mucho antes de que se hablara de la Globalización y de otras mentiras, como la de “ciudadanos del mundo”, o cosas así. De allí pues, que aquí se han hecho visibles poetas y escritores de todo el mundo, se ha dado cabida a movimientos insólitos, se ha escuchado la otra voz, la de los outsider, de los “anónimos”, de los nuevos, de los que no pueden ser escuchados. O sea, que se propuso en su principio ser Internacional, cosa que hasta el momento se ha realizado y se ha concretado maravillosamente. Desde Suecia hasta Canadá, de Rumania hasta Francia, de Estados Unidos -el nuestro- hasta Chile, de México hasta Panamá, se ha construido una “red” de relaciones que le han dado una forma y una estructura muy concreta a la revista. Lo que se ha hecho también desde la contradicción y como contradictores, y lo que se ha hecho con poetas de todo el mundo y con movimientos poéticos que han alcanzado también la proyección del sol de su trayecto, de su, para decirlo con Paul Eluard: “andadura poética”. Movimientos y poetas libertarios y libertinos: Pizarnik, Orozco, Eunice Odio, Breton, Enrique Molina, Pelleqrini, Ceselli, Reznicek, Aquirre, Gilbert Lecomte, René Daumal, César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, Díaz Casanueva, Goméz-Correa, Cáceres, Braulio Arenas y así. Entonces, es demostrativo que ese trayecto se ha hecho en la tensión del temblor que proporciona y provoca el encuentro con lo desconocido, en nuestro bosque de símbolos. Lo simbólico y lo real se han hallado siempre en tensión, esa es nuestra temperatura y nuestro temperamento. Y no solamente se han incluido poetas, sino también músicos -Caqe, Hendrix, Morrison, Joplin, Satie- y lo mismo el teatro, y en el mismo orden de lo sensible y lo místico, lo hermético y lo surreal y nuestro sentido de la justicia y de la protesta contra la mediocridad y las masacres, porque la condenación, la censura y la muerte se hallan aquí, se hablan en ella. También habla de la desaparición, el exilio, el extermino y la exclusión, porque siempre ha sido este también un hilo que nos tensiona y nos reclama. O sea, hay en ella invocación y reclamo, la invocación a los dioses de nuestra tradición y a nuestros dioses -La Diosa Blanca, Robert Graves- y el reclamo a los hombres. Hay que reclamar y protestar ante los hombres e invocar a los dioses. De esa manera podemos decir, que la revista desde su principio y en sus principios ha mantenido contra cualquier intromisión, condicionamiento y coherción sea la que sea, proviniere de donde provienere, una total libertad para hacerse con lo que ha querido y con los ha querido, o sea, aquellos que hablan del sentido de su búsqueda y de su experiencia, por eso es muy ecléctica y muy heterodoxa. Ni expresionismo, ni surrealismo, ni dadaísmo, ni nadaísmo, ni estridentismo, sino que por medio de ella se exploran y se explotan, hacen para decirlo de otra manera, explosión e implosión estéticas muy diversas y muy diferentes, que como por azar y causalidad van encontrando su similitud, su semejanza en el poder incantatorio de la imaqen, de la imaqinación. El poder, es el poder de la imaqinación y la experiencia real es la experiencia de la videncia, de lo visionario, como lo llama Rosamel del Valle. Todo es pues, un comienzo, todo se halla siempre en el comienzo. Lo que continúo. Tras esta momento inicial, de mezcla del ideal-real poético y del idealreal de la rebeldía, que se lee en los números iniciales de la revista, comienzan a participar a intervenir: Raúl Henao, Carlos Bedoya, Oscar González y Wilson Franck. Y nos reunímos desde 1986, todos los Lunes a las 7 de la noche, en el bar de Don Lao, a hablar de los proyectos y de la forma que llevará un próximo número. Es en ese bar donde la soñamos, la construimos y la hacemos. Queremos decir, la revista siempre se esta haciendo en cada uno de nosotros, ella se forma en cada uno y eso es lo que te hace hablar y decir hacia donde queremos ir y con quienes queremos hacerlo. Ello provoca y suscita controversia, contradicciones y hasta imposiciones, pero se obedece cuando se ha alcanzando el consenso, si podemos llamarlo así. Yo diría más bien: cuando la contradicción se hace más tensamente irresoluble e irrenconciliable. Mientras esto ocurría yo estaba haciendo una revista que llamé “cantidad hechizada”, de la cual entre 1986 y 1989 hice solamente tres números, dadas las condiciones económicas y los problemas que en ese orden se dieron, lo cual obstaculizaron el poder continuar haciéndola y construyéndola. Quería hacer una revista más universal, con más elementos heterodoxos y eso fue importante, al menos así lo dicen aquí, a los pocos que escucho. Ahí me le medí a una cosa totalmente rara y extraña, una combinación, un intento de ars combinandi -Raimundo Lulioentre lo Uno y lo Otro, Oriente y Occidente. Y lo mismo lo que el medio académico de la ciudad daba y hacía, no porque yo lo fuera y que nunca lo he sido, no obstante lo esté en este momento de la vida -¿y de la muerte?-; entonces hubo, para mayor herejía, profesores de filosofía que no lo eran a la manera clásica y formal-, y eso hizo mayor concrección del intento de abordarlos en otra dimensión y en otras posturas, en los intersticios como los llamaba Ernst Bloch. Era buscar en ellos tesis que nos interesaban sobre Beckett, Artaud, Kafka, Dostoiveski, Kleist, etc. Después te hablaré un poco más de eso, porque lo que nos interesa es Punto Seguido. De la misma manera, ya se publicaba Prometeo, más hacia la tendencia de izquierda, pero que son promovidos a través de un libro que hizo y determino en su totalidad el poeta Juan Manuel Roca y se título: Disidencia del Limbo. Todos estos poetas, excluyendo a Eduardo Pelaéz, Carlos Bedoya continuaron en lo que hoy es Prometeo. Ya también con las disidencias de Caro y otros, que proyectaron de otra manera: Tras la sombra y no tras la boca del hambre y la necesidad, como lo han hecho otros, de los que después hablaremos, que han equivocado -¿o no? la vía que habían iniciado y de la que hablaban con incandescente intolerancia y con quemante verdad. La necesidad económica y el deseo del nombre o del éxito les han hecho cambiar de decisión y de destino. Uno no tiene sino que hacer su destino, que en esencia, lo que Heinrich von Kleist, fundía hermosamente con el carácter. Destino y carácter. Eso es otro tema, porque yo no “historiador” de nada y menos de la azarosa vida y muerte de mis contemporáneos. “Los contemporáneos” son mexicanos. Desde allí se constituyó pues, como un nuevo momento de la revista, en donde la visión se extendió y se dimensiono, ya no era tanto la rebeldía, la cantidad de irreverencia que se necesitaba y se requería, sino más bien una tensión medida y contenida de lo que se quería hacer. Entonces se llevo a cabo, con muchas contradicciones y muchas disidencias momentáneas, la realización de otros números, lo cual ocurre hacia mediados de 1998. Allí se involucran entonces con mayor visión pintores y fotográfos -Serqio González, Yamile Bedoya, Tony Pusey, Jorqe Camacho, Paul Delvaux y Juan Fernando Ospina, por no mencionarlos sino a ellos, que se van a relacionar con los “collages” que para entonces solo hacia y maravillosamente Luis Fernando Cuartas. Todo esto cambió y se llevó entonces el hilo sin Ariadna, hacia otro momentum que fortaleció lo que se llevaba hasta allí. -En este momento me acaba de llamar Luis Fernando y le he dicho que te hable un poco también él sobre esto. Es el azar objetivo, son las 9 y20 de la mañana: unas pocas tórtolas, una piscina, unos árboles, un poco de frío constituyen mi porción de paisaje: el sucederse o la vida. Recuerda el ensayo que hiciste sobre Enrique Molina, en ese devenir de este otro momentum, o instante de revelación. Eso es lo que ha movido la revista hasta aquí. Lo tenemos hoy, ya con otro momentum que es el de la intervención de Gabriel Jaime Caro y Eduardo Pelaéz, que se involucraron hacia 1976 en una experiencia también maravillosa que se llamo Siglótica, y que Caro continúo en Nueva York, cuando se instalo allí y que se llamo Realidad aparte, donde tú has participado. Ese nuevo momentum, ha comenzado ahora con el número 42, que próximamente tendrás. Observa como se dan las cosas, los que una vez no estuvieron y no pudieron estar en la comunidad y los que después de hacer sus propios viajes, viajeros de su sombra para decirlo al hilo de Nietzsche, de nuevo retornan al principio, lo cual indica que nunca abandonaron y huyeron de la verdad y de la esencia de su experiencia poética. La poesía es lo que es esencial y lo que importa, lo demás, son, sin duda los poetas. Punto Seguido, ha sido pues una experiencia y una búsqueda entre la realidad y la irrealidad, el sueño y la visión, la revolución y la rebeldía, contra el arribismo y la mediocridad, contra toda adhesión y adherencia, contra el formalismo y la vacuidad de la retórica. Esa ha sido su prueba y su condena, pero de la misma manera su liberación y su libertad.No ha cedido nunca a la extorsión ni a la mediocridad de nuestro medio. Punto Seguido Diretores: John Sosa D., Luis Fernando Cuartas, Carlos Bedoya, Óscar González Apartado Aereo 11059 - Medellín - Colombia 1.000 exemplares, formato carta, 32 páginas, periodicidade bimestral . jornal de poesia triplov alô música . revistas em destaque .. babel (brasil) diálogo entre editores: ademir demarchi & claudio willer CW - Conte algo sobre suas origens e procedência, inclusive sobre sua vida itinerante, de múltiplas residências e procedências. Apresente-se. Já havia feito periodismo literário antes de Babel? AD - Nasci em Maringá, no norte do Paraná, cidade relativamente nova pois tem apenas 56 anos de fundação – quase nasci com ela pois estou com 43 anos. Maringá foi criada de forma planejada a partir de loteamento feito por ingleses e julgo ser sua característica principal a belíssima arborização que chega a fazer túneis verdes em várias ruas ou nas amplas avenidas tomadas por ipês roxos e amarelos e sibipirunas, entre outras espécies. E há também uma catedral de 125 metros de altura, cônica, inspirada no Sputnik pelo bispo que a construiu, um símbolo fálico do poderio econômico daquela região de muita gente rude, inculta e gananciosa que, por isso, muito odiei. Vivi lá 25 anos, até me formar em letras/francês na universidade estadual local, que era paga – eu trabalhava durante o dia e estudava à noite indo de bicicleta dum lado pro outro. Foi um tempo muito interessante de formação sentimental, política e cultural. Iniciei na militância cultural fazendo cineclubismo, levando à frente um movimento iniciado por ex-militantes da esquerda, do PCBR, que caíram, alguns torturados e que encontravam nisso uma forma de resistência mantendo o silêncio quanto à política. Mas não durou muito isso pois naquele momento a militânica política era mais atraente. Sendo assim logo entrei para uma célula de uma organização trotskista, a OSI - Organização Socialista Internacionalista, mais conhecida por sua tendência estudantil, a Libelu, iniciada em Maringá pelo esforço do Luis Gushiken, atual ministro de Lula, que tinha lá um trabalho a ser feito por causa de um incipiente movimento sindical bancário de oposição. Fundamos o PT lá ao mesmo tempo em que começava a ser discutido no ABC e o legalizamos andando de porta em porta nos fins de semana, almoçando pão com mortadela e tubaína para fazer as filiações que o governo dos militares exigia como dificuldade para a criação do que então se acreditava ser um partido operário. Cheguei a ser candidato a deputado estadual nas eleições de 1982, cumprindo outra exigência para sua implantação. A candidatura era formal pois o que nos interessava era garantir o registro partidário e ganhar os diretórios estudantis da universidade, com aquelas chapas hoje impensáveis, como Solidariedade ou Outras Palavras – para marcar diferença com os estalinistas dos dois PCs. Esse movimento redundou em invasões de restaurante e reitoria e em queima de carnês, que levaram a uma conquista importante no Paraná: hoje as universidades estaduais são gratuitas e há uma alternância no poder – aqueles que se formaram nessa experiência hoje governam a cidade pela primeira vez pelo PT. Mas em 1985 me cansei da militância política e considerei esgotada por toda a vida a quota de tempo gasto em reuniões e fui-me embora da cidade. Morei um ano em Curitiba com a poupança que fizera em Maringá trabalhando seis anos em um escritório de contabilidade, onde era responsável pelo setor de pessoal de umas cem microempresas, e em outro de engenharia. Em Curitiba fiquei vagabundeando e vendo 3 filmes por dia nos espaços da Fundação Cutural e da Cinemateca. Cheguei a publicar com uma turma de alunos da Filosofia da Universidade Federal um jornalzinho escrachado, o Bundão, em que ironizávamos a mediocridade cultural de Curitiba e aquele cenário fake nacional em que se chorava a morte do Tancredo Neves. Fiquei nessa vida até arrumar emprego em Florianópolis, onde fui dirigir o setor de revisão do já finado O Estado, por 2 anos e meio, levemente interrompido para fazer uma viagem à Líbia, ainda por conta da ex-militância política – foi um passeio interessante ver os restos de fuselagem das bombas que Reagan jogou sobre a casa de Kadafi, sobre sua cama redonda que nos lembrava as de motel, o ódio que os muçulmanos já cultivavam aos norte-americanos desde criancinha, tal como vimos nas escolas com estudantes que mal sabiam escrever gritando palavras de ordem de ódio a Reagan; lá, olhando para o Mediterrâneo com um espanto admirado, de onde vinha um vento que sibilava pelas frestas do Hotel Bab El Bahar, passei o natal e o ano novo mais esquisito da minha vida. Em Floripa ainda fiz mestrado em literatura brasileira na UFSC estudando periódicos literários e depois vim morar em Santos-SP, seguindo minha mulher que veio trabalhar na prefeitura local. Tivemos um filho e concorri num concurso público a uma única e disputada vaga para a função de Redator na Câmara Municipal de São Vicente e passei, sendo desse trabalho que ganho a vida há mais de uma década. Durante esse tempo fiz doutorado em literatura brasileira na USP e experimentei dar aulas para ver se me afinava com essa atividade. Logo desisti diante da inviabilidade de ter dois desgastantes empregos e um projeto como o da Babel se iniciando e exigindo cada vez mais tempo. CW - Como é que surgiu a idéia de fazer Babel? Você já tinha essa intenção, de fazer uma revista, faz tempo, ou foi algo que aconteceu assim de repente num estalo em um ímpeto de inspiração? AD - A militância cultural de certa forma sempre esteve presente em minha vida, do cineclubismo à publicação de folhetos de poesia ou jornais estudantis, mas nada tão expressivo, foi acúmulo de experiência apenas. Na pósgraduação mantive esse interesse analisando vários periódicos ou suplementos como Letras & Artes (1947-53), Autores e Livros (1937-53), Pensamento da América (1937-53) (estes três do jornal A Manhã, do Rio); a Revista Americana (circa 1900 a 1925), e li várias das revistas dos modernistas, assim como me formei intelectualmente lendo O Pasquim, Versus, Opinião, Movimento, Revista da Civilização Brasileira e outros. Mas a Babel surgiu num dado momento em que, com a possibilidade da troca de e-mails, algumas amizades que estavam dispersas puderam se intensificar com uma troca mais viva e constante gerando discussões e a necessidade de um veículo que permitisse participar do debate de idéias e fundamentalmente estimulasse a reflexão e a escrita quebrando a sensação de isolamento e de falta de acesso aos veículos existentes. CW - Foi você, ou foram você e seus parceiros, Marco Aurélio, Mauro, Susana? Desde o início, o projeto teve caráter coletivo? Qual o papel ou função de cada um? AD - Sempre me correspondi com o Cremasco e o Mauro, em virtude da amizade que fizemos – o Cremasco foi colega na universidade e em folhetos de poesia que fazíamos, assim como o Mauro, que morava e estudava em Floripa, mas que só vim a conhecer depois que fui morar em Curitiba - ele fazia cinema, muito inspirado em Glauber Rocha, e escrevia em jornais e também em revistas que ele mesmo publicava, com uma postura constestadora que muito me agradava – chegamos, eu e Mauro, a discutir a publicação de uma revista, que teve um número apenas; passaram-se uns anos em que que todos ficamos equidistantes até que, com a possibilidade do e-mail, basicamente houve um reinício de conversa entre eu e cada um deles e logo isso se tornou um grupo e formou-se uma cozinha de discussão entre nós três, daí a idéia, incentivada por eles, de editarmos uma revista. Relutei mais de um ano porque não acreditava muito que isso fosse dar certo devido à absoluta heterogeneidade de idéias entre nós. A idéia por fim se impôs sobre as diferenças e decidimos que a revista devia ser aberta e não se caracterizar como sendo de um grupinho, como em geral é o que acontece, devendo se diferenciar por refletir a cena contemporânea com ecletismo de vozes, publicando alguns consagrados e muitos novos que julgássemos interessantes. Para viabilizar isso acertamos que, dado o caráter aberto da revista, convidaríamos várias pessoas para participar. Dos que convidamos apenas a Susana abraçou a causa e alguns outros se tornaram com o tempo colaboradores eventuais. Somouse a nós o Amir Brito Cadôr, de Santos, que agora mora em Campinas, onde estuda Artes Plásticas, e faz a edição gráfica da revista; e também o Paulo de Toledo, que mora em Santos e é redator de propaganda, tem dado apoio. Ela é deficitária, ou seja: pagamos do nosso bolso rachando as despesas, à exceção do primeiro número que foi pago graças a um patrocínio conseguido pelo Mauro, de uma rede de supermercados, e que possibilitou um arranque inicial importante. Quanto à função de cada um, dividimos tarefas conforme nossas possibilidades; em geral cada um tem suas leituras e traduções e sugere o que gostaria de ver publicado. O Mauro tem feito uma espécie de relações públicas com estrangeiros, enquanto eu dou mais atenção aos escritores locais, a Susana faz uma ponte na universidade, o Marco e o Amir são livres atiradores. Vamos discutindo uma pauta que vai se formando e fechamos a edição buscando alguns ganchos que dêem a ela um rosto. Com a falta de grana as edições têm se tornado anuais, o que dispersa demais a discussão, mas possibilita que cada um use o tempo em suas próprias reflexões, afinal editar uma revista toma um tempo danado pois há dezenas e dezenas de pessoas querendo publicar, saber o que achamos de seus textos e ler isso, selecionar, traduzir, responder... toma muito tempo, um tempo que tem que ser encontrado entre o trabalho pra ganhar a vida e a família. CW - A propósito, como é fazer revista com um corpo de editores translocal, cada um morando em um lugar diferente? Sem a informatização e a net, isso seria possível? AD - Moro em Santos, o Mauro e a Susana em Florianópolis e o Marco e o Amir em Campinas. A discussão vai se dando aos poucos por e-mail, até fechar a edição. Já nos encontramos várias vezes e eu pessoalmente os vejo com regularidade maior – já houve um debate intenso em grupo mas essa possibilidade se esgotou e creio não ser mais possível dada a diferença de pensamento entre todos; desse modo, tenho sido o fiel da balança coordenando a continuidade da revista, com 5 edições publicadas e a sexta em andamento – o que não quer dizer que não tenha tido desavenças com os outros editores – tive e as superamos, creio que porque já éramos muito amigos bem antes de começar essa cozinha que tem sido a revista. Com certeza fazer uma revista como a Babel seria muito mais difícil, talvez impossível, sem a internet e a fazemos com certa obstinação porque é uma referência importante, um estímulo que alimenta o trabalho de cada um. CW - Você partiu de alguma reflexão crítica sobre o jornalismo literário atual, uma intenção de preencher um espaço vazio, cobrir uma lacuna, algo assim? AD - Discutimos muito isso pois achávamos que lá por 1998 a 2000, quando começamos a pensar na Babel, havia creio que apenas a Inimigo Rumor, muito circunscrita a um grupo do Rio, que considerávamos fechada, e a Medusa, de outro grupo do Paraná, com pouco espaço, a Cult, sem espaço naquele momento e mais comercial; havia o SL-MG, e a Dimensão. O fato é que não era fácil ser aceito nesse clubinhos – todos enviamos poemas a vários e não deu liga; nunca fomos dados a lobby, de insistir até dar em alguma coisa. Diante disso concluímos que o cenário precisava de uma revista mais aberta, que mostrasse de forma mais ampla e crítica a riqueza da produção contemporânea, tida por nós como uma Babel multifacetada que não cabia mais em caixas de ferramentas tão específicas como era o caso da Inimigo publicando de certa forma apenas herdeiros do modernismo e a Medusa não muito interessada em novos desconhecidos. Era o que achávamos naquele momento. Há uma diversidade maior de publicações hoje - Inimigo Rumor, Sibila, Coyote, Sebastião, Rodapé, Etc, Cacto, Rascunho, Ácaro, SL-MG, Iararana, O Escritor, Salamandra/Camaleoa, Ponto Doc, Gazua, Cult além das inúmeras eletrônicas e blogs que já parecem apontar a revolução do celular, um homem, um celular – um homem, um site… CW - Admitida uma divisão de Babel em setores - inéditos de autores brasileiros, traduções, artigos e resenhas, entrevistas e depoimentos -, qual deles está mais bem resolvido? AD - Penso que a publicação de poesia brasileira contemporânea está bem resolvida e sempre abrangente, tendo alcançado um bom resultado na edição 5, a qual, somada às anteriores, dá um painel interessante do cenário nesta década 00; os depoimentos e entrevistas também têm sido pontos fortes na revista, assim como as traduções de estrangeiros contemporâneos que até poderia ser mais ampla se tivéssemos mais espaço, no que poderíamos reforçar ainda mais a idéia de Babel, pois o contato facilitado com estrangeiros hoje é algo concreto também – temos feito algum trabalho especificamente com argentinos, mas há contatos com norte-americanos, portugueses, franceses e escoceses. Há pouco espaço, porém, para resenhas e críticas, sendo impossível resenhar ou criticar tudo que sai publicado. CW - Continuarão os debates, provocações e exercícios de pluralismo em Babel? Há uma intenção deliberada de procurar matérias e entrevistados que possam gerar polêmica, de Waly Salomão a Raúl Antelo? AD - Trata-se de um diferencial interessante e temos buscado isso pois o que se vê em geral nas publicações são apenas entrevistas mornas, mais empenhadas em conhecer o escritor ou ressaltar o seu mais recente trabalho, fato que nem por isso as torna desinteressantes, mas pensamos que a revista deveria ter essa peculiaridade, provocar e abrir espaço para quem quer dizer o que normalmente não se diz. Temos tido boa receptividade pois as entrevistas ou depoimentos de Waly Salomão, Paulo Franchetti, Glauco Mattoso, Raúl Antelo e Daniel Muxica têm esse diferencial de sair do lugarcomum. Mas há também entrevistas interessantes como as de Luiz Nazário e Milton Hatoum e uma que considero histórica pela sua abrangência e objetividade, com Boris Schnaiderman. CW - O que você gostou mais de publicar em Babel, quais matérias e autores lhe proporcionaram especial prazer por ter podido fazê-los saírem? AD - O depoimento de Waly Salomão foi um, não só por ser incomum uma vez que ele nunca foi dado a entrevistas ou testemunhos como o que saiu em Babel, o que está bem evidenciado lá. Foi um momento de sinergia interessante, em que ele interagiu com as pessoas e o ambiente e falou do seu trabalho e de outros. Gosto dessa interatividade que a entrevista permite, por isso elas são algo que me deram prazer fazer na revista. Mas não é só isso. Não consegui, por exemplo, um depoimento do Sérgio Rubens Sossélla, um escritor algo obsessivo que mora no interior do Paraná e já publicou cerca de 300 livros de forma artesanal. Passei uma tarde tomando café e conversando com ele em sua biblioteca em Paranavaí enquanto ele fumava pequenos charutos e esse foi um prazer que não pude dividir com ninguém porque tive que desligar o gravador. Mas daí saiu uma amizade e uma troca e ele passou a ser uma espécie de colaborador da Babel pois seus textos têm sido publicados nela com regularidade. Ou seja: o trabalho com a revista tem possibilitado encontros, trocas, conhecimento e permitido que não se fique no isolamento que pode levar à estagnação. A publicação da revista levou também à elaboração de um outro trabalho que julgo importante, que foi o convite da Imprensa Oficial do Paraná, através do crítico Miguel Sanches Neto, para elaborar uma antologia que resultou no livro Passagens – Antologia de poetas contemporâneos do Paraná, com 28 escritores, que fiz buscando fazer um balanço da produção desses poetas e também para expor alguns problemas, não de todos, mas comum naquele Estado, como a sombra do Leminski e a praga do haicai. Fora essa interatividade, há o prazer de publicar novos autores ou que estejam subvalorizados ou desconhecidos, mas que são interessantes, como Jairo Batista Pereira, que ganhou um impulso positivo depois de sair em Passagens – publicou um livro pela Editora Medusa e teve uma seleção de poemas na Coyote, assim como Marcelo Ariel, um poeta humilde de Cubatão que saiu em Babel e depois na Cult e tem, com isso, obtido uma valorização que talvez não conseguisse facilmente. Mas há outros casos, como ter publicado poemas de Milton Hatoum, uma entrevista com Boris Schnaiderman bem interessante, e a possibilidade de fazer um mapeamento da produção contemporânea diferente das outras revistas, mas que a elas se soma. CW - E o que falta fazer, o que precisa melhorar? AD - O problema fundamental de uma revista como Babel é o de como pagá-la. Já tentamos via projeto pela Lei Rouanet mas não conseguimos captar dinheiro. Vamos tentar novamente. Outro problema é que geralmente os textos estão um tanto expremidos mas precisam sair naquele espaço e naquele orçamento. Se tivéssemos melhores condições os textos poderiam ser valorizados, respirar melhor na revista, poderíamos melhorar a apresentação gráfica com ilustrações que sempre estiveram subutilizadas porque o que mais importa é o texto e sobretudo há necessidade de aumentar o número de páginas para pelo menos umas 180 por edição, cuja regularidade ideal seria a semestral e não anual como ocorre atualmente. Em termos de conteúdo, a leitura crítica de livros e reflexões sobre poética mereceriam mais espaço. CW - Tiragem de algumas centenas de exemplares - isso é inserção na elite cultural ou contingência? Há chances de crescimento? AD - Certamente que é contingência pois simplesmente não existe um sistema de distribuição no Brasil que possibilite a existência de pequenas publicações. Ou se está ancorado numa editora que tem um catálogo e cuida disso (como Inimigo Rumor e Sibila) ou se está fora do mercado, mesmo porque é impraticável ficar enviando revistas a várias livrarias e ficar administrando isso, quando o mais importante para os poetas que se reúnem em torno de revistas é escrever, publicar e circular seu trabalho entre os leitores ou os que estão envolvidos com essa atividade. Com patrocínio, no entanto, fica mais fácil, como é o exemplo das revistas Medusa e Coyote que, sem precisar se preocupar com seu custo (financiadas por leis de patrocínio municipal respectivamente em Curitiba e Londrina, possibilitando também uma tiragem maior para distribuição), conseguiram distribuição via Editora Iluminuras. No caso de Babel, em que praticamente a custeamos com nossos recursos, não é possível uma tiragem maior que 400 exemplares. Porém, com essa tiragem atingimos nosso objetivo, que é fazer a revista circular entre um número significativo de escritores no país e fora dele. Ou seja, por falta de recursos a revista acaba confinada a essa elite que você menciona mas o que importa é que ela exista e circule pelo menos entre esse conjunto de leitores, o que já considero uma proeza neste país de triste miséria cultural em que nem com uma lei de incentivo que prevê resgate de 100% do total investido em livro se encontre empresário disposto ao patrocínio. De minha parte não me encanto com a falácia iluminista, ou populista, de “formar leitores”, de sair de porta em porta vendendo esse peixe, daí que quando decidimos fazer a revista um pré-requisito foi o compromisso de dividirmos as despesas quando não se conseguisse patrocínio e, resolvendo a questão da distribuição, enviá-la às pessoas mais atuantes na área. CW - Que lhe parece o aumento, quando não proliferação de revistas de poesia e periódicos literários? Teria destaques, positivos ou negativos, comentário sobre alguns deles ? AD - Temos hoje cerca de 10 revistas impressas dedicadas à poesia no Brasil (Inimigo Rumor, Poesia Sempre, A Cigarra, Azougue, Babel, Sebastião, Cacto, Sibila, Coyote e Etc; Lagartixa e Gazua, só de poemas, e outras como Cult, Rodapé, Teresa, Ácaro, Iararana, Calibán e Literatura, ou jornais que a ela dedicam espaço como Rascunho, SL/MG, O Escritor – e acho importante mencionar também a revista Medusa, que embora tenha se extinguido após 10 edições, de certa forma faz parte desse cenário, também ocupado em parte por Dimensão, graças à legião de um homem só que é o Guido Bilharinho), o que é um número insignificante para um país imenso como o nosso, em que a quantidade de leitores é irrisória e de compradores menor ainda. Por outro lado, essas publicações praticamente dão conta do registro do que há de significativo no país contemporaneamente e, como uma rede, umas se somando às outras, há interligações com escritores de outros países também. Logicamente, considerando-se que nessa economia sem sistema literário ter 10 revistas feitas por poetas, além dessas outras mais amplas em conteúdo, é um acontecimento, pois várias surgiram motivadas pela necessidade de ampliar o espaço sempre insuficiente para acomodar novos escritores. São publicações muito diferentes umas das outras, algumas mais importantes, outras menos - pelo conteúdo que estampam, mas prefiro lê-las no conjunto, de onde se extrai uma riqueza de leituras, traduções e experiências que vão do regionalismo desproblematizado, passando pelo esforço de continuidade da herança modernista, e até mesmo pelo impulso pop e contracultural vindo dos anos 60/70, que se atualiza pelo vigor acrescentado por novos meios como a internet, sites e blogues. Acho particularmente interessante a experiência ocorrida com Inimigo Rumor, a mais antiga, com 14 edições, que, depois de 10 edições, o que já é um fato a se comemorar, passou a ser co-editada com um grupo de Portugal, criando-se um novo influxo à sua existência, trazendo às páginas um calor de debate que antes não era comum, porque muito circunspecta. Na edição 12, por exemplo, um ensaio de Marjorie Perloff sobre como se resenha poesia nos EUA, traduzido pelos portugueses, abriu um debate muito relevante, perfeitamente apropriado ao Brasil, que repercutiu na edição seguinte e teve na Cacto também uma resposta. A herança modernista às vezes é um fardo que extrapola dos poemas e chega a dar a ela uma aparência acadêmica, universitária, no que acaba por ser um ótimo contraponto para as outras revistas, mais irreverentes, que apostam mais no risco e não estão tão preocupadas com “a obra”, “a biografia” e outras cenouras idealizantes. Poesia Sempre, além de estar presa aos humores oficialescos, tem tido uma história um tanto beletrista, de e com fiducidade na ABL, mais para uma literatura acomodada, no que Calibán se parece com ela, assim como Literatura e Iararana que, além disso, em doses diferenciadas, apresentam também características regionalistas, desproblematizadas, que as confinam. Acho muito boa também a Sibila – num primeiro momento pareceu girar demais em torno de Regis Bonvicino, mas cresceu em conteúdo e seu olhar para a literatura e arte norteamericanas, contra, por exemplo, uma Inimigo Rumor européia, é enriquecedor para nosso cenário. O investimento de Sebastião, assim como Rodapé, em análises das obras dos poetas em atuação é fundamental para quem está escrevendo agora (é importante frisar isso porque em geral faz-se isso na academia, nas universidades, mas em geral em relação a obras que chegaram ao ponto final da morte do escritor). Com duas edições, considero a experiência de Sebastião, além de inédita, interessantíssima por nos dar de forma específica os modos de se ler os poetas contemporâneos e seus métodos, por eles mesmos. A Cacto, com duas edições, parece percorrer o caminho da primeira fase da Inimigo Rumor, marcada até no formato pela circunspecção e com ótimo investimento em poemas e reflexão sobre poéticas brasileiras, com interesse pela geração que deu base para a Inimigo Rumor, afinidade afinal registrada no editorial do primeiro número. Já a Coyote, colocada ao lado dessas revistas todas, a Babel inclusive, causa um choque pelo tratamento visual dado ao texto, com o luxo de ter designers gráficos, os poetas Marcos Losnak e o também editor Joca Reiners Terron – cujo ótimo trabalho na editora Ciência do Acidente é um capítulo à parte nesse cenário; a poesia não é o único interesse na Coyote, pois o que a ordena é um conceito de cultura que expande a idéia de texto e assimila todas as manifestações artísticas, da poesia à história em quadrinhos, semioticamente; essa distinção em relação às outras publicações me parece explicável pelo fato de que seus editores são jornalistas, ou formados nessa área, possibilitando essa outra forma de fazer uma publicação, experiência que se verificou também na revista Medusa, embora lá a tônica visual fosse nas artes plásticas. É interessante nessas duas a postura contracultural e a predileção pela cultura beat. Na nova revista Etc o trato visual é também um diferencial, menos contaminado que na Coyote, e com exuberância para o texto, orientada pelo interesse em “literatura & arte”. Porém o que mais me chama a atenção em todas essas publicações, o que é comum nelas, é a atenção que têm dado a escritores latino-americanos - cubanos, mexicanos e outros, mas sobretudo argentinos, mantendo um interesse que sempre foi marcante em nossa cultura – um dos objetivos apregoados pela Etc é o de ser uma revista “do Brasil para as Américas”, ou algo assim, conforme vi num informe, tal como muitas revistas já fizeram no Brasil. Quanto à Cult, acho importante seu papel de formadora de leitores por ser uma revista distribuída em bancas, com outro formato – nesse sentido também é valioso o espaço nela chamado Radar, dividido em Gaveta de Guardados e Criação, dedicados a textos inéditos e a novos escritores, além do que eventualmente ela cobre com esforço o que se escreve e publica de interessante por muitas pequenas editoras que não existem para as grandes publicações, procurando ousar, como na recente edição dedicada a Paulo Coelho, resenhando sua obra e dedicando uma crítica demolidora ao mais recente livro dele – ou indo entrevistar um autor que ninguém quer saber, como é o caso de Mário Chamie, ainda que meio que se desculpando por o estar entrevistando. Finalmente, caberia uma nota ao Rascunho, que julgo importante pelo espaço que dedica à resenha do que se publica no mercado, variando em qualidade, mas com cobertura que nenhum jornal mais se digna fazer; é valioso o espaço que dá a poemas, traduções e a entrevistas que podem ser consideradas históricas pelo tamanho e amplitude – veja-se uma feita com Luis Vilela ou outra com Bernardo Carvalho, entre várias outras. Seu cacoete, porém, é um certo encanto com o opinionismo que teve em Paulo Francis seu modelo – aquele da “metralhadora giratória”, que parece encantar particularmente o Polzonoff. É um jornal feito por jornalistas – leitores -, ou seja, sob esse aspecto, de fora do meio, pois não fiquei sabendo ainda de pretensões literárias deles. A postura que muitos consideram belicista, de diatribe, comprovada em artigos contra o Marcelo Mirisola, o Sebastião Uchoa Leite e agora o Arnaldo Antunes, prefiro ver como irreverência e acho mesmo que eles têm a vocação de serem o Casseta & Planeta literário nesse cenário – há um senso de humor divertido naqueles comentários. Todas as publicações são sérias – ou circunspectas - demais, salvo uma ponta de ironia na Coyote e a irreverência da Ácaro – que por exemplo tem um suplemento chamado Menas! - Suplemento de Domingo, para gozar o Mais! da Folha e o Jornal do Brasil. Essa postura das publicações é uma expressão sintomática do próprio meio, que às vezes parece um pasto, tantas as vacas sagradas – ou elefantes.. – que não podem ser abatidas por nenhum tipo de crítica que logo se parte para a ignorância (Mirisola quis esmurrar o editor do Rascunho num bar) ou se motiva abaixo-assinados e movimentos em defesa da moral e dos bons costumes das letras – há uma contradição aí - ou tijolaços ensaísticos como os que se sucederam em defesa do Elefante e da poesia de Chico Alvim – que acho deliciosa (ocorridos na Folha, particularmente no Mais! e no Jornal de Resenhas, por Roberto Schwarz, assim como em outros veículos após crítica feita no Estadão por Paulo Franchetti.) Trata-se, em verdade, de um meio muito apaixonado, de aficcionados, o que é superlegal, em que o percentual de egos blindados por metro quadrado é muito alto, daí ser possível entender por que essa poesia que se diz nada valer motiva tanta raiva, como a exposta no debate circulado pela rede, havido entre os ex-editores da Medusa e agora entre os editores da Etc. Mas a poesia passa ao largo, como num poema: “Vai-se/ passa por uma coluna/ e outra/ não olha/ dobra um vidro/ a última pilastra/ desaparece” – e aí está. CW - Como é isso, reportando-me a conversas nossas e depoimentos seus, da concentração de novas publicações literárias na região Sul-Sudeste? Isso tem lógica, alguma explicação? AD - A maioria estão em São Paulo e Rio de Janeiro por serem naturalmente as grandes metrópoles do país e reunirem condições para isso. Mas é realmente um fato curioso que haja uma efervescência delas, principalmente no Paraná, onde hoje temos a Coyote (com 5 edições), a Etc (com 2), a Babel (com 5 e a sexta em preparo – embora não seja feita lá, ela tem quatro editores nascidos no PR e com fortes vínculos locais), além da recente e extinta Medusa (10 edições), do Radar (2 edições, pela Imprensa Oficial do PR) - certamente lastreadas numa tradição marcada pelas mais importantes que são: Joaquim, publicada por Dalton Trevisan nos anos 1946-8 (recentemente reeditada integralmente tal como era, pela Imprensa Oficial do PR), Nicolau, tablóide publicado nos anos 80 por Wilson Bueno, Raposa, tablóide publicado por Miran nos anos 80, Ran (publicada em Londrina pelos editores da Coyote, nos anos 80) e até mesmo a estupenda revista Gráfica, a mais importante, creio, da América Latina, na área de artes gráficas/arte (mais de 40 edições, ainda circulando, editada por Miran – há uma edição especial nas bancas, publicada pela Escala). Ou seja, pode-se sugerir que essa tradição seja disseminante pois é impossível fazer uma publicação de qualidade no Paraná desconhecendo a riqueza dessas outras que são exemplares na forma como se colocaram em seu tempo, sem se afundar no regionalismo e no bairrismo mediocratizante e dialogando com o melhor que se fazia no país e fora dele. O Paraná é um Estado de colonização recente – veja-se o caso do hoje rico norte do Estado em que há cidades como Londrina e Maringá, que têm cerca de 50 anos de fundação - a literatura produzida no Paraná esteve sempre circunscrita a Curitiba, por ser capital e por estar integrada de forma sistêmica à vida nacional, enquanto que o interior do Estado, de colonização incipiente, cujas maiores cidades têm poucas décadas de existência, somente começou a ter escritores e vida cultural muito recentemente. Muitas dessas publicações têm sido feitas por escritores oriundos desse velho oeste (o poeta Sossélla tem grande prazer em se imaginar um pistoleiro em seus poemas, tributário do cinema clássico mas também dessa vida no interior), que hoje é uma região de grandes cidades industrializadas, em que a pobreza não é tão evidente quanto em outros locais, embora exista, e que tem produzido artistas e escritores cuja obra é marcada pela crítica social e política e pela irreverência: Cambé, Arrigo Barnabé, Domingos Pellegrini Jr, Wilson Bueno, Itamar Assumpção, Laerte, entre tantos outros, aos quais se somam os das novas gerações. No Rio Grande do Sul curiosamente não têm havido – pelo menos que eu saiba – revistas como essas comentadas aqui, embora lá haja um importantíssimo e muito peculiar mercado editorial que tem vida própria, com escritores, editoras e o que é mais incrível, leitores. Há, claro, o Eduardo Sterzi, que é gaúcho, mora em São Paulo e coedita com o Tarso de Melo a Cacto, fato esse que não quer dizer nada naquela revista. Já em Santa Catarina há várias editoras que surgiram nos últimos anos ou década e têm publicado poesia, como a Semprelo, depois transformada em Letras Contemporâneas, cujo editor é o Fábio Brüggemann, ou a Letradágua, do Joel Gehlen, atualmente fazendo um trabalho mais importante que a Semprelo ao publicar poesia. No entanto lá também não têm havido revistas, embora haja um movimento no sentido de mudar isso, cuja tentativa importante foi a Linguarudos, publicada por Dennis Radünz e Joel Gehlen no final de 2000, mas que não teve continuidade, embora tenham a intenção de retomá-la este ano, o que seria um fato importante, tendo em vista que as publicações lá existentes que se dedicam à literatura e às artes, salvo uma ou outra exceção na universidade (Cadernos de Tradução, Travessia, Boletim do Nelic), são oficiais e inócuas e enterradas no bairrismo. A título de fait divers, como em Florianópolis moram dois dos editores da Babel, ela já foi chamada de catarinense nos jornais locais, segundo essa forma de pensar e apropriar das culturas locais, que é muito forte fora dos grandes centros mais urbanizados São Paulo e Rio, o que considero um problema pois é engessante do pensamento ao cair no regionalismo estéril, muitas vezes rural, sem problematização, reforçado pelas falácias da globalização. CW - Para terminar, faça comentários sobre periodismo eletrônico em geral e Agulha em especial. Aliás, a propósito, conexão ibero-americana o tem interessado? E conexão lusófona? AD - A Internet de fato proporcionou uma revolução de comunicação pois as mais diversas e impensáveis revistas estão às nossas mãos no mundo todo, o que é um problema, pois mal damos conta de lermos os livros e publicações impressas. Mas não poderia ser diferente, pois é muito mais simples e econômico fazer uma revista eletrônica que uma impressa, além do que o público que se atinge é infinitamente maior – o trabalho de contatos com o público e escritores e sua elaboração é o mesmo, a diferença fundamental está na sua finalização e circulação. Essa nova realidade exige versatilidade de leitura, seleção e compreensão de ainda mais línguas e linguagens, o que é desafiador e estimulante pois está havendo uma intensificação de criatividade com a proliferação de meios. Escreve hoje para a gaveta quem quer, não por imposição – ainda que se possa encontrar gente que escreve à mão por impossibilidade econômica, social e política de acesso a um computador, conforme vi recentemente em Cubatão. Tenho acompanhado o trabalho de alguns sites e revistas eletrônicas, muitos de forma esparsa, caso dos portugueses, de língua espanhola e outros. No Brasil leio regularmente a Agulha, na qual já tive ensaio publicado, com alguns ganchos em outras revistas amigáveis como o TriploV, acompanho a Tanto, a Weblivros e sempre dou uma olhada em outras publicações. Ou seja, tenho uma relação de leitor com esse meio uma vez que não me interessei em participar dele criando um site, um blogue ou uma revista eletrônica, ainda que temos pensado em disponibilizar as edições da Babel na rede. Sei que há aí um terreno imenso de possibilidades a se explorar, porém falta tempo para isso e tem sido divertido essa excrescência que é fazer uma revista impressa, o que, por enquanto, tem nos bastado. No caso da Agulha, gosto da interatividade que há nela, o tratamento gráfico é primoroso e as seções “galeria de revistas” ou “revistas em destaque” são de uma importância de registro histórico incomum, assim como o conteúdo, com particular destaque para o material sobre surrealismo, investindo num campo pouco valorizado no Brasil. Por fim, a porta de entrada que se abre para o mundo hispânico nela com links para outras publicações é instigante, estendendo um trabalho do Floriano Martins com essas publicações que já tive oportunidade de ver exposto. [diálogo realizado em julho de 2003] Babel Revista de poesia, tradução e crítica Editor: Ademir Demarchi Co-editores: Marco Aurélio Cremasco, Mauro Faccioni Filho e Susana Scramim Redação: Rua Almirante Barroso 54/33 Campo Grande Santos 11075-440 Brasil Contato: [email protected] . . revistas em destaque .. corner (estados unidos) diálogo entre carlota caulfield & maria esther maciel Carlota Caulfield é uma poeta afeita à diversidade. Cubana, de ascendência irlandesa, nasceu em Havana, em 1953. Viveu em várias cidades européias e norteamericanas e atualmente leciona literatura espanhola e latinoamericana no Mills College de Oakland, California. Em diálogo com as poéticas de vanguarda e com várias tradições do passado, como a arte renascentista, o barroco hispânico, a literatura greco-latina e o ocultismo medieval, ela vem construindo uma obra poética marcada pela experimentação de formas, pela ousadia temática, pela exuberância da linguagem e por uma erudição altamente criativa. É autora dos livros: Fanaim (1984), Oscuridad divina (1985 & 1987), A veces me llamo infancia/Sometimes I call myself childhood (1985), El tiempo es una mujer que espera (1986), 34th Street & other poems (1987), Angel Dust/Polvo de Angel/Polvere D'Angelo (1990), Visual Games for Words & Sounds. Hyperpoems for the Macintosh (1993), Libro de los XXXIX escalones/Libro dei XXXIX gradini (1995), Estrofas de papel, barro y tinta (1995), A las puertas del papel con amoroso fuego (1996), Book of XXXIX steps, a poetry game of discovery and imagination. Hyperpoems for the Macintosh – CDROM (1999), Quincunce (2001), Autorretrato en ojo ajeno (2001), At the Paper Gates with Burning Desire (2001) e Movimientos metálicos para juguetes abandonados (2003). Recebeu vários prêmios literários, dentre eles o Prêmio Internacional "Ultimo Novecento" (Italia, 1988), o Prêmio Internacional "Riccardo Marchi-Torre di Calafuria" (Italia, 1995) e o Primeiro Prêmio de Poesia Hispano-americana "Dulce María Loynaz" (Espanha, 2002) além de mençõs honrosas no "Premio Plural" (México, 1992), no Premio Internacional "Federico García Lorca" (Estados Unidos-España, 1994) e no “Latino Literature Prize”, do Instituto de Escritores Latino-americanos de New York, em 1997. É também editora da revista eletrônica Corner (http://www.cornermag.org), publicação inteiramente dedicada às vanguardas internacionais e latinoamericanas. Na entrevista que se segue, Carlota Caulfield fala sobre a pluralidade temática e formal de seu trabalho, seus trânsitos em várias tradições, a experiência do exílio e as vozes femininas da poesia cubana contemporânea. [M.E.M.] MEM - Pode-se dizer que a sua poesia, ao manter um diálogo criativo com diferentes campos do saber, é um convite sempre instigante ao exercício da pluralidade. Você não circunscreve sua palavra ao espaço apenas da literatura, mas busca na filosofia, nas ciências ocultas, nas artes plásticas e visuais, nas tecnologias contemporâneas e na história muitos elementos para o seu processo de criação. Você poderia falar um pouco sobre essas interseções de sua poesia com outras áreas? CC - Minha poesia é um coro de muitas vozes, uma pele com múltiplas tatuagens. Severo Sarduy definiu sua escritura como travestismo, metamorfoses contínuas, referências a outras culturas, mescla de idiomas, múltiplos registros de vozes, enfim muitos gestos. Estas idéias de Sarduy me seduzem e se aplicam perfeitamente à minha poesia. Com registros diferentes, minha poesia celebra muitos gestos. Na primavera de 1997, a revista norte-americana ANQ editou um número especial dedicado à influência da poesia norte-americana na obra de escritores hispânicos. Edward Stanton, o editor desse número, convidou-me para colaborar. Eu não queria escrever um ensaio tradicional, pois isso não iria responder à minha verdadeira relação com a literatura norte-americana. Ou talvez deva dizer, em meu caso, a cultura norte-americana. Ocorreu-me um ensaio bastante livre, à maneira de uma colagem, a que dei o título de “From Mickey Mouse to Jack Foley; Chorus with Multiple Tattoos” (De Mickey a Jack Foley. Coro com múltiplas tatuagens). Digo que nesse ensaio apareceram muitos autores, músicos e personagens de cartoons... me fascina o que disse John Cage sobre as influências em suas composições, esse “Here Comes Eveybody” que o compositor norte-americano tomou emprestado do Finnegans Wake de James Joyce. Assim que meu HERE COMES EVERYBODY inclui Mickey Mouse, o Gato Félix, Super Pipo (Goofy), Edgar Allan Poe, T.S. Eliot, Ezra Pound, Henry Miller, Anaïs Nin, Anne Sexton, Mina Loy, Isaac Bashevis Singer, Autor desconhecido, Louis Armstrong, Billie Holiday... para citar apenas alguns dos convidados à festa. Creio que meu pai, Francis Caulfield, foi quem me iniciou nessa dança de vozes. Não só alimentando meu apetite com certos clássicos da literatura norte-americana, mas também com a música. Talvez tudo venha de minha extraordinária paixão pelos dicionários. Meu grande tesouro quando eu tinha 7 anos era um Larousse ilustrado que eu protegia com intensa paixão. Também descobri na curiosa biblioteca de nossa casa um livro sobre Paracelso. Assim começou minha paixão pelos alquimistas. Anos mais tarde, em 1981, quando vivia em Zurique, não apenas me deleitei enormemente passeando pelos portais em que Paracelso havia pisado, como também pude consultar alguns tratados originais de alquimia na Biblioteca Central da cidade. Se você for ao meu Libro de los XXXIX escalones, um dos poemários mais “tatuados” de minha obra, vai encontrar muitas referências à alquimia, à pintura – em particular a surrealista (o livro está dedicado à pintora Remedios Varo) – e ao autobiográfico. Além das edições limitadas desse livro (uma em espanhol-inglês, publicada em Los Angeles; e a outra, em espanhol-italiano, publicada em São Francisco-Veneza,), o Libro de los XXXIX escalones saiu também em formato CD-Rom, em 1999, com o subtítulo: “ a poetry game for discovery and imagination”, pela InteliBooks, na Califórnia. O formato multimídia é quase ideal para o tipo de poesia que gosto de fazer, um tipo de poesia hipertextual. O mais importante desses poemas eletrônicos é que são interativos. Cada ação do "leitor" -- clicar uma tecla, apertar um botão eletrônico no mouse, etc.-- gera uma reação do poema. Textos que estavam ocultos se mostram ou adquirem vida própria e algumas vezes são acompanhados de música e sons. De fato, grande parte do livro está oculta à primeira vista e depende da curiosidade do leitor descobrir esses aspectos de hipertextualidade e intertextualidade latentes nos poemas. Meus trinta e nove poemas dialogam com a pintura renascentista, a poesia sufí, a alquimia, o misticismo judeu, a vanguarda e minhas memórias pessoais, tanto escritas como fotográficas. O livro foi criado como homenagem ao labirinto da imaginação e aos meus gatos, em particular a Amach, felino adivinho com poderes de parapsicologia, um total mestre Zen, que morreu em setembro do ano 2001. O teatro e a performance também influenciaram minha obra, mas acho melhor não entrar nesse tema, porque ainda há outras perguntas pelo caminho. MEM - Um outro aspecto de seu trabalho poético é o experimentalismo. Você tem buscado sempre novas configurações de linguagem para seus textos, sobretudo no campo das tecnologias contemporâneas. Como você definiria sua relação com as estéticas de vanguarda? CC - No que se refere ao experimentalismo, cito como exemplo de uma de minhas primeiras aventuras no computador o disquete Visual Games for Words & Sounds. Em 1993, desenhei com Servando González esse livro eletrônico de hiperpoemas, aos quais chamei collaged poems, termo do poeta norte-americano Jack Foley. Esse livro experimental foi pensado como uma homenagem à vanguarda internacional e ao misticismo. Há poemas na linha DADA que jogam com idéias budistas, referências à literatura espanhola medieval e a Joyce. Neles, Cage volta a ser uma presencia importante, assim como a música do compositor norte-americano Alvin Curran. Há poemas em inglês, alemão, espanhol e italiano. Os poemas ainda fazem uma homenagem à dança moderna (eu havia assistido a uma oficina de dança com uma aluna de Alvin Alley e me sentia inspirada) e, como sempre, trazem também o autobiográfico. Desse modo, viajei por diferentes temas e experiências que estão muito relacionadas com minha vida. Foi muito divertido criar esses jogos visuais, que hoje já são parte do passado. Impossível vê-los nos novos computadores. Talvez possamos falar de uma arte efêmera de computador. Meus collaged poems foram um produto típico de nosso tempo, onde tudo padece de una rápida condição de perecimento. Poderíamos seguir falando de experimentação por muito tempo. Sou uma apaixonada pela vanguarda, tanto a européia quanto a hispano-americana, e desde o ano de 1994 tenho estado muito atenta ao que acontece na poesia experimental catalã. Passei longas temporadas em Barcelona e pude participar do movimento catalão de poesia experimental. Entre meus bons amigos catalães estão alguns poetas visuais como Xavier Canals. Barcelona foi, desde 1890, um centro importante de poesia experimental (pensemos nos caligramas de Antoni Bori i Fontestá e nos caligramas e poemas visuais de Josep María Junoy y J.V. Foix), e é hoje em dia um dos centros mais dinâmicos de poesia experimental do mundo. Você encontra na Catalunha um movimento de polipoesia que tem uma grande força. O termo poesia experimental, no caso, reúne muitas tendências: poesia visual, poesia concreta, poesia objeto, poesia sonora, poesia fonética, poesia vídeo, poesia ação. Alguns dos poetas mais conhecidos são Joan Brossa e Guillem Viladot. Outros poetas inovadores são Xavier Sabater, Carles Hac Mor, Esther Xargay, Enric Casassas, Albert Subirats, Bartomeu Ferrando, Pere Sousa, Josep M. Calleja e Eduard Escoffet. Eu mencionaria ainda meu trabalho como editora de Corner, revista eletrônica dedicada a la vanguarda (http//www.cornermag.org). Corner nasceu graças ao meu interesse pela poesia visual catalã e ao grande estímulo de Xavier Canals e do fotógrafo Teresa Hereu. O primeiro número do outono de 1998 foi dedicado à vanguarda catalã, e nela os leitores podem ler uma entrevista chave de Canals com Brossa. No ano de 1999, participei com Corner na exposição Poesía visual catalana, organizada por Calleja e Canals, que foi inaugurada em 1999 no Centro de Arte de Santa M. Essa exposição também poderia ter sido intitulada Here Comes Everybody from Cataluña, já que estavam também presentes Ramon Llull com algumas de suas “figuras combinatórias”. Como você pode ver, sempre trato de estar em companhia dos experimentalistas. MEM - Você mencionou agora há pouco a presença do trabalho da artista Remedios Varo em um de seus livros e acaba de confessar sua paixão pelas vanguardas. Daí a inevitável questão: qual é a importância do surrealismo para a sua poesia? CC - Esta pergunta me leva ao ano de 1995, quando ganhei na Itália o prêmio Riccardo Marchi por uma coleção de três poemas em espanhol e italiano (traduzidos por Pietro Civitareale). Chamou-me a atenção o fato de a comissão julgadora ter considerado o “Para Cornelius” um texto surrealista. A verdade é que, quando o escrevi não pensei na poesia surrealista, mas na música experimental norte-americana e inglesa, que escutei ao escrevê-los. Não creio que minha poesia tenha muito do surrealismo. Nela há muitas presenças. Diferentes críticos a chamaram de confessional, pós-moderna, etc. A verdade é que eu adoraria ser mais surrealista. Me fascinam alguns poemas surrealistas de amor escritos por Louis Aragon, René Char, Robert Desnos, Paul Eluard, Joyce Mansour, Alice Paalen, Benjamin Péret, assim como as receitas de Remedios Varo para quem quer ter sonhos eróticos. MEM - Um dos aspectos que mais me chamaram a atenção em seu livro A las puertas del papel con amoroso fuego é o uso de estratégias ficcionais. Você cria cartas apócrifas de personagens históricos e literários, reinventa essas personagens e forja relações amorosas entre elas. Essa prática do artifício, da encenação de subjetividades fictícias, que aponta inegavelmente para os escritos de Fernando Pessoa e Borges, não tem sido muito explorada pela poesia contemporânea, mas permanece no campo da narrativa de ficção. Eu gostaria que você discorresse um pouco sobre a presença dessas estratégias em sua poesia. CC - O poeta e crítico Jack Foley disse uma vez que eu era una poeta-arqueóloga. Embora eu deteste qualquer tipo de classificação, essa denominação me encantou. Durante minha adolescência eu quis ser, além de ser alquimista, atriz; e depois, mais que arqueóloga, antropóloga. Mas ao final, o que estudei na Universidade de Habana foi Historia, para depois dedicar-me à literatura, nos Estados Unidos. Daí talvez me venha essa paixão por rastrear, por descobrir marcas deixadas por outros, em particular por outras mulheres. A las puertas del papel con amoroso fuego é um livro que se inspira em parte nas Heróidas de Ovidio. Uma de minhas leituras preferidas de todos os tempos foi A arte de amar, de Ovidio. Como você se lembra, nesse livro o poeta convida à leitura de Anacreonte, Safo, Menandro, Propércio, Tíbulo, Virgílio, e outros poetas clássicos. Ele também convoca as “estudantes” para ler seus Amores e as Heróidas, sobretudo porque o segundo livro é um gênero novo do qual se considera inventor (Ignotum hoc aliis ille novavit opus). Bem, Ovídio, contrariamente a outros poetas (veja o caso de Propércio, que fala de sua dívida poética com Calímaco) não se declara herdeiro de nenhum outro poeta na criação de suas Heróidas. Isso é certo, se bem que já existiam as elegias latinas, como as de Propércio, que falam sobretudo do poeta como amante. Entretanto, o que faz Ovídio em suas Heroides epistolae é totalmente revolucionário. Ele explora os detalhes das histórias de suas famosas heroínas (Medéia, Ariadna, Fedra...) e as transforma em amantes modernas, especialistas na arte da retórica, com personalidades muito definidas, distintas umas das outras. Digo que sou uma discípula moderna de Ovídio, a ele devo minha inspiração para o poemário A las puertas... Como nas Heróidas, meus poemas têm o eco do famoso odi et amo de Catulo (outro de meus mestres). Minhas heroínas, como a Fedra de Ovídio, falam da escrita como uma paixão que domina todo tabu, toda modéstia, conseguindo o que o discurso oral torna impossível. O livro começa com um verso de Safo que diz: “y rota / calla la lengua, mientras la mano escribe”. A las puertas... está composto de 37 cartas de mulheres conhecidas e desconhecidas. Há nelas uma espécie de “tragédia lúdica” que aprecio muito, já que o amor é precisamente isso. Devo retomar o fio de tua pergunta e responder que sim, que reinvento essas personagens de muitas maneiras diferentes, embora eu celebre muito de suas vozes reais. É possível encontrar no livro um gênero epistolar peculiar através dessa prática do artifício a que você se refere. O leitor se depara com referências a cartas existentes de mulheres famosas (Lucrecia Borgia, Isadora Duncan, Rosa Luxemburgo, Carolina Lamb, Flora Tristán, Gertrudis Gómez de Avellaneda) que se confundem (apesar dos embustes que uso muitas vezes para distinguir os textos reais dos imaginários) com minhas próprias invenções e fantasias. Entre essas mulheres não podia faltar a famosa Sóror Mariana de Alcoforado, aquela monja portuguesa do século XVII, cujas cartas causaram grande tumulto, e que mais tarde inspiraram um texto chave na historia do feminismo português: as Novas cartas portuguesas (Livro das três Marias) de 1971, obra escrita por Maria Isabel Barreño, Maria Teresa Horta ee Maria Velho da Costa, considerada uma obra-prima e censurada quase de imediato pelo governo português. Você menciona Pessoa e Borges, os grandes mestres da ficção. Interesso-me sobetudo pelas máscaras líricas, daí que a heteronímia e as ideologias estéticas de Pessoa sempre tenham me seduzido. Embora tudo já esteja nos poetas malditos, esse “ser el otro que es uno mismo para ser además ‘je suis plusieurs’”. Nas ficções de Borges há uma consciência irônica de armadilhas e abismos, que me inspira. Definitivamente, sou partidária do sujeito múltiplo. Meu poemário Oscuridad divina é outro jogo de máscaras. É um livro de 1985, data em que me inicio no “eu sou outras”, mas não com mulheres reais da história, mas com deusas da mitologia universal, muitas delas pouco conhecidas. Tanto Oscuridad divina quanto A las puertas navegaram com boa sorte no mundo literário, com prêmios e várias edições em diferentes idiomas. A editora InteliBooks publicou, em outubro de 2001, uma edição bilíngüe (español/inglês) de A las puertas... Já Oscuridad foi publicado na Itália em 1990, alguns anos depois de que receber o Premio “Ultimo Novecento” de Poesia. MEM - Ainda com relação à questão do jogo de subjetividades, como você explicaria o paradoxo do título de seu último livro, Autorretrato en ojo ajeno? Seria mais um exercício de “otredad”? CC - Você torna a me colocar no olho alheio... a refletir sobre meus olhares. A verdade é que esta é uma pergunta difícil, mas tentarei respondê-la. A abetura do livro é a chave de muitos poemas do mesmo. Optei por colocar nela um de meus quadros favoritos, que está no Kunsthistoriches Museum, de Viena, e se chama Autoritratto nello specchio convesso, de Francesco Mazzola, conhecido como Parmigianino (15031540). Comecei a escrever os poemas desse livro precisamente em Viena, depois de uma visita de mais de três horas ao meu amado quadro. O livro está dividido em duas partes: En un espejo convexo e Tríptico de furias. Pessoa aparece mencionado em um dos poemas, que se intitula “Desde una ventana de San Francisco”. Mas voltemos ao quadro em que Parmigianino olha o que o olha em um exercício de “otredad”, com um certo desafio irônico. Meu livro é esse olhar-me e descobrir-me em um jogo de sombras chinesas: “Hasta el eje sediento de mi centro / no existe ningún espejo claro”. Em meus poemas o sujeito poético usa um disfarce para não ser descoberto de todo, mas também o tira para ser descoberto. Autorretrat... é ao mesmo tempo um livro de poesia erótica e uma homenagem à pintura. MEM - Quais são os seus “livros de cabeceira”? E em que intensidade os autores que você ama interferem em seu próprio processo criativo? CC - Meus livros de cabeceira são muito variados. O Oráculo manual y arte de prudencia, de Baltasar Gracián, me ajuda a sobreviver dia a dia, e a não morrer presa nas intrigas e no caos do mundo. Outra de minhas bíblias é Il Grande Lupo Alberto, um livro dedicado ao famoso e simpático lobo italiano criado por Silver. Este é um livro em quadrinhos que me faz feliz. Outros livros que têm me acompanhado durante muito tempo são Zen in the Art of Archery, de Eugen Herrigel; uma antologia de poesia irlandesa; um livrinho de haikais; uma tradução para o inglês da poesia completa de Catulo; Open Closed Open, antologia da poesia de Yehuda Amichai; De umbral a umbral, de Paul Celan; Variaciones sobre el pájaro y la red con La piedra y el centro, ensaios de José Angel Valente; a correspondência entre Maiakovski e Lili Brik, bem como a de Kurt Weill com Lotte Lenya. Também El pulso de las cosas, antologia poética de Henri Michaux, e La casa de cartón, de Martín Adán. Eu diria que Valente, Celan y Amichai me ensinam a ser poeta. Há outros autores que me apaixonam, entre eles Trakl, mas prefiro não seguir acrescentando nomes à lista, já que teria que ir à Idade de Ouro espanhola e à poesia italiana. MEM - Como você avalia, em termos gerais, a poesia latino-americana de hoje? Quais seriam as principais linhas de força da produção poética de nosso continente? CC - A poesia latino-americana que mais conheço é a mexicana. Sempre me interessei muito pela geração dos Contemporâneos, em particular José Gorostiza e Gilberto Owen (latino-americano-irlandés como eu). Também fui, há muitos anos, uma leitora voraz de Octavio Paz. Dos poetas mais jovens, digamos dos nascidos depois dos anos quarenta, tenho alguns favoritos: Francisco Hernández, Coral Bracho, David Huerta, Elva Macías,Gloria Gervitz, Pura López Colomé e Eduardo Milán, entre outros. Do Brasil: Cecília Meireles, Adélia Prado e Maria Esther Maciel. Nos últimos meses tenho lido Floriano Martins. Da poesia argentina conheço bem a obra de Alejandra Pizarnik e Luisa Futoransky. A segunda parte de tua pergunta me obrigaria a assumir o papel de crítico literário e, além disso, não creio que conheça o suficiente de poesia latino-americana para respondê-la. A única coisa que posso comentar é que encontro na poesia latino-americana muita ousadia iluminadora. Há poetas que me surpreendem constantemente com suas explorações da linguagem, em seu dizer barrocosurrealista, em seu equilíbrio e sua desmesura. MEM - Você poderia falar um pouco sobre a poesia cubana feita nos Estados Unidos? Como você trabalha a questão do exílio em sua própria poética? CC - Da poesia cubana escrita em espanhol nos Estados Unidos a que mais me interessa é a escrita por mulheres, com a exceção da poesia de José Kozer e Jesús J. Barquet. Tenho me dedicado ao estudo crítico da obra de Juana Rosa Pita e Magali Alabau. Na poesia de Pita há muita inovação idiomática e uma linguagem coloquial que me atraem. Encontramos em sua obra uma grande insatisfação com a história oficial, e ela, com grande ousadia, a reescreve através do mito. Suas propostas inovadoras estão bem representadas em Viajes de Penélope y Crónicas del Caribe. Já Magali Alabau é uma das poetas cubanas mais transgressoras da atualidade. Sua poesia é herdeira de sua experiência cênica, já que a poeta se dedicou durante vários anos (tanto em Cuba quanto em Nova York) ao teatro, como atriz e diretora. Me interessa também em Alabau a sua reescritura audaciosa dos mitos clássicos a partir de uma posição feminista. Isto vemos sobretudo na sua Electra, Clitemnestra. Mas seus livros La extremaunción diaria e Ras é que se destacam como obras essenciais para se entender a realidade alienante e insuficiente que rodeia o escritor exilado. A cidade de Nova York é o espaço principal onde a poeta conduz seus enfrentamentos humanos/sua busca do ser. Alabau transtorna os pontos de referência do considerado “normal” e cria dimensões espantosas a partir do olhar do sujeito poético insatisfeito, um sujeito que se vale do paradoxo, da ironia e do humor negro para ler a cidade e a casa/corpo, a partir de zonas de excentricidade. Também me interessa muito o tema da violência nessa poesia. Outras poetas relevantes são Maya Islas, Alina Galliano y Lourdes Gil. Publiquei dois livros dedicados às poetas cubanas da diáspora: Web of Memories, Interviews with Five Cuban Women Poets e Voces viajeras, que é uma antologia voltada para o tema da peregrinação e da viagem em poetas cubanas. Nela incluo também outras poetas que não vivem nos Estados Unidos. Meu primeiro livro, 34th Street and other poems, escrito em Nova York nos anos oitenta, pode ser inserido, em parte, dentro do espaço da poesia cubana da diáspora, quanto ao tema da nostalgia. É um livro dedicado à minha mãe e que narra poeticamente muitas de minhas experiências na cidade de Nova York. Não com o dilaceramento que encontramos na poesia de Alabau, mas com um olhar crítico, e até certo ponto harmonioso, de um sujeito poético em viagem de descoberta e de rememoração da infância. Cheguei a Nova York, saída de Zürich, em 1981, e embora minha vida não tenha sido um paraíso do ponto de vista material, Nova York foi meu espaço cosmopolita de iniciação como poeta, uma moderna urbe que me enriqueceu culturalmente. O resto de minha obra deixa para trás essas referências do exílio, até o Libro de los XXXIX escalones, no qual regresso a Havana e a Zürich, e sobretudo à minha meninice. Mas, agora, através de jogos alquímicos e leituras de quadros surrealistas. Jesús J. Barquet, um dos críticos que com maior argúcia estudou minha poesia, disse que grande parte de minha obra resulta excêntrica dentro da poesia cubana do exílio, mas ao mesmo tempo trata de encontrar traços do cubano em minha poesia a todo custo, como um bom detetive. Barquet disse que meus malabarismos e exotismos não foram nunca alheios à poesia cubana, e menciona Julián del Casal e José Lezama Lima. O livro de Barquet, Escrituras poéticas de una nación: Dulce María Loynaz, Juana Rosa Pita y Carlota Caulfield, publicado em Havana pelas Edições Unión em 1999, é uma boa fonte para os leitores que se interessem em rastrear minha identidade cubana. Definitivamente, não me interessa defender nenhuma identidade em particular, talvez a única que me atreva a defender seja a de poeta. Corner Revista eletrônica http://www.cornermag.org . . revistas em destaque .. arquitrave (colombia) diálogo entre harold alvarado tenorio & floriano martins FM - ¿Cómo y porque surgió la idea de hacer una revista como Arquitrave? HAT - En Colombia hay muy pocas revistas dedicadas en exclusivo a la poesía. Las mejores sin duda fueron las que hicieron durante los años setentas Elkin Restrepo, José Manuel Arango y Luis Fernando Macías en Medellín. Pero las otras que han existido pecan gravemente por ser instrumentos de envanecimiento, celebran en exclusivo a sus directores y colaboradores. Arquitrave quiere romper esa tradición, publica sólo textos inéditos y circula entre suscriptores, garantizando su independencia de los poderes culturales nacionales que son funestos en el caso colombiano. FM - ¿Puede una revista sobrevivir sólo de suscripciones? HAT - He tratado de que Arquitrave sobreviva solo de sus suscriptores y hasta el momento lo he logrado. No se si en el futuro pueda hacerlo. De allí que extreme la campaña de suscripciones. A pesar de no tener apoyo oficial ni privado algunas entidades culturales nacionales e internacionales me ayudan con la compra de varias suscripciones. Eso sucede por ejemplo con la Biblioteca Luis Ángel Arango o con el Instituto Iberoamericano de Berlín, por citar dos casos solamente. Espero poder contar con mas apoyo en el futuro. FM - ¿Tiene un comité de redacción Arquitrave? HAT - No, yo hago todo el trabajo de recolección y selección de textos, como hago todo el trabajo de diagramación e impresión. Lo único que no hago es el refilado, pero también me ocupo del envío postal. De manera tal que estoy dedicado en exclusivo a esa pequeña aventura. FM - ¿Como elige los textos? HAT - Trato de equilibrar cada número no con mis gustos sino con los niveles de calidad de los textos que logro recoger. Y que me envían los poetas. En cada número hago un pequeño homenaje a un poeta vivo o muerto, y publicó poetas de todas las partes que puedo. FM - ¿Y de Brasil? HAT - Trato de poner un poeta del Brasil en cada edición, pero es difícil. Los traductores, los buenos traductores no abundan. Ahora por ejemplo estoy preparando un homenaje a Alberto da Costa e Silva, uno de los poetas brasileños mas queridos en Colombia, donde fue embajador. Pero en general no mes es fácil esa labor de difundir una poesía tan importante como la brasileña y tan desconocida entre nosotros. Seguiré insistiendo. FM - ¿Que ayuda necesita entonces? HAT - Que los poetas se comuniquen conmigo y que me ayuden a difundir la revista, tanto la impresa como la virtual. Le ruego poner aquí mis direcciones: www.arquitrave.com y [email protected] para que me escriban. Arquitrave, revista colombiana de poesía publicada, impresa y virtual, en Bogotá, por el poeta Harold Alvarado Tenorio, ha cumplido sus primeros dos años de vida. El nombre de la revista parece ser un homenaje al poeta español Jaime Gil de Biedma. Uno de sus poemas de los años sesenta se titulaba precisamente El arquitrabe, una suerte de metáfora de los impedimentos y prohibiciones sociales y eróticos que padecía el poeta bajo el franquismo. Arquitrave se publica cada dos meses y difunde la poesía de todos los tiempos, en especial, la que se escribe en nuestra lengua. A la fecha ha realizado, entre otros viarios, homenajes a poetas como el habanero Gastón Baquero, el sevillano Luis Cernuda, el perseguido político del castrismo Raúl Rivero, el alejandrino Konstandinos Kavafis, el sanonofreño Giovanni Quessep, el chino Bai Juyi, los alemanes Ingeborg Bachmann o Hans Magnus Enzensberger, el indio Mudnakudu Chinnaswamy, el madrileño Luis Antonio de Villena, la uruguaya Cristina Peri Rossi, el palestino Madmud Darwish, el brasileño Affonso Romano de Sant’Anna, la australiana Margie Cronin, el griego Atanasio Niarjos, la sueca Karin Boye o el colombiano Jader Rivera. En el número doce que está en circulación, se celebra al mexicano José Emilio Pacheco, al lusitano Jorge de Sena y al griego Napoleón Lapathiotis. Harold Alvarado Tenório Director Arquitrave, revista de poesía www.arquitrave.com www.arquitrave.com/hatprincipal.htm [email protected] Apartado Postal 1-36 02 81 Centro Internacional Bogotá. D.C. Móvil [310] 324 88 35 . revistas em destaque .. fronteras (costa rica) depoimento de Adriano Corrales Arias La Revista Fronteras nació como un Proyecto de Extensión Cultural del Area de Culturales del Departamento de Vida Estudiantil (DEVESA) del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sede San Carlos, Costa Rica, en el año 1995. Su primer objetivo fue convertirse en un espacio editorial para dar a conocer las distintas investigaciones que venían realizando nuestros docentes e investigadores en torno al ámbito de las Culturas Populares. Pero a medida que se fue desarrollando el proyecto (a partir del tercer número), nos fuimos enterando de la existencia de un vacío en cuanto a revistas culturales costarricenses y centroamericanas, que mantuvieran un perfil intermedio entre la revista especializada y la revista popular, formato que perseguíamos desde el principio. Así, además del énfasis antropológico, histórico y sociológico, nos fuimos abriendo a otros ámbitos como el de la literatura y el arte en general. Por otro lado empezamos a recibir colaboraciones de distintos países latinoamericanos, y más tarde europeos, a los cuales, imprevistamente, fue llegando la revista gracias a amigos y colaboradores. El proyecto se amplió. Hoy mantenemos diferentes secciones permanentes: El Editorial, donde consignamos nuestra posición sobre divversos temas, Tertulia, donde tenemos siempre una entrevista con un invitado especial; Raíces, un espacio para la historia y la cultura popular; Reflexiones, una sección para el ensayo o artículo de fondo sobre la teoría cultural, filosófica, literaria, política, económica o estética en general; Comunidades, espacio para grupos artísticos, étnicos, culturales, etc. y para reseñas literarias y editoriales en general; Trapiche, sección literaria con poesía y cuento; Aduana, sitio donde consignamos las publicaciones recibidas y recomendamos bibliografía; A la Tica, sitio sobre la identidad nacional y su devenir histórico. La revista se financia básicamente con presupuesto del Instituto Tecnológico de Costa Rica y con la venta de sus ejemplares, pero estamos tratando de abrir la venta de publicidad como una colaboración y apoyo a este proyecto editorial. La misma se distribuye en las principales librerías de las ciudades costarricenses de San José, Heredia, Ciudad Quesada y Cartago. Pero también se encuentra en Bibliotecas, Centros Culturales y Salas de Teatro, tales como Giratablas, Café Calicanto en el Ministerio de Cultura, galería Andrómeda, etc en la ciudad capital, San José. Hasta ahora se han publicado 14 números semestrales y ya está en preparación el número 15. Si alguien desea suscribirse o enviar su colaboración lo puede hacer a nuestros teléfonos, fax o apartados postales y electrónicos. Pra colaboraciones se aceptan artículos o narraciones no mayores de 20 cuartillas; en poesía no más de cinco poemas. Agradecemos una breve ficha bibliográfica del autor. Por lo demás, la revista Fronteras no se concibe solamente como una publicación, sino, y es lo más importante, como un Punto de Encuentro y un proyecto cultural que ya ha realizado Tres Encuentros Centroamericanos de Escritores y dos de Poetas Nicaraguenses y Costarricenses, además de diversos recitales, conversatorios, talleres y congresos. El Director y Editor es Adriano Corrales Arias, quien, a nombre del Consejo Editorial y del grupo de trabajo, agradece su atención. …Y como siempre los invitamos para que nos escriban: Apdo. Postal 223-4400, Ciudad Quesada, COSTA RICA. Teléfonos (506) 475-50 33, (506) 475-5063 extensiones 293 o 243; Telefax (506) 475-5085. Correo electrónico: [email protected] o [email protected]. . . revistas em destaque .. salamandra (espanha) apresentação de lurdes martínez Desde finales de los años 80 en que se constituyó el grupo, nuestra actividad se ha reunido principalmente en torno a la revista Salamadra, el periódico ¿Que hay de nuevo? y las ediciones de nuestra editorial La Torre Magnética, además de toda una serie de intervenciones públicas: conferencias, exposiciones, declaraciones colectivas, etc. La revista Salamandra, que podríamos decir es el órgano de expresión del grupo, ha pasado por diversos momentos. Si los primeros números se correspondieron con una etapa de iniciación donde el juego colectivo era la nota dominante, a partir del número 4 hemos perseguido una mayor ambición y riesgo intelectuales. Pero además el deseo de tomar contacto con otras corrientes de pensamiento ajenas pero afines al surrealismo nos ha impulsado a abrir la revista, especialmente a partir del número 8/9, a colaboraciones procedentes de esos campos próximos, tanto en lo que se refiere al pensamiento crítico como a la investigación en el ámbito de lo imaginario. Para el próximo número (11) hemos tomado la decisión de modificar el subtítulo de la revista, que desde el número inicial ha sido Comunicación Surrealista - completado más tarde, primero por el de Imaginario Crítico y, desde el número 8/9, por el de Imaginación Insurgente. Crítica de la vida cotidiana-; ahora será sustituido por Intervención Surrealista, manteniendo los otros subtítulos. Esta decisión responde a una evolución dentro de nuestro propio pensamiento y que atañe a la relación que queremos establecer con el surrealismo: así “comunicación” presupone, a nuestro parecer, fundarse en la posesión acrítica de una verdad de la que se hace partícipe a los demás, que se anuncia, y en este sentido supone avanzar desde una postura ideológica de la que queremos huir completamente. Mientras que “intervención”, desde nuestro punto de vista, lejos de tener el sentido pretencioso de que con nuestras acciones transformemos lo real, implica partir del surrealismo, no como sistema de pensamiento cerrado y determinado donde acudir para encontrar respuestas y soluciones, sino como plataforma desde la que encaminarnos, despojados, a actuar sobre la realidad de una manera experimental. Se podría decir que, a un nivel general, nuestras actuaciones se desarrollan en dos dimensiones que pretenden cierta resolución dialéctica: de una parte, el desenvolvimiento de una reflexión teórica, que partiendo de una postura esencialmente pesimista, se concentra en el análisis crítico de la actual sociedad espectacular, evidenciando sus mecanismos de dominación. De otra, una práctica concretada en intervenciones y experimentaciones (a un nivel colectivo o individual) inspiradas por la imaginación, que son asumidas más como estrategias de resistencia que de transformación, - acompañadas en ocasiones de su correspondiente teorización- que aspiran a quebrar o socavar la normalidad del discurso dominante entendido como incuestionable y que se hallan completamente impregnadas de una intención experimental y lúdica. En el primer apartado podríamos incluir un conjunto de declaraciones colectivas: Hermanos que encontrais bello lo que viene de lejos,(publicado en Salamandra no.6) contra el racismo y la xenofobia, donde denunciamos las construcciones mentales que el poder mantiene y fomenta para que“el otro” siga siendo el enemigo, al tiempo que indagamos en propuestas que se opongan a este estado de cosas, como pudiera ser la elaboración de mitologías o narraciones entendidas como empresas de la vida colectiva “que cohesionan los esfuerzos e individuos...saturándolos de pasiones nuevas y dirigiendolos a proyectos liberadores”(Effenberger, La Civilisation Surréaliste), mitos que ilusionen la conciencia humana y que consigan sustituir “el recelo, el miedo y la cólera por la curiosidad, la aventura y el deseo” (Hermanos...) ; Pleno Margen, a favor de la liberalización de las drogas , que reclama la liberación integral del ser humano y su derecho a desarrollarse en plenitud, abordando el peligro que ello presupone para el poder represor; Hay una luz que nunca se apaga, donde celebramos las huelgas de Corea; Todavía no han parado todos, en contra del deporte y el trabajo, donde exigimos el fin del trabajo y denunciamos la simbiosis entre los modelos del deportista y del trabajador que quieren justificar las exigencias de la economía. Una misma linea de discusión siguen otros textos individuales: Nuevas industrias de la subjetividad, de Jesús García Rodríguez, (Salamandra no.10) que pone en evidencia la manera en que el espectáculo opera en el dominio de lo sensible, convirtiendo los deseos, el placer, las emociones, las subjetividades en mercancías y analiza el papel crucial que la publicidad juega en ese proceso; La negación del espejo, de Eugenio Castro, una crítica de las nuevas tecnologías que se centra en el fenómeno de la pantalla como instrumento de separación que conduce al hombre -que había extraído su fuerza de su relación con la intemperie- a un estado de inmadurez y cobardía, y que sepulta, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, el ciclo vital del tiempo mediante el simple gesto de su encendido. Tiempo de carnaval, de José Manuel Rojo, que intenta desentrañar los mecanismos recuperadores de la publicidad que no sólo vuelven en ofensivas las críticas y propuestas del movimiento revolucionario sino que también las reconvierten en nuevas mercancías o estímulos para el desarrollo de la economía. Por último, las discusiones y debates más recientes en el seno del grupo se han concretado en dos textos colectivos: El falso espejo, que reflexiona sobre el papel de la imagen hoy, convertida en herramienta del poder al apuntalar y reforzar el proceso de desmaterialización de lo real, instrumentalizar lo imaginario y sustituir la vida vivida, pero haciendo al tiempo que este hecho terrible se acepte sin violencia, al aparecer adornada con los ropajes de lo artístico. La orgía de imágenes que nos envuelve y fascina, afecta de modo inevitable a la creacción artística, y a ésta en el seno del surrealismo que, sin renunciar a la creación de imágenes del deseo a un nivel individual, ha de asumir la falta de eficacia de la imagen a un nivel social, debido al problema, no sólo de la recuperación de cualquier imagen subversiva, sino, lo que es peor, de la banalización de toda creacción artística. A esto sigue una reflexión sobre la oportunidad de pensar en nuevas tácticas que logren un diálogo social entre artista y público -habida cuenta de la caducidad del sistema de exposiciones- y la necesidad de ahondar en una renovación del imaginario surrealista que se libere de rasgos identitarios y de inercias especializantes, invocando la indocilidad y la no acomodación y fundandose en la experiencia de lo desconocido. Sin renunciar a la imaginación, se lanza como propuesta la práctica del materialismo poético, que materialice el ensueño utópico satisfaciéndolo en la vida concreta, entendiendo aquí lo imaginario como no separado de la realidad sino fundado en ella. En definitiva se trata de “no contribuir al proceso de fantasmagorización del mundo sino encontrar la fórmula que le permita hacerse real sin realizarse como espectáculo”. Finis Linguae, texto que abre el volúmen colectivo de poemas Indicios de Salamandra, editado por La Torre Magnética-Zambucho Ediciones (Madrid, 2000), aborda la problemática del lenguaje poético, la palabra en libertad y su naturaleza inabarcable, inconmensurable, incomunicable, desobediente, resistente, inasible a la dominación, rebelde frente a cualquier utilitarismo sin olvidar que esa palabra forma parte del lenguaje como actual mecanismo de dominación, de la comunicación de los dueños, Junto a estas elaboraciones teóricas se inscriben una serie de acciones y experiencias dirigidas a “quebrar el espacio apesadumbrado de la vida cotidiana”. Buena parte de nuestra energía se encamina hacia una crítica de la vida cotidiana, a la que nos impulsa el comprobar cómo el capitalismo ha provacado la separación del hombre de la vida en su conjunto, reduciendo y parcelando sus facultades y extendiendo a todos los campos su ética economicista y productivista. Ante esta situación de miseria vital, vemos necesario llevar a cabo la desacreditación de la realidad tal como nos es dada, mediante la vivencia de la poesía, que atenta y altera la percepción que tenemos de lo cotidiano en su expresión más miserabilista y lo somete a una crítica implacable. A un nivel colectivo se situan una serie de intervenciones callejeras que forman parte del “proyecto político de vida poética” desarrollado en el texto Los días en rojo (Salamandra no.7) y que consiste en llevar los impulsos de la poesía a la vida cotidiana y a la práctica revolucionaria: por ejemplo, pintar en las paredes constelaciones imaginarias, modificar el aspecto de ciertas estatuas, simular una procesión de fantasmas entrando y saliendo de un edificio ruinoso y cuya única huella visible son sus zapatos adheridos al suelo, realizar una deriva colectiva con el pretexto de estampar en las calles frases de contenido poético, etc.Esta introducción de elementos perturbadores en el paisaje cotidiano aspira a producir un desconcierto visual y mental que pueda movilizar el aparato afectivo del viandante; se trataría de estimular y practicar “nuevos comportamientos que anuncien el principio de una realidad en agitación. Comportamientos...que vayan cartografiando el paisaje de una subversión mental a gran escala que procure la posibilidad futura de una insurrección generalizada” (Los días en rojo). No obstante, admitiendo los incontables obstáculos que existen para que esto se produzca, contemplamos estas acciones por su absoluta gratuidad, por el simple placer que nos procura su desarrollo. Además, “al nacer de un impulso de la imaginación creadora” reivindican y apelan a “una forma de diversión inventada y libre que se opone a toda forma de deleite alienado y alienante”. Por último, buscamos en todo momento el anonimato y la clandestinidad de estas acciones para evitar que sean asimiladas o reducidas a un aspecto puramente estético. A un nivel más individual responden un conjunto de experimentaciones de lo poético (experiencias de derivas, de azares y encuentros y, en general, vivencias relacionadas con todo el material inconsciente) en las que se esboza o ensaya la posibilidad de otra vida, y hablamos de esbozos de esa vida diferente, porque somos conscientes de la dificultad de que en la actual situación de dominación se pueda manifestar en toda su plenitud, de que la poseamos efectivamente, en todo momento y circunstancia. En concreto en la revista Salamandra la sección Más Realidad. Emblemas de la magia cotidiana. recoge desde el número 5 experiencias de esta índole. Mención aparte merece la atención que hemos prestado a lo concerniente a la naturaleza y el animal salvaje, abordados desde un plano tanto teórico como poético. En Notas sobre ecología y surrealismo, J. M. Rojo (Salamadra no.5) plantea la necesidad de promover, para superar la actual crisis ecológica, una nueva ecología revolucionaria que forje una nueva sensibilidad hacia la naturaleza y el animal, una sensibilidad que recoja las aspiraciones poéticas, imaginativas e inconscientes latentes en todos los seres humanos y que deben proyectarse en la creación de un nuevo mito colectivo movilizador sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Una aproximación pasional hacia la naturaleza lleva a E. Castro en En la montaña del Torcal. Sésamo multiplicado (Salamandra no.4) a criticar el concepto proteccionista que sobre ella ha forjado la visión antropocéntrica, que reduce, anula y manipula el potencial mágico y recreador que recorre la naturaleza en su totalidad. De el animal, ese “Otro Absoluto, explotado, ignorado o perseguido, que arrastra en la sociedad occidental el doble estigma con el que el hombre moderno trata de defender su razón esclavizada: lo últil-lo dañino” (M.Auladen, Qui-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi. Luz Negra no.2), se ocupa el texto colectivo El Continente Fabuloso. Proyecto para un Bestiario Surrealista, (Salamandra no.6) donde se reconoce su absoluta autonomía, despreciando la actitud que conduce a dotarle de atributos humanos y se insiste en la necesidad de dirigir nuestras relaciones con él hacia un plano de reciprocidad, con el fin de recuperar su carácter de ser fabuloso y “emocionante”.La liberación de la vida salvaje es, en definitiva, imprescindible para la liberación del ser humano. Otro ámbito en que nos hemos dedicado de manera especial es el de la crítica al urbanismo como otro de los instrumentos de dominio sobre el espacio físico, que acota y reglamenta el ámbito urbano, lo limita en función de criterios de rentabilidad econónica y convierte a la ciudad en un lugar domesticado que ha perdido su relieve vital, pasional (El espíritu errante. Una introducción al nomadismo del ser seguido de fragmentos para un dossier psicogeográfico, coordinado por J.M. Rojo,Salamandra no.7; El Lugar revisitado.Textos psicogeográficos del Grupo Surrealista de Estocolmo, coordinado por Lurdes Martínez, Salamandra nº.10). Frente a ello nos prodigamos en explorar nuestro entorno más inmediato, buscando recuperar la magia de los lugares, sus potencialidades y particularidades en oposición a la homogeneización y normalización que impone el capitalismo: en El juego de la isla (incluido en El espíritu errante...e inspirado en un juego del Grupo Surrealista de París) asistimos a la emersión de una isla en pleno centro de Madrid, mediante la exploración de esas zonas de la ciudad que poseen una imantación afectiva indiscutible. O bien en oposición al fomento interesado del olvido: en Ruido de cadenas.El sentimiento gótico de la arqueología industrial, J.M. Rojo (en La experiencia poética de la realidad como crítica del miserabilismo. Edic. La Torre MagnéticaLibrería Asociativa Traficantes de Sueños. Madrid, 1997) analiza el proceso de decadencia de las viejas industrias -que forman hoy parte de las ciudades y cuyo único destino es ser demolidas o convertidas en museos- en la economía posindustrial y el posible reencantamiento de las fábricas vacías que se proponen como sustituto contemporáneo de los castillos, espacios donde lo imaginario puede encontrar un nuevo nido y fortalecer el deseo de rebelión de los movimientos sociales que como los okupas reutilizan sus espacios abandonados. Las experiencias de derivas sobre las que E. Castro reflexiona en El nombre ensoñado. La realidad nombrada (Salamandra no.3) y Sólo las horas.(La deriva como experiencia onírica de la realidad y erotización del tiempo) (La experiencia poética...) atañen a la dimensión temporal -más que espacial-de la vivencia de lo maravilloso en este deambular extraviado hacia ningún sitio, extravío que provoca una nueva disposición sensible y mental que altera la percepción que tenemos del entorno y hace que el fluir del tiempo se antoje como en el sueño- distinto al del tiempo instrumental. Tiempo de “emoción pura”, de desocupación total, tiempo extraviado, de placer mental, de ensoñaciones eróticas... En los últimos tres años hemos intensificado nuestros contactos con el entorno radical/alternativo y fruto de ello ha sido la organización de charlas y debates en ciertos puntos del ámbito radical (C.N.T de Barcelona, C.A.O. de Alicante, la librería Liquiniano de Bilbao, Traficantes de Sueños en Madrid), conferencias que han ido acompañadas de pequeñas exposiciones entendidas como mero complemento de aquéllas; esta decisión responde a nuestra actitud de desconfianza hacia el sistema de exposiciones convencional y se perfilaría como un ejemplo práctico de una actividad de resistencia; confiamos además que se dió una correspondencia unificadora entre el discurso teórico y crítico y las obras. Al dar las charlas sobre todo en espacios políticos más que artísticos y al dar más importancia al discurso teórico que a las obras creemos haber conseguido ciertos resultados en tanto en cuanto que comunicación no espectacular. Por otro lado, con ocasión del ciclo de charlas realizadas en la Traficantes del Sueños surgió el proyecto de editar un libro con el contenido de las mismas, titulado La experiencia poética de la realidad como crítica del miserabilismo, que ha sido mencionado anteriormente. Salamandra Revista del Grupo Surrealista de Madrid [email protected] Ediciones de la Torre Magnética Torrecilla del Leal, 21, 1° izq. 28012 Madrid, España . revistas em destaque .. tropel de luces (venezuela) diálogo entre pedro salima & amigos (antonio guerra, luis aníbal velásquez, mirimarit parada, jesús cedeño y eduardo gasca) - La pregunta reglamentaria, ¿cómo surge la idea de crear una revista literaria? PS - Tropel de luces no tiene una fecha fija de nacimiento, creo que se fue dando en el tiempo, desde antes que nosotros pasáramos a formar parte de la directiva de la Asociación de Escritores. Hubo un grupo interesado en publicar una revista, el centro del grupo en aquel momento fue el poeta José Lira Sosa y creo que ese sueño quedó allí, con la idea de hacerse realidad. Una vez que asumimos la directiva de la Asociación de Escritores empezamos a concretar esta idea y luego varias reuniones en el sótano del Museo Francisco Narváez armamos lo que sería Tropel de luces. Tomamos el nombre de un poemario de Víctor Salazar, poeta que nacido en Barcelona, vivió sus años de infancia en la isla de Coche. Es un homenaje a Víctor. Debido a que somos escritores o escribidores, y con eso no basta para hacer una revista, hacía falta la parte económica, y esta se vio concretar con el nacimiento de la Peña Literaria José Lira Sosa, donde al grupo de la Asociación de Escritores se unieron varias personas vinculadas a la literatura, incluyendo a dos compañeras, Clorinda Fuente e Ima Rosa Rivas, que se empeñaron en convencer a algunos empresarios para que dedicaran parte de sus ganancias a participar en una revista literaria que en ese momento no existía. También a través de la Peña Literaria llegó una persona que se encargó de hacer el diseño de la revista. - ¿Cuál es el equipo que inicia la revista? PS - Tendríamos que mencionarnos a nosotros mismos, Luis Malaver, Luis Emilio Romero, Campito, Antonio Guerra, Eduardo Gasca, Luis Velásquez, Chevige Guayke, Gabriel Bulla, Clorinda Fuentes, Ima Rosa Rivas, Juan Carlos Chaperón, y luego se fue integrando otra gente como Maury Valerio, Mirimarit Parada, Oscar Roca, Oscar Rodríguez, Luis Miguel Patiño, Ekaterina Gameley, Omar Galbiati, Adolfo Golindano. Esto nos da una idea de una revista que, independientemente de que se le conozca como la publicación de la Asociación de Escritores del estado Nueva Esparta, va mas allá de esta institución y de la rigidez tradicional en las asociaciones de escritores, las cuales de por sí son pavosas. Creo que esta forma que le dimos a la Tropel de luces, de participación de otras expresiones culturales, ha logrado que se mantenga. El mismo hecho de que hayan participado o participen gente como Chevige Guaike, que nunca fue de la Asociación de Escritores, Antonio Guerra, un ácrata que no se asocia en estas instituciones, Adolfo Golindano, que es pintor, nos indica el grado de amplitud que hemos intentando dar. - ¿La revista Tropel de luces está por encima de la Asociación de Escritores? PS - Sí, y creo que en parte ha sido intencional. Nuestra mayor dedicación ha sido a Tropel de luces, pero no sólo como revista, sino extendida a la publicación de libros, ampliada a la formación de nuevas gente que se acerca a la literatura y puede convertirse en un nuevo autor que escriba en la revista. Colocamos a Tropel de luces por encima de la Asociación de Escritores, a la cual llegamos no para hacer una institución tradicional, sino que tomamos el nombre de la misma, ofrecido por quienes antes la dirigieron. Y Tropel de luces ha sido el resultado de este trabajo y en un momento determinado hemos tenido la intención de dejar que esta revista sea nuestra marca, nuestra huella a nivel nacional. - ¿ Tropel de luces es una revista elitesca? PS - Sigue siendo una publicación que llega a un grupo de personas, no podemos obviar que en este país la literatura es elitesca, pues no todo el mundo la ha asumido como parte de su cotidianeidad. Quizás en la medida de que el ciudadano común se vaya acostumbrando a leer, existirá un mayor acercamiento entre la revista y ese ciudadano. - ¿Se ha rebasado las expectativas con la revista Tropel de luces? PS - Nacimos sin la intención de llegar a quince números, a lo mejor fuimos pesimistas, pero no es fácil hacer quince ediciones de una revista literaria, de hecho nos son muchas las experiencias similares. En eso, creo, la expectativa se ha superado y también en la forma como ha sido aceptada en el resto del país, pese a no contar con una distribución que haga posible que llegue a todos los rincones o por lo menos a los interesados en la literatura en el país; sólo la hemos conectado con otros escritores a través de los encuentros o por medio del correo, y se nos va un dineral en el pago del servicio postal, pero es una forma de hacerla conocer. Es importante decir que la revista no se queda en lo literario, pues cuando se hace una publicación en provincia es muy difícil que la resumas a un sector, pues no hay otros medios de divulgación en el sector cultural y entonces la revista se te convierte en una expresión de lo que es la actividad o el mundo cultural. - ¿Tropel de luces pudiera ser una referencia de vanguardia en la literatura? PS - Creo que es una referencia literaria del estado Nueva Esparta, no a nivel de lo que fue para el país El techo de la ballena o alguna de esas revistas o grupos que nacieron o vivieron en momentos convulsionados, para nosotros el momento es distinto, nos ha tocado una época donde el mundo de la literatura es apacible. No somos una vanguardia. - ¿Qué opinión te merece el contenido de la revista en este contexto histórico? PS - La revista no puede escapar a lo que sucede en el país, independientemente del carácter neutral que pretendamos darle. En su contenido siempre hay una referencia a lo que está pasando en el mundo. - ¿El desorden y la desorganización es el éxito de la revista Tropel de luces? PS - Organizados no somos. Si logramos organizarnos a lo mejor tuviésemos menos problemas a la hora de editar la revista; pero quizás esa organización nos restaría espontaneidad. - ¿Hay elementos particulares en la revista? PS - Hay ciertos elementos dentro de Tropel de luces que le dan alguna particularidad, por lo menos el modo de presentar a los autores. Hemos intentando disminuir el nivel académico, hemos intentado, incluso, quitarle seriedad a la revista, cuestión que no hemos logrado, la revista todavía sigue siendo muy seria para el gusto de algunos de nosotros. Hay muchas cosas que el lector no sabe; de repente está leyendo un texto y puede creer que el autor es la persona que aparece como tal, pero pudiera ser otro, pues quizás uno de nosotros no cumple presentando su texto a tiempo, a lo mejor está consumando una misión en un burdel, entonces lo escribe otro, aunque aparezca con la firma de quien debería escribirlo originalmente. Otro elemento es la frescura que intentamos darle a la revista, queremos una publicación que se lea, que atrape al lector. No tenemos la idea de entregarle a los lectores una revista pesada. Lo más difícil es convencer a la gente que tenga la revista en sus manos, una vez logrado eso el trabajo es más fácil. - ¿Qué es lo más que te llena de la revista Tropel de luces? PS - El equipo que hemos logrado. El interés de cada uno de nosotros, en principio no fue igual en todos, pero poco a poco ese afán se ha ido consolidando alrededor de la revista, Esa es una de las cosas que mas me satisface, la revista ha logrado que el equipo se consolide. La experiencia vivida en la Feria Internacional del Libro en Caracas es una prueba. Recientemente alguien me comentaba la sensación de unidad del grupo que mostramos durante el evento. Algunos nos consideran un clan, otros una mafia. Somos una peña. - ¿Qué elementos nos hace diferente al resto de las revistas literarias? PS - La amplitud. Repito, no nos centrarnos en lo meramente literario. Además en la variedad del contenido. Para muchas personas es importante la separata. Para otros la crónica es de un valor especial. Para otros es el trabajo con los artistas. También hay sorpresas, por ejemplo hay una revista donde se hizo un trabajo sobre Reina Rada como escultora, pues ese texto causó impacto entre los docentes., muchos profesores no vieron a la artista sino a la educadora. Esas cosas le van dando una amplitud a la revista que permite que mucha gente la busque. Hemos notado es que hay personas pendientes que la revista salga para ir a comprarla, se sienten orgullosos de que en Margarita exista una revista de esta calidad. Para ellos es un producto margariteño para el mundo. No voy a decir que esta es una generalidad ni que son muchas personas, pero si las hay. - ¿Margarita se divide ante y después de Tropel de luces? PS - Eso le va a quedar a los historiadores o investigadores. A lo mejor le toca a Efraín Subero, quien en una oportunidad dijo que la Asociación de Escritores de Nueva Esparta no existía, o algún alumno de Efraín. - ¿Pedro, alguna sugerencia que tú consideres importante para mejorar la revista? PS - Hay algunas ideas que se han ido asomando en reuniones. Que la revista en el futuro vaya siendo una especie de memoria cultural del estado. Hacer un trabajo sobre lo que ha sido la danza en Nueva Esparta, lo que ha sido el teatro o la música o el cine, de manera que vaya quedando un registro para las futuras generaciones, aunque eso también nos puede conducir a fomentar la flojera entre los muchachos, pues si les mandan a hacer un trabajo sobre el cine en Margarita van y copian a Tropel de luces y no investigan nada. Claro, esto podrá pasar si no llegamos a tener un gobierno que sepa lo que hace y queme todas las revistas, acción que le correspondería a un gobierno serio: quemar Tropel de luces. - ¿Pedro, con cuál de las secciones de la revista te identificas más? PS - Una de las secciones que más me preocupa cuando va a salir la revista es “Desde la barra”, porque es quizá el espacio más fresco, el que tiene mayor contenido de humor, y otra preocupación permanente es el ensayo, que es lo contrario “Desde la barra”, más serio. - ¿Tú aplicas aquel criterio político de Bertold Brecht “ordenar el desorden y desordenar el orden”? PS - Esa vaina es muy profunda para mí. El desorden viene como una respuesta al orden que siempre se impuso en mi casa y luego el orden que se impuso en el Partido Comunista de Venezuela, donde milité hasta que me soportaron. Ser desordenado para romper con tanto orden, me suena mejor. Hemos intentado que ese desorden se manifieste un poco en nuestras actividades para no hacerlas demasiado rígidas, demasiado serias, ni formales. Ya el hecho al asumir el nombre de la Asociación de Escritores es un peso fuerte con el cual uno tiene que luchar permanentemente para derrotarlo. - ¿Pedro, qué significación tiene para ti las portadas de la revista? PS - La portada para nosotros es un reto, estamos obligados a que sea atractiva, pero aparte de eso el autor de la misma debe sentirse orgulloso del trabajo final. No es original de nosotros en Margarita lo de una obra de arte en la portada, la revista Ínsula lo hizo antes, quizá la única diferencia que nosotros le dedicamos un trabajo al pintor. No sabemos si los artistas se sentirán mas satisfechos con la recompensa que les daba Ínsula porque era en efectivo, nosotros tratamos de compensarlo con un retrato escrito. Los artistas plásticos se han interesado en ir apareciendo en portadas de Tropel de luces, hasta el punto de que ya es una cola bastante larga que espera. Quizás sea porque a uno de los autores de la portada lo sobornamos para que dijera que el cuadro más costoso de su vida lo había vendido después de la aparición de una obra suya en la portada, y los demás lo han creído. - ¿Qué es el Comité Regional Clandestino del que nos habla Ekaterina Gamaely en el editorial de la número 14? ¿Tú formas parte de ese Comité? PS - No sé en absoluto quién forma parte de ese Comité. No sabemos si quienes lo conforman son escritores o no, o son enemigos de la revista. No sabemos si son terroristas, en algún momento hemos pensado que son miembros de Al Qaeda. Lo cierto es que los textos que envían a la revista con la intención de ser publicados pasan por manos de este terrible Comité, hasta los escritos por directivos de la Asociación de Escritores o por miembros de la Academia de la Lengua. Los textos son devueltos a la revista por el Comité Clandestino destrozados, incluso aquellos que van a ser publicados. Hemos pensado en publicar los textos rechazados por el misterioso organismo para ver si los lectores coinciden o no con este Comité. - ¿De quién es la autoría de las notas que aparecen a pie de página? PS - Eso tampoco se sabe, aparecen allí sin que nadie sepa quién las hace. Un detalle que a lo mejor los lectores desprevenido no captan, y es que a un autor se le puede cambiar su sitio de nacimiento cada vez que un texto suyo aparezca en la revista. Hay autores que ellos mismos ya no saben donde nacieron. - Siendo tú un hombre de números, de finanzas ¿cuándo piensa Tropel de luces pagar a sus colaboradores ? PS - Esa pregunta sólo la puede responder el Comité Regional Clandestino. - ¿A qué dirección se pueden enviar los textos para Tropel de luces? PS - En el primer número dimos a conocer las directrices para poder publicar en Tropel de luces, en especial para los miembros de la Asociación de Escritores; y allí se vio que era más difícil que un integrante de la Asociación publicara a que lo hiciese otro escritor. En aquella oportunidad los textos podían dejarse en el restaurant La Ceiba, ahora andamos sin dirección, pero en todo caso pueden dejar los textos en el kiosko de Evelín, aquí en el Paseo Guaraguao. Los debe dejar en un sobre cerrado, sin identificarse, porque si se identifica a lo mejor el texto ni siquiera pasa por manos del Comité Regional Clandestino. Nosotros recogeremos el sobre y lo dejaremos en un sitio donde sabemos que algún día pasará este terrible Comité Regional Clandestino, el cual cada día es más clandestino, en especial cuando se sospecha que es un grupo terrorista. - ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al diseñador a crear el diseño actual de la revista? PS - Yo creo que fue el diseñador que nos llevó hasta allí. Porque en primer lugar él nos impresionó con unas pruebas, y esa situación nos llevó a escoger el papel para la revista. Lo que si le pedimos a Gabriel Bulla, diseñador inicial, fue frescura, aire, blancos, que dieran una sensación de libertad, que la hiciese atractiva a la vista. Por experiencia, en especial por años de una militancia que nos comprometió a leer revistas muy pesadas, sabemos que los textos cuadrados, las páginas llenas de letras, resultan aborrecibles a la hora de ir a leer. - Pedro, hazte una pregunta PS - ¿Qué yo me haga una pregunta? ¿Cuándo se acaba esta güevonada de Tropel de luces? Tropel de luces nació en mayo del año 2000 (segundo trimestre de ese año). Circula trimestralmente, y siempre ha salido dentro de cada trismestre, aunque sea el último día del mismo. Un tiraje de 1000 ejemplares. Lleva 16 números. Empezó con apoyo de la empresa privada, con el cual todavía cuanta, además con el apoyo del CONAC. Cada número es presentado en un acto público. Tropel de Luces Asociación de Escritores del Estado Nueva Esparta y Peña Literaria “José Lira Sosa” [email protected] http://tropeldeluces.tripod.com.ve/ . . revistas em destaque .. iararana (brasil) diálogo entre aleilton fonseca & floriano martins FM - Quando surgiu Iararana e em quais circunstâncias editoriais? AF - Iararana - revista de arte, crítica e literatura surgiu como idéia em novembro de 1995, quando eu, que estava fazendo Doutorado na USP, em São Paulo, passava uns dias no Rio de Janeiro, e, andando ao léo, no aterro do Flamengo, para visitar o MAM, tive um estalo. Eu planejava retornar a Salvador e lembrava que a Coleção dos Novos, de 1981, que lançara vários escritores da minha geração (a chamada Geração 80), eu, inclusive, faria 15 anos em 1996. E que devíamos comemorar isso e lançar uma revista que marcasse essa geração. Em janeiro de 1996, já residindo em Salvador, procurei o contista Carlos Ribeiro, companheiro da Coleção dos Novos, e falei da necessidade de comemorarmos os 15 anos da coleção (que lançou 14 autores), com a criação de uma revista que nos representasse. Para minha surpresa, Carlos Ribeiro havia tido a mesma idéia da comemoração e da criação de uma revista. Resolvemos então reunir o pessoal e organizar uma coletânea com os 14 autores publicados pela Coleção dos Novos. Foi assim que surgiu o livro Oitenta - poesia e prosa, com textos de todos, e que foi lançada com grande sucesso. Daí Carlos e eu lançamos a idéia da revista aos demais companheiros de geração. Discutimos, eu redigi o projeto, aprovamos, saímos em busca de patrocínio. Somente em 1998, conseguimos lançar a Iararana n° 1, hoje esgotada, uma raridade (compramos exemplares de quem quiser vender). O jornalista e design Ney Sá fez o projeto gráfico, mantido até hoje. As primeiros editores foram Carlos Ribeiro, Elieser Cesar e eu. Hoje, a editoria está composta por Carlos Ribeiro, José Inácio Vieira de Melo e eu. Desde seu surgimento, a revista assumiu uma postura aberta, sem grupismo, sem sectarismo literário, e ganhou prestígio imediatamente. FM - Qual a razão de seu nome? AF - O nome é uma homenagem ao poeta baiano Sosígenes Costa (nascido em Belmonte, em 1901, falecido no Rio em 1968). Discutimos bastante sobre o nome e aprovamos, por maioria, a minha sugestão: Iararana (que significaria: aquela que tem a aparência de Iara, a divindade indígena dos rios) provém do título do longo poema primitivista, escrito em 1934, só publicado em 1979, em edição preparada por José Paulo Paes, que fez a fixação do texto. Este poema merece figurar ao lado de Cobra Norato, de Raul Bopp, e de Macunaíma, de Mário de Andrade, pelo tema e pela representação mítico-poética de nossas origens étnicoculturais. O fato é que nós queríamos um nome propositivo, que não fosse apenas uma homenagem a um escritor já entronizado no cânone. Sosígenes Costa estava esquecido, podíamos trazêlo à tona com a revista. Sosígenes Costa era avesso à publicidade pessoal, recatado mesmo. Por insistência dos amigos, publicou em vida apenas a Obra Poética, pela editora Leitura, em 1959. O livro recebeu o Prêmio Jabuti de 1960 (SP) e o Prêmio Paula de Brito (RJ). Logo esquecido, o autor foi redescoberto no final dos anos 70 por José Paulo Paes, que lhe dedicou o ensaio crítico Parlenda, pavão, paraiso (Cultrix, 1977), junto com uma antologia. Paes preparou também a edição de Obra poética I e a inédita Obra poética II, num só volume(Cultrix, 1978) e a edição, ilustrada do Aldemir Martins, do poema Iararana (Cultrix, 1979). Depois disso, o nome do poeta baiano submergiu novamente. Em 1996, Gerana Damulakis publicou o ensaio Sosígenes Costa, o poeta grego da Bahia. No centenário de Sosígens Costa, em novembro de 2001, a edição de Iararana 7 foi totalmente dedicada ao poeta. Houve mesas-redondas, palestras, publicações, matérias em jornais. A partir daí o poeta tem sido cada vez mais lido e estudado em ensaios, artigos e dissertações universitárias. Já se publicaram alguns livros sobre sua poesia. Em 2001, o Conselho Estadual de Cultura da Bahia publicou a Poesia completa do autor, com mais de 500 páginas. A revista Iararana contribuiu para este ressurgimento do poeta. FM - Como a revista convive com outros projetos similares na Bahia e também todo o país? AF - Iararana é a única revista da Bahia feita por autores. Ela não é ligada a nenhuma instituição. Desde a n° 1 até a n° 10, que sai em dezembro próximo, temos obtido apoio de empresas e instituições culturais, com isso garantimos a sua existência. Agora, as revistas no Brasil são muito isoladas umas das outras. Cada uma nasce e desaparece sem dialogar com as outras. Então não há intercâmbio, o que poderia fortalecer estas publicações, compartilhando condições de divulgação e público. Uma associação das revistas de literatura poderia conseguir muita coisa. Por incrível que pareça, Iararana faz intercâmbio e parceria com uma revista francesa, bilíngüe, a Latitudes: cahiers lusophones, editada em Paris para divulgar cultura de língua portuguesa. Iararana 8, de 2003, traz um dossiê em comum com a franecesa Latitudes, que, por sua vez, tem republicado alguns textos, informações e ilustrações nossas. Já lançamos Iararana em Paris e em Budapeste, Iararana 8 foi enviada, junto com Latitudes, para vários departamentos de língua portuguesa de universidades francesas e para outras entidades culturais interessadas na cultura lusófona. Juntas, as duas revistas já participaram de exposições, eventos literários, etc. Agora em setembro, estarei na França, participando do Colloque International Le Romantisme Aujourd'hui, na Université FrançoisRabelais, em Tours, e vou levando Iararana 8 e 9 na bagagem para lançar no evento, que terá gente de vários países. Entre outros, estarei numa mesa, ao lado do pai do Nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, e isto será muito interessante. Darei Iararana 8 e 9 a ele. FM - Qual a situação atual da revista, em termos de conquistas, dificuldades, novos planos etc.? AF - A dificuldade é a de sempre, a escassez de apoio, a falta de patrocínio contínuo, falta de mais tempo disponível para dedicar à revista. Afinal, somos todos muito ocupados. Mas, de 1998 até 2004, conseguimos editar 10 números. Uma sobrevida considerada longa para a média das revistas literárias não comerciais. Iararana figura em várias bibliotecas e coleções por aí. Já foi citada e referenciada até em teses universitárias. E as conquistas são muitas: prestígio para os autores envolvidos, um lugar no panorama literário, a revelação de novos autores, a convivência de escritores de diferentes gerações e de diferentes lugares. O nosso plano é expandir os contatos nacionais e sobretudo internacionais. Já publicamos autores da Espanha, Eslovênia, Argentina, Portugal, Estados Unidos, França etc. Em 2005, a Iararana 11 trará um dossiê dedicado à Literatura Galega (Espanha) em parceria com o PENCLUBE da Galícia. Nosso plano é continuar fazendo uma revista ativa, aberta, dinâmica, comunitária. FM - Iararana circula em versão apenas impressa ou há também um módulo virtual? AF - Até o momento, a revista tem versão apenas impressa. Existe a vontade de colocá-la no cyberespaço, mas por hora nos falta tempo e coragem suficientes para o desafio. Manter uma revista no ar exige uma disponibilidade de tempo e de pessoal que talvez em 2005 consigamos ter. Vamos discutir isso e procurar uma parceria que possa sustentar o projeto. FM - Qual a sua tiragem e como funciona sua difusão? AF - A revista tira apenas hum mil exemplares. Assim, a sua divulgação é bastante seleta, nos meios literários, entre escritores, professores universitários, bibliotecas, imprensa especializada, etc. FM - Como vês as possibilidades da Internet como ferramenta aplicada à cultura? AF - A internet é uma ferramenta fantástica. Um número incalculável de informações, de textos literários, de estudos críticos… tudo isso posto à disposição de um público incontável… É a grande revolução do século, que deixa muita gente ainda confusa, tonta, desconfiada, mas que é imprescindível como suporte de divulgação cultural massiva. Iararana – Revista de arte, crítica e literatura Editores: José Inácio Vieira de Melo, Aleilton Fonseca e Carlos Ribeiro Rua Rubem Berta 267/402 – Pituba Salvador BA 41820-220 BRASIL Contato: [email protected] . . revistas em destaque .. amauta (peru) ensaio de carlos arroyo reyes En el Perú que José Carlos Mariátegui (18941930) encuentra en marzo de 1923 -cuando retorna de Europa- no se sabe casi nada sobre la nueva literatura rusa. Como si las agujas del reloj del tiempo se hubiesen detenido en el momento de la caída del zarismo o el triunfo de Lenin y los bolcheviques no hubiese provocado ningún cambio cultural de importancia, muchos intelectuales peruanos todavía creen que la literatura rusa se reduce a Miguel Arzibachev o Leonid Andréiev y casi nadie conoce siquiera los nombres de Alexandr Blok, Andrei Bieli o Valeri Briúsov, los tres grandes representantes del simbolismo ruso que se adhieren a los Soviets y pertenecen al ciclo de la literatura rusa de la revolución. Tampoco se sabe nada acerca de Vladímir Maiakovski y los otros poetas futuristas que apoyan decididamente a los bolcheviques y cantan a la revolución, ni de Serguéi Esenin y los imaginistas o de Anna Ajmátova y el acmeísmo. De ahí que, aún a comienzos de 1925, en un artículo sobre Iliá Ehrenburg y la nueva literatura rusa, Mariátegui comente lo siguiente: «El escritor ruso Iliá Ehrenburg, cuyo temperamento artístico habíamos apreciado ya en la traducción francesa de su libro Juno Jurenito y en algunas de sus Historias inverosímiles, nos ha dado últimamente una prueba de su aptitud crítica en un sustancioso ensayo sobre la literatura rusa de la revolución. El tema es, sin duda, interesante, sobre todo para un público a quien no ha llegado de la literatura rusa nada posterior a Gorki, Arzibachev, Andréiev y Merezhkovski y para quien son todavía ignotos Briúsov, Bálmont y Blok». (1) La misma preocupación aflora en una carta que por esa fecha Mariátegui le escribe a su amigo Ricardo Vegas García, Jefe de Redacción del semanario Variedades, donde muestra su extrañeza ante el hecho de que muchos intelectuales peruanos todavía crean que la novísima literatura rusa es la de Andréiev: «Puede ser que se consiga usted también, en su búsqueda en las revistas extranjeras, retratos de Vladímir Maiakovski, de Boris Pilniak, de Andrei Bieli, de Ehrenburg, de Alexandr Blok, etcétera, para un artículo sobre la nueva, o mejor, la novísima literatura, ya que para muchos la nueva es todavía la de Andréiev» (2). Mariátegui no exagera cuando a mediados de la década del veinte las emprende contra aquellos que todavía creen que la nueva literatura rusa es la de Andréiev o la de Arzibachev. Conocido como «el apóstol de las tinieblas», Andréiev es uno de los más grandes escritores profesionales de la Rusia de la preguerra. Lejos de inscribirse en los rangos de la nueva literatura que insurge con la Revolución de Octubre, es un típico novelista y dramaturgo fin de síècle que se siente atraído por los tonos sombríos del decadentismo y hace gala de una morbosidad que tiene algo en común con las cavilaciones de Fiódor Dostoievski sobre el sentido del mal. Escribe diversas obras narrativas como La risa roja, Los siete ahorcados, La voz de la carne o Sacha Yegulev. De estas obras, la que prácticamente lo lanza a la fama es Los siete ahorcados, que aparece en 1908 y se agota al cabo de unos cuantos días. También incursiona en el teatro y compone piezas de la calidad de Hacia las estrellas, La vida del hombre o Judas. En sus inicios, Andréiev se muestra rebelde y misántropo e incluso es encarcelado por sus actividades políticas, pero después se transforma en un conservador que apoya la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, ataca a la Revolución de Octubre y cruza la frontera con Finlandia, para desde allí escribir apasionadas denuncias contra Lenin y los bolcheviques. En marzo de 1919 lanza un desesperado llamamiento para que los aliados intervengan en Rusia y acaben de una vez con los Soviets. Fallece al poco tiempo, a raíz de un ataque al corazón (3). Arzibachev es otro de los escritores rusos que goza de mucha popularidad en el período previo a la guerra. Dominado por el culto al sexo, la muerte y la desesperación, escribe una serie de libros como La muerte de Iván Lande, Millones, Sanin, El límite o La tumba de las vírgenes. La obra que prácticamente lo saca del anonimato es Sanin (1909), cuya publicación provoca un escándalo similar al que cincuenta años después suscita El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. Se dice que varios de los discípulos de Arzibachev, después que leen sus cuentos y novelas, donde el fenómeno del suicidio aparece como un motivo común, llegan a quitarse la vida. También confecciona diversas piezas teatrales como Celos, La ley del salvaje o El mal. Arzibachev se inicia como un bohemio rebelde, pero, al igual que Andréiev, termina oponiéndose a la revolución y se refugia en Polonia, desde donde anima la publicación de un semanario que se distingue por sus ataques a la causa soviética. Muere en 1927, cuando la estrella de la fama y la popularidad ya lo ha abandonado (4). Andréiev y Arzibachev llegan a tener una gran influencia en España y América Latina. Tanto que hasta los integrantes de la llamada «generación del año 20», que son los que acusan el impacto directo de la Revolución de Octubre, tienen problemas para romper con el embrujo del naturalismo y el sexualismo de estos dos escritores rusos. Así, en ese hermoso libro de memorias que es La arboleda perdida, el gran poeta español Rafael Alberti deja constancia de la profunda impresión que a comienzos de los años veinte le causa la lectura de la novela Sacha Yegulev, de Andréiev, que le regala un pariente suyo que trabaja en una conocida casa editorial: «Extremadamente cariñoso conmigo -recuerda Alberti-, Luis me recibía en su oficina de la casa Calpe, editorial en la que trabajaba. A él debo el aumento de mi cultura literaria, pues, siempre generoso, rara era la mañana que no volvía a casa con un montón de libros bajo el brazo. Aquella colección Universal, de pastas amarillentas, nos inició a todos en el conocimiento de los grandes escritores rusos, muy pocos divulgados antes de que Calpe los publicara. Gógol, Goncharov, Korolenko, Dostoievski, Chéjov, Andréiev... me turbaron los días y la noche. Hubo una novela, entre todas, que impresionó profundamente a la juventud intelectual española, sobre la que soplaban ráfagas fuertes de anarquismo: Sacha Yegulev, de Andréiev, autor que por aquellos años había muerto en Finlandia, lejos de la revolución de Lenin, que no alcanzara a comprender. Yo figuraba entre esos jóvenes a quienes la juventud heroica y aventurera de Sacha quitó el sueño» (5). Por la misma época en que Alberti y otros jovénes españoles se estremecen con la lectura de Sacha Yegulev, de Andréiev, las novelas de Arzibachev inundan las librerías de América Latina y son prácticamente devoradas por la «generación del año 20». En Chile, por ejemplo, Sanin, el personaje central de la popular novela de Arzibachev, es tomado como modelo por los anarquistas, los poetas y los estudiantes. Otro tanto ocurre con Andréiev, que es el escritor de moda. Sus novelas -La risa roja, Los siete ahorcados, La voz de la carne o Sacha Yegulev- pasan de mano en mano e inquietan el sueño de muchos jóvenes latinoamericanos. Algunos de ellos, como Pablo Neruda, se sienten tan identificados con Andréiev, que cuando empiezan a escribir sus primeros artículos de crítica literaria -en 1923, para la revista Claridad- firman con el seudónimo de Sacha, tomado de la novela Sacha Yegulev. Por ese entonces, Neruda también lee con fruición El océano, del mismo Andréiev, que tanto influye en su obra El habitante y su esperanza (6). En el Perú, en mayo de 1923, tibios aún los últimos rescoldos de su pasión juvenil por este tipo de literatura decadentista y finisecular, el mismo Mariátegui declara que en materia de prosa su predilección se divide entre Máximo Gorki y Leonid Andréiev (7). De modo que cuando Mariátegui las emprende contra los que todavía se sienten deslumbrados por la literatura de Andréiev y Arzibachev quizás también está terminando de ajustar cuentas consigo mismo o, mejor, con lo que aún queda de su denominada «edad de piedra». La oportunidad para este deslinde se presenta a mediados de abril de 1927, cuando escribe un artículo sobre Arzibachev, que justo por esos días acaba de fallecer. En este texto, Mariátegui parte de una constatación fundamental: que, dentro de la historia de la literatura rusa del novecientos, Andréiev y Arzibachev ocupan un lugar menos importante que otros contemporáneos suyos, como, por ejemplo, Fiódor Sogolub, que es uno de los primeros exponentes del simbolismo ruso. A partir de esta premisa, Mariátegui trata de discutir la cuestión de por qué, a nivel mundial, Andréiev y Arzibachev llegan a gozar de un renombre un tanto desproporcionado. Su idea es que la fama mundial de Andréiev y Arzibachev se debe a que éstos logran aprehender, desde el plano de la ficción, en novelas que tienen más que nada el valor de documentos psicológicos, antes que de creaciones artísticas, todo ese estado de ánimo de desolación, frustración y escepticismo en que, tras la derrota de la revolución de 1905, cae un buen sector de la intelighentsia rusa: «El mundo de Arzibachev -escribe Mariátegui- es generalmente menos atormentado y patético que el de Andréiev, pero tiene la misma filiación histórica. Su sensibilidad se emparenta asimismo, bajo algunos aspectos, con la de Andréiev. Escéptico, nihilista, Arzibachev resume y expresa un estado de ánimo desolado y negativo. Sus personajes parecen invariablemente condenados al suicidio. Suicidas larvados y suicidas latentes, hasta los del coro mismo de sus obras. El destino del hombre es, en este mundo lívido, ineluctablemente igual. El símbolo de la Rusia agoniosa, una horca. Esta literatura reflejaba la Rusia de la reacción sombría que siguió a la derrota de la revolución de 1905. Estudiantes tuberculosos, judíos alucinados, intelectuales deprimidos, componían la escuálida y monótona teoría que desfila por las novelas de Arzibachev bajo la sonrisa sarcástica de algún nietzschano de similor que acabará también suicidándose» (8). Pero la Rusia lívida, enferma y sombría de las novelas de Andréiev y Arzibachev no es toda la Rusia de ese tiempo. Resulta que el movimiento de 1905 no es sólo una derrota, sino también una extraordinaria experiencia que es debidamente aquilatada por aquellos hombres que más tarde, en 1917, despliegan victoriosamente la bandera de la revolución sobre el Kremlin. Desgraciadamente, esa otra faz de Rusia -la de la ilusión y la esperanza- no puede ser conocida ni entendida por Andréiev y Arzibachev. Incluso, cuando el último de ellos pretende diseñar un héroe, su imaginación no va más allá de un personaje como Sanin, que aparece como un fruto de la filosofía individualista y anarquizante de Max Stirner y las ideas de Friedrich Nietzsche sobre el «super-hombre». Como dice el propio Mariátegui: «Cuando [Arzibachev] pretendió crear un héroe, su imaginación de pequeño burgués individualista inventó a Sanin, un superhombre de provincia que no sostiene ninguna lucha -ni siquiera una auténtica agonía interior- y que exhibe como única prueba de su superioridad las victorias de su instinto fuerte y de su cuerpo lozano de animal de presa» (9). La situación de Arzibachev también le permite a Mariátegui discutir la cuestión un poco más general de por qué gran parte de los escritores rusos que pertenecen al ciclo del decadentismo y el simbolismo, no obstante que en sus inicios hacen gala de cierta rebeldía, terminan oponiéndose a la Revolución de Octubre. Así, pensando sobre todo en los decadentes y los simbolistas rusos que en el San Petersburgo de comienzos del siglo XX se agrupan alrededor de las figuras de Dimitri Merezhkovski y Zinaída Hippius, escribe: «Arzibachev era un representante de la intelighentsia, como se llama en Rusia, más que a una élite o una generación, a un ciclo o una época de la literatura nacional. La intelighentsia era confusa y anáquicamente subversiva más bien que revolucionaria. Se nutría de ideales humanitarios, de utopías filantrópicas y de quimeras nihilistas. Cuando la revolución vino, la intelighentsia no fue capaz de comprenderla. No era la revolución vagamente soñada en los salones de Madame Zinaída Hippius entre la musitación exquisita de un poeta simbolista y las fantasías helenizantes de un humanista erudito. El pobre Arzibachev, como otros representantes de la intelighentsia, se apresuró a protestar. Con un ardimiento de pequeño burgués desencantado, combatió la Revolución que llegaba armada de dos fuerzas que Arzibachev no conoció nunca y negó siempre: la ilusión y la esperanza. Por esto, sobreviviente de sí mismo, exiliado de la historia, le ha tocado morir melancólicamente en Varsovia. Sobre la estepa rusa no se dibuja ya como antes el perfil de siete horcas» (10). En otra parte de su artículo sobre Arzibachev, como algo que no le compete directamente, Mariátegui lanza este comentario: «Se dice que Sanin, que extremaba y exasperaba la tragedia rusa hasta lo indecible, produjo una reacción oportuna. Muchos jóvenes revolucionarios se reconocieron estremecidos en los retratos de Arzibachev. Después de sentirse impulsados enfermizamente hacia la muerte y la nada, las almas volvieron a sentirse impulsadas hacia la vida y el mito» (11). No se necesita ser muy zahorí para descubrir que aquí Mariátegui -aunque se refiere a los jóvenes rusos que logran superar la derrota de la revolución de 1905- también está hablando de él y los otros integrantes de su generación que, en algún momento de su juventud, se estremecen con las novelas de Andréiev y Arzibachev y no pueden dormir durante varias noches. El virtual desconocimiento de la nueva literatura rusa que tanto preocupa y angustia a Mariátegui tiene mucho que ver con un factor que es más cultural que político: la barrera del idioma. Por la época en que el autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928) retorna a Lima, la literatura rusa de la revolución todavía no ha empezado a ser traducida al español. Eso ocurre recién a partir de la segunda mitad de la década del veinte, cuando varias editoriales españolas, como M. Aguilar, la Biblioteca de la Revista de Occidente, Ediciones Biblos, Ediciones Oriente, Cénit y Espasa-Calpe, empiezan a traducir y publicar algunas de las obras más representativas de la literatura rusa de la revolución. Así, en 1925, M. Aguilar publica el libro Literatura y revolución, de León Trotski, que aborda, entre otros temas importantes, la situación del arte anterior a la Revolución de Octubre, el problema del encuentro -y los desencuentros- entre el futurismo y la revolución, el asunto de la relación entre la escuela formalista de poesía y el marxismo, la cuestión de la existencia del arte proletario, y la posición de los bolcheviques ante el arte. En 1926, gracias a la iniciativa de la Biblioteca de la Revista de Occidente, circulan las traducciones al español de Los tejones, de Leonid Leónov, Caminantes, de Lidia Seifulina, y Tren blindado número 14-69, de Vsevolod Ivánov. En ese mismo año, Espasa-Calpe publica el libro La nueva Rusia, de Julio Alvarez del Vayo, donde aparecen -traducidos al español- algunos fragmentos de la obra poética de Vladímir Maiakovski, Anna Ajmátova, Serguéi Esenin y Alexandr Blok. Entre los textos poéticos, figuran «La canción del perro», que es uno de los poemas más bellos y característicos de Esenin, y algunos de los versos de Los doce, de Blok, que es una de las obras más representativas del ciclo de la Revolución de Octubre. El autor de estas traducciones de Maiakovski, Ajmátova, Esenin y Blok como el mismo Alvarez del Vayo se encarga de informar a sus lectores- es Enrique Díez-Canedo (12). Sin embargo, el proceso de traducción al español de la nueva literatura rusa aún es lento, por lo menos en comparación con lo que ocurre en Francia o Italia, donde se pueden encontrar hasta revistas -como Russia, de Ettore Lo Gatto- que se dedican exclusivamente a traducir y difundir a los escritores rusos de la revolución. Por eso, a comienzos de 1927, Mariátegui saluda a la Revista de Occidente por su iniciativa de publicar las novelas de Leónov, Seifulina e Ivánov, pero aclara que aún es muy poco lo que se ha hecho con respecto a la traducción al español de la nueva literatura rusa. Su idea es que, para tener una visión panorámica de la literatura rusa de la revolución, también se debe leer a autores como Vladímir Maiakovski, Alexandr Blok, Valeri Bríusov, Boris Pasternak, Serguéi Esenin, Boris Pilniak, Isaak Bábel o Konstantín Fedin, que todavía no han sido traducidos al español: «Empieza -escribe- a ser vertida en español la nueva literatura rusa. (Ya se sabe que la nueva literatura rusa no es la de los "emigrados" sino la de la Revolución. La que se alimenta de la savia, la emoción, el impulso, el sentimiento del orden nuevo). La Biblioteca de la Revista de Occidente ha publicado el Tren blindado de Vsevolod Ivánov y Caminantes de Lidia Seifulina. Esto, claro está, es todavía muy poco. Sólo después de conocer a Pilniak, Bábel, Maiakovski, Esenin, Fedin, Zamiántin, Lunts, Pasternak, Tikhonov, Leónov, Ehrenburg, etcétera, podrá el lector hispano enjuiciar panorámicamente la literatura rusa de la revolución. De los propios literatos del período anterior a la Revolución, tal vez los más representativos permanecen aún inéditos en español. Mencionaré a Blok, Bríusov, Remisov y Bieli. Y su conocimiento es necesario como introducción en la literatura postrevolucionaria, a la cual Blok, Bríusov y Bieli han dado su aporte, mientras Remisov, hostil al bolchevismo, ha extraído, sin embargo, de la nueva vida rusa, los temas de sus últimos trabajos» (13). El proceso de traducción al español de la literatura rusa de la revolución mejora un poco más durante los últimos años de la década del veinte, particularmente en lo que se refiere a obras narrativas. En 1927, al poco tiempo que Mariátegui escribe su comentario sobre la forma tan lenta en que avanza la difusión en español de la nueva literatura rusa, Ediciones Biblos publica Caballería Roja, de Isaak Bábel, que es uno de los libros de cuentos más hermosos, estremecedores y perdurables de la literatura rusa de la revolución, y Las ciudades y los años, de Konstantín Fedin. Al año siguiente, Ediciones Oriente entrega a la imprenta una nueva obra de Fedin: Los mujiks; mientras que la Editorial Cénit lanza al mercado un libro que causa un tremendo impacto entre los lectores de habla española y rápidamente se convierte en una suerte de emblema del emergente «realismo proletario»: la novela Cemento, de Fedor Gladkov. Por ese entonces, la Biblioteca de la Revista de Occidente también publica El farol, de Eugenio Zamiátin. En 1929, Espasa-Calpe pone en circulación El diario de Costia Riabtsev, de Nicolás Ognev; en tanto que Ediciones Europa-América hace lo mismo con La derrota, de Alexandr Fadéiev (14). Este ciclo prácticamente se cierra con Rusia a los doce años, el nuevo libro de reportajes de Alvarez del Vayo, que también aparece en 1929 y contiene abundante y valiosa información sobre la literatura, el teatro y el cine soviéticos. En esta obra, entre otras cosas memorables, Alvarez del Vayo transcribe parte de sus conversaciones con Boris Pilniak, que aparece como una especie de «diplomático» de la nueva literatura rusa, y con Sergej Eisenstein, el director de un filme que con el paso de los años se convierte en una de las obras cumbres de la cinematografía mundial: El acorazado Potemkin (15). Poco tiempo después, refiriéndose al avance que durante el segundo lustro de la década del veinte se observa en el proceso de tradución al español de la nueva narrativa rusa, George Portnoff escribe: «Actualmente -dice- están apareciendo en España autores rusos, hijos de la Revolución, y sus obras, como es natural, son también fruto de la Revolución. La Revista de Occidente publicó hace poco El tren blindado número 14-69, de Vsevolod Ivánov; Caminantes, de Lidia Seifulina; Los tejones, de Leonid Leónov; El farol, de Eugenio Zamiátin. En las Ediciones Biblos apareció Las ciudades y los años, de Konstantín Fedin, y otros como Cemento, que ha hecho gran sensación» (16). La crítica en español Otro factor que se opone a la adecuada difusión de la nueva literatura rusa en el mundo de habla española es la critica un tanto equivocada de los pocos escritores españoles que se ocupan de ella. Esos son los casos de Cristóbal de Castro, de La Libertad, de Madrid, y, en cierta forma, de Ricardo Baeza y Luis de Zulueta, asiduos colaboradores de una publicación española que tiene cierta influencia en la «formación de minorías» en América Latina: la Revista de Occidente. Al igual que los animadores de la Revista de Occidente -que llegan a difundir las obras de Ivánov, Seifulina, Leonov y Zamiátin-, Baeza y Zulueta se interesan por el fenómeno cultural ruso (17). Incluso, en algún momento de su vida -allá en 1922-, el primero de ellos colabora activamente con la misión de socorro que patrocina el explorador y naturalista noruego Fridtjof Nansen con la finalidad de llevar ayuda a los habitantes de Ucrania y el Volga (18). Pero, por sus mismos prejuicios políticos, tanto Baeza como Zulueta no pueden entender ni apreciar adecuadamente las consecuencias del fenómeno bolchevique en el arte. De allí que Mariátegui polemice con ellos en diversas ocasiones. Así, refiriéndose al ensayo «El nuevo teatro en la Rusia soviética», que en 1924 Baeza publica en la Revista de Occidente, Mariátegui escribe: «El lector hispanoamericano -dice- no puede llegar por la sola vía del español a la literatura rusa de la post-guerra. En español, de este tema no nos ha hablado, con conocimiento y con simpatía, sino Julio Alvarez del Vayo. En la Revista de Occidente, Ricardo Baeza dedicó hace algún tiempo un artículo al teatro ruso; pero, aparte de que se limitaba a reflejar las impresiones de un escritor inglés, y de que su evidente humor anti-revolucionario lo inhabilitaba para entender y apreciar las consecuencias del fenómeno bolchevique en el arte, enfocaba en su artículo sólo un género literario, tal vez el que menos ha podido desarrollarse dentro de la situación creada por la Revolución» (19). En otra ocasión, comentando el trabajo «El enigma de Rusia», que en 1926 Zulueta publica en la Revista de Occidente, Mariátegui se ve obligado a refutar la hipótesis de que en el acento apocalíptico y extremista de los bolcheviques se solapa el misticismo y la neurosis de Dostoievski. Su idea es que esta suposición de Zulueta, antes que sustentarse en un estudio sobre la nueva literatura rusa, se apoya en el prejuicioso concepto de José Ortega y Gasset de que la revolución rusa, en el fondo, no es una revolución europea, sino «un misticismo oriental»: «El misticismo, la neurosis, la exasperada búsqueda de infinito y de absoluto, que hallan su más fuerte y patética expresión artística en la obra de Dostoievski -escribe el peruano en 1929, en un artículo sobre un libro que Stefan Zweig le dedica al autor de Los hermanos Karamazov-, eran estimados como los factores morales de la Revolución, que debería a esos factores su acento apocalíptico y extremista. Recuerdo que hace tres años, Luis de Zulueta, en un ensayo de la Revista de Occidente, sobre "El enigma de Rusia", que debía su primera inspiración a Ortega y Gasset, barajaba todavía estos motivos, suscribiendo, a pesar de advertir el programa marxista y occidental de la Revolución, el concepto de Ortega de que ésta "no era, en el fondo, una revolución europea, sino un misticismo oriental"» (20). En otra parte de este mismo artículo, como corrigiéndole la plana a Zulueta y Ortega y Gasset, Mariátegui acota que no existe ningún tipo de vínculo entre Dostoievski y los bolcheviques. Resulta que éstos, al representar la fuerza de una voluntad realizadora y operante, aparecen como la superación de aquello que es tan característico en la novela dostoievskiana: la angustia, la desesperación, el misticismo nihilista. Como él mismo dice: «Dostoievski tradujo en su obra la crisis de la inteligencia rusa, como Lenin y su equipo marxista se encargaron de resolver y superar. Los bolcheviques oponían un realismo activo y práctico al misticismo espirituoso e inconcluyente de la inteligencia dostoievskiana, una voluntad realizadora y operante a su hesitación nihilista y anárquica, una acción concreta y enérgica a su abstractismo divagador, un método científico y experimental a su metafísica sentimental» (21). La situación de Cristóbal de Castro es un tanto diferente a la de Baeza y Zulueta. En su caso, se trata no sólo de simples prejuicios políticos, sino de una franca posición antisoviética. Al menos, eso es lo que se desprende de la lectura de su artículo «El hombre y los ex-hombres», que a mediados de 1928 publica en La Libertad, de Madrid. En este texto, el critico español exhuma las más mendaces versiones acerca de la actitud de Gorki ante los Soviets e incurre en la ligereza de comentar Los Artamonov, su novela más reciente, sin haberse tomado siquiera el trabajo de leerla. Así, en una parte de su trabajo, sostiene equivocadamente que el asunto y los personajes de Los Artamonov tienen que ver con el problema del «comunismo» en Rusia: «En Capri, junto al mar azul -escribe Castro-, el apóstol de los ex-hombres fue metodizando sus cóleras por la reflexión y sus juicios por el documento hasta dar en su libro Los Artamonov, un robusto resumen del comunismo a través de tres generaciones: el mujik, de la época de los siervos; el industrial dilapidador de la época zarista y el revolucionario bolchevique. Generación aldeana y crédula. Generación industrial y ambiciosa. Generación revolucionaria y tiránica. Las tres generaciones de Artamonov no sólo se dañaron a sí mismas, sino que quitaron la fe y la paz a los siervos, a los mujiks, a los obreros de toda Rusia» (22). Casi por la misma época en que La Libertad difunde el mencionado artículo de Castro, Mariátegui termina de leer la traducción al italiano de Los Artamonov, que publica la Editorial Fratelli Treves, y escribe un comentario sobre ella. Se trata de su artículo «La última novela de Máximo Gorki», que el 20 de julio de 1928 aparece en la revista Mundial. Por esa circunstancia, puede percatarse que Castro no ha leído Los Artamonov y lo critica duramente en un trabajo que lleva el título de «Máximo Gorki, Rusia y Cristóbal de Castro», pues considera que no tiene nada de ético aquello de comentar o reseñar libros que no se han leído: «Al revés de Gorki novelista -afirma Mariátegui-, el señor Cristóbal de Castro no ha menester de documentarse para tratar un tema. Tiene la osadía irresponsable del gacetillero para afirmar cualquier cosa, sin ningún temor de engañarse. Le bastan los recuerdos dispersos de sus lecturas apresuradas y vulgares para escribir la historia. Puede trazar la biografía de Gorki, sin haberse acercado jamás a su obra ni a su vida» (23). Por último, referiéndose a cuál es el verdadero argumento de Los Artamonov, Mariátegui agrega: «Y me siento en grado de suponer que el señor Cristóbal de Castro no conoce Los Artamonov sino a través de uno de esos retazos de crónica, recogidos sin ningún discernimiento crítico, de que se sirve generalmente para su trabajo periodístico. Porque en caso de haber leído Los Artamonov, su absurda interpretación lo dejaría en muy mala postura. Resulta que el escritor de La Libertad no sólo está mal informado por gacetilleros presurosos y confusos, sino que es incapaz de informarse mejor por su cuenta. Habría leído Los Artamonov, pero sin entender una palabra del asunto ni de los personajes. Remito a los lectores a mi anterior artículo. Les será fácil enterarse de que ni el asunto ni los personajes de Los Artamonov tienen algo que ver con el comunismo. Las tres generaciones de la familia Artamonov que nos presenta Gorki son tres generaciones burguesas. El fundador de esta precaria dinastía de burgueses de provincia, procede del servicio de un príncipe expropiado. Es un siervo emancipado, como los que se encuentran en los orígenes de la burguesía de otros países. Es un campesino pero no es un mujik. Proviene quizá de una generación aldeana y crédula, pero él mismo no lo es. En él se reconoce, más bien, el impulso creador que mueve el surgimiento de toda burguesía. Toda la obra de la familia Artamonov -una fábrica y su provecho-, es del viejo exdoméstico. De sus hijos, uno le sucede en el comando de la fábrica, el otro, un jorobado, se refugia en un monasterio. Su sobrino, hijo natural de un noble, se prolonga en un industrial de cierta facundia y presunción, contagiado de ideas reformadoras y progresistas, que miran al afianzamiento del poder de la burguesía contra el poder supérstite de la aristocracia. Uno de los Artamonov de la tercera generación repudia la fábrica y la familia. Los repudia por adhesión intelectual al socialismo; pero escapa por este mismo acto al argumento de la novela. Es un personaje ausente, desertor. La ruina de los Artamonov tiene un testigo implacable, el viejo portero Tikhon. Cuando la revolución sobreviene, habla por sus labios. Pero tampoco Tikhon es comunista ni es obrero. No es sino un testigo rencoroso y desilusionado del drama al que le toca asistir» (24). Más cercano de la geología que de la política La importancia que Mariátegui le atribuye a la tarea de la difusión de la nueva literatura rusa, tanto en términos de traducción al español como de una crítica adecuada y oportuna, es una cuestión que se relaciona con su original aproximación al marxismo. Resulta que él está completamente convencido que las realidades sociales también pueden ser abordadas desde el punto de la cultura y desde ese sector tan menospreciado en otras tradiciones marxistas que es la llamada «superestructura», en particular, el mundo de la creación literaria y de la ficción (25). En este caso, se trata de su convicción de que no se puede conocer la nueva Rusia de los Soviets sin conocer su nueva literatura. De allí que glose con fruición a Iliá Ehrenburg y, como algo que seguramente él mismo hubiese querido escribir, repita que «los extranjeros que no conocen la nueva literatura rusa no conocen a la nueva Rusia, pues sólo la literatura, al menos parcial o convencionalmente, podría hacerles comprender el proceso grandioso, más cercano de la Geología que de la política, que se opera en un pueblo de ciento cincuenta millones de almas» (26). Por eso, cuando retorna a Lima -en marzo de 1923-, Mariátegui se vincula a la experiencia de la Universidad Popular «González Prada» y, en las clases que dicta allí, habla no sólo de la crisis de la democracia burguesa y el surgimiento del fascismo, sino también del significado de la revolución rusa. Gracias a lo que explica en sus clases, muchos obreros y estudiantes se familiarizan con una serie de palabras que les eran desconocidas: «Lenin», «Krupskaya», «Lunacharski», «bolchevique», «soviet». Refiriéndose al impacto que provocan las conferencias de Mariátegui, Armando Bazán, que por ese entonces es un joven profesor de la Universidad Popular, escribe: «Actuábamos recuerda- solamente porque era hermoso y arriesgado enseñar por las noches a unos alumnos adultos, que salían sucios, fatigados, pero anhelantes de sus fábricas y de sus tajos; anhelantes por oírles hablar en una sola clase de dos horas largas, del aparato circulatorio, la composición de la luz, las operaciones aritméticas o del destierro de nuestro director, finalizando con un poema de corte más o menos modernista de alguno que otro bardo más o menos melenudo. De vez en cuando, también lucieron en esas clases algunas palabras que ardían como bengalas y que debían manejarse con mucho cuidado; palabras un tanto misteriosas y peligrosas, como "Lenin", "Soviet", "Bolchevique", "Lunacharski", "Krupskaya". Misteriosas bengalas que iluminaron los sueños de esos profesores de veinte años y de esos alumnos, entre los que había más de uno con el cabello ya canoso y la inocencia de un niño» (27). Pero, aparte de aquellas palabras que a Bazán le resultan como bengalas, Mariátegui también introduce otras no menos iluminadoras: «Blok», «Esenin», «Maiakovski», «Bábel», «Gladkov», «nuevo romanticismo», «realismo proletario». Esta situación se aprecia en los artículos que escribe para Mundial y Variedades, donde el tema de la literatura rusa de la revolución ocupa un lugar tan importante como el futurismo italiano, el expresionismo alemán o el surrealismo francés, y motiva algunas de sus páginas más bellas y sugerentes. Dentro de ellos, se pueden mencionar sus semblanzas sobre León Trotski y Anatoli Lunacharski, su ensayo sobre Iliá Ehrenburg, los artículos que dedica a los poetas Alexandr Blok y Serguéi Esenin, y sus comentarios sobre las novelas de Máximo Gorki, Lidia Seifulina, Leonid Leónov, Fedor Gladkov, Konstantín Fedin, Nicolás Ognev y Alexandr Fadéiev (28). Lo mismo se descubre en los diversos números de Amauta -la revista que Mariátegui funda en 1926-, donde los cuentos de Isaak Bábel, para tomar sólo a uno de los exponentes más sobresalientes de la nueva literatura rusa, tienen un espacio tan importante como los dibujos del expresionista George Grosz, los textos del surrealista André Breton o las novedades de las vanguardias artísticas europeas en general. Los otros narradores rusos que son traducidos y publicados en esta revista son Boris Pilniak y Miguel Zoschenko. Además, en Labor, que aparece como una proyección editorial de Amauta, se empieza a publicar, a manera de folletín, la novela Cemento, de Fedor Gladkov. A lo anterior también hay que sumar los ensayos de Iliá Ehrenburg y Anatoli Lunacharski sobre el proceso de la literatura rusa de la revolución que Amauta incluye en sus páginas (29). Otro tanto ocurre en las tertulias que Mariátegui anima en su casa, en el jirón Washington, en el acogedor «rincón rojo», donde, además de Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Erich Maria Remarque, Óscar Wilde, Bernard Shaw, Igor Stravinski, Pablo Picasso o los surrealistas, también conversa de Anatoli Lunacharski, Iliá Ehrenburg, Boris Pilniak, Alexandr Blok o Vladímir Maiakovski (30). Con el tiempo, las diversas iniciativas que Mariátegui toma para difundir a la literatura rusa de la revolución se reflejan en el gusto y las preferencias literarias de los diversos grupos intelectuales de Lima y provincias. Así, si nos guiamos por el testimonio de Luis Alberto Sánchez, se descubre cómo muchos de los más conspicuos representantes de la nueva literatura rusa, como Fedor Gladkov, Leonid Leónov, Eugenio Zamiátin o Alexandr Fadéiev, son incorporados con rapidez en el firmamento referencial de los vanguardistas peruanos y acaban disputando devociones, preferencias y simpatías con Jean Cocteau, Salvador Novo o Jorge Luis Borges (31) Esta especial atmósfera intelectual es la que también explica por qué una revista como el Mercurio Peruano, que nada tiene que ver con las vanguardias, termina interesándose en la literatura rusa de la revolución y, en 1927, con ocasión del décimo aniversario de la Revolución de Octubre, publica una selección -preparada por el poeta Alberto Uretadonde figuran «La canción del perro» de Serguéi Esenin y algunos versos de Los doce de Alexandr Blok y Aventura extraordinaria de Vladímir Maiakovski (32). De este modo, gracias al noble esfuerzo de Mariátegui, la literatura rusa de la revolución logra conquistar un lugar bajo el sol del nuevo ciclo de cosmopolitización -internacionalización o modernización, como ahora se dice- que experimenta la cultura peruana en la década de 1920. NOTAS (1) Mariátegui, José Carlos: «La nueva literatura rusa», Variedades, Lima, 20 de marzo de 1926, en El artista y la época, 12º Edición, Lima, Biblioteca Amauta, 1987, pág. 158. (2) Carta de José Carlos Mariátegui a Ricardo Vegas García (11 de mayo de 1925), en Mariátegui, José Carlos: Correspondencia (Introducción, compilación y notas de Antonio Melis), Lima, Biblioteca Amauta, 1984, tomo I, pág. 82. (3) Ver Cornwell, Neil (Ed.): Reference Guide to Russian Literature, Chicago, Fitzroy Dearborn Publishers, 1998, págs. 110114. (4) Ibíd., págs. 118-120. (5) Alberti, Rafael: La arboleda perdiada. Primero y Segundo libros (1902-1931), Madrid, Alianza Editorial, 1998, pág. 178. (6) Teitelboim, Volodia: El corazón escrito. Una lectura latinoamericana de la literatura rusa y soviética, Moscú, Editorial Ráduga, 1986, pág. 213. (7) Mariátegui, José Carlos: «Instantáneas», Variedades, Lima, 26 de mayo de 1923, en La novela y la vida, 11º Edición, Lima, Biblioteca Amauta, 1985, pág. 139. (8) Mariátegui, José Carlos: «Miguel Arzibachev», Variedades, Lima, 16 de abril de 1927, en Signos y obras, 3º Edición, Lima, Biblioteca Amauta, 1971, pág. 95. (9) Ibíd., pág. 96. (10) Ibíd., págs. 96-97. (11) Ibíd., pág. 95. (12) Ver Alvarez del Vayo, Julio: La nueva Rusia, Madrid, EspasaCalpe, 1926, págs. 232-241. (13) Mariátegui, José Carlos: «Caminantes, por Lidia Seifulina», Variedades, Lima, 15 de enero de 1927, en Signos y obras, págs. 91-92. (14) Ver Schanzer, George D.: Russian Literature un the Hispanic World: A Bibliography, University of Toronto Press, 1972. (15) Ver Alvarez del Vayo, Julio: Rusia los doce años, Madrid, Espasa-Calpe, 1929, págs. 87 y siguientes. (16) Portnoff, George: La literatura rusa en España, New York, Instituto de las Españas, 1932, pág. 47. (17) López Campillo, Evelyne: La «Revista de Occidente» y la formación de minorías, Madrid, Taurus, 1972, pág. 121 y sgts. (18) Alvarez del Vayo, Julio: La nueva Rusia, pág. 49. (19) Mariátegui, José Carlos: «La nueva literatura rusa»,en El artista y la época, págs. 158-159. (20) Mariátegui, José Carlos: «La Rusia de Dostoievski. A propósito del libro de Stefan Zweig», en El artista y la época, pág. 166. (21) Ibíd., págs. 166-167. (22) Citado en Mariátegui, José Carlos: «Máximo Gorki, Rusia y Cristóbal de Castro», Variedades, Lima, 3 de agosto de 1928, en Signos y obras, pág. 89-90. (23) Ibíd, pág. 89. (24) Ibíd, págs. 90-91. (25) Flores Galindo, Alberto: «Para situar a Mariátegui», en Adrianzén, Alberto (Ed.): Pensamiento político peruano, Lima, Desco, 1987, pág. 207. (26) Mariátegui, José Carlos: «La nueva literatura rusa», en El artista y la época, pág. 158. (27) Bazán, Armando: Biografía de José Carlos Mariátegui, Santiago, Zig-Zag, 1939, pág. 94. (28) Ver Mariátegui, José Carlos: «Máximo Gorki y Rusia», Variedades, Lima, 27 de octubre de 1923; «Trotski», Variedades, Lima, 19 de abril de 1924; «Lunacharski», Variedades, Lima, 15 de febrero de 1925; «Alexandr Blok», Variedades, Lima, 19 de setiembre de 1925; «La nueva literatura rusa», Variedades, Lima, 20 de marzo de 1926; «Caminantes, por Lidia Seifulina», Variedades, Lima, 15 de enero de 1927; «Leonid Leónov», Variedades, Lima, 26 de febrero de 1927; «Sergio Esenin», Variedades, Lima, 1º de octubre de 1927; «La última novela de Máximo Gorki», Mundial, Lima, 20 de julio de 1928; «Máximo Gorki, Rusia y Cristóbal de Castro», Mundial, Lima, 3 de agosto de 1928; «El centenario de Tolstói», Variedades, Lima, 15 de setiembre de 1928; «Cemento, por Fedor Gladkov», Variedades, Lima, 20 de marzo de 1929 Edición, Lima, Biblioteca Amauta, 1987,; «La Rusia de Dostoievski. A propósito del libro de Stefan Zweig», Variedades, Lima, 10 de abril de 1929; «Los mujics, por Konstantín Fedin», Variedades, Lima, 8 de mayo de 1929; «Rusia a los doce años», Variedades, Lima, 10 de julio de 1929; «Teatro, cine y literatura rusa», Mundial, Lima, 19 de julio de 1929; «El diario de Kostia Riabtzev», Variedades, Lima, 14 de agosto de 1929; «La derrota, por A. Fadéiev», Variedades, Lima, 25 de diciembre de 1929; y «El realismo en la literatura rusa», Variedades, Lima, 7 de enero de 1930. (29) Ver Ehrenburg, Iliá: «La literatura rusa de la revolución», Amauta,Nº 3, Lima, noviembre de 1926; Pilniak, Boris: «Arina», Amauta, Nº 3, Lima, noviembre de 1926; Bábel, Isaak: «La sal», Amauta, II, Nº 6, Lima, febrero de 1927, y «La carta», Amauta, Nº 7, Lima, marzo de 1927; Zoschenko, Miguel: «Una noche terrible», Amauta, Nº 9, Lima, mayo de 1927 yNº 10, Lima, diciembre de 1927; Lunacharski, Anatoli: «El desarrollo de la literatura soviética», Amauta, Nº 20, Lima, enero de 1929; y Gladkov, Fedor: Cemento, Labor, Nº 10, Lima, setiembre de 1929. (30) Miró, César: Testimonio y recaudo de José Carlos Mariátegui, Lima, Editora Amauta, 1994, págs. 23-24 y 28. (31) Sánchez, Luis Alberto: Testimonio personal. Memorias de un peruano del siglo XX, tomo I, pág. 207. (32) Ureta, Alberto: «La poesía rusa contemporánea», Mercurio Peruano, XVI, Lima, 1927, págs. 429-441. [Texto originalmente publicado em La Hoja Latinoamericana # 84 (Uppsala, abril/junio de 2003), com o título "José Carlos Mariátegui, Amauta y la literatura rusa de la revolución".] . jornal de poesia triplov alô música . revistas em destaque .. portal de poesía contemporánea (espanha) depoimento de maría martín arévalo El Portal de Poesía Contemporánea de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes incluye las creaciones poéticas más crecientes de autores iberoamericanos. Uno de sus rasgos diferenciadores es que además de textos, ofrece la posibilidad de escuchar a los propios autores recitando sus versos, de verlos en algunas lecturas e incluso de conocer cómo son y qué piensan a través de entrevistas personalizadas. El Portal de Poesía Contemporánea es uno de los 20 portales temáticos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, una biblioteca digital que nació en julio de 1999 con el objetivo de publicar en formato digital obras, estudios y documentos relacionados con las culturas hispánicas. Aunque la base es la literatura, también se ofrecen materiales relacionados con la historia, el arte, la política,... Para conseguir este propósito, “la Biblioteca se ha convertido en un centro de estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que ya la sitúan a la vanguardia de las bibliotecas digitales”, explica su director, el catedrático de historia Emilio La Parra. Creada bajo el auspicio de la Universidad de Alicante, en España, las coordenadas de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes las rige el Patronato de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. El Portal de Poesía Contemporánea cuenta con un catálogo de más de 60 autores iberoamericanos. Según la coordinadora del Portal, María Martín, “el rasgo diferenciador del Portal de Poesía Contemporánea y de toda la Biblioteca Virtual, es que a los textos añade, imágenes, voces, sonidos, vídeos, etc, lo que completa más la visión que aportamos de cada uno de los autores”. “Es -asegura- una nueva forma de leer poesía”. El Portal de Poesía Contemporánea pretende convertirse, más que en una antología, en un diccionario poético contemporáneo multimedia, virtual y gratuito. En la actualidad el Portal une la poesía que se está haciendo en España y en América Latina y aglutina a autores que escriben tanto en castellano como en otras lenguas autóctonas como pueden ser el catalán, el gallego o el mapudungún, además de incluir algunas traducciones en portugués. En su catálogo de autores se puede encontrar desde a los grandes premiados del siglo XX como Pablo Neruda o Gabriela Mistral hasta los jóvenes, estimados o controvertidos como Carlos Marzal, Oliverio Girando, Gonzalo Rojas, Dulce María Loynáz, Mario Benedetti, Ángel Gozález, José Hierro o Nicanor Parra. Muy pronto la obra de autores como Manuel Álvarez Ortega, Marcos Ana, Aurora Luque o Luís García Montero estarán disponibles en el Portal. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el Portal de Poesía Contemporánea es la dificultad de contactar con los autores o los herederos legales de sus derechos. Por eso, la mayor parte de los poetas publicados son españoles, ya que la sede física de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes está en el Campus de la Universidad de Alicante, en la costa mediterránea española. “Somos extremadamente escrupulosos con el respeto a los derechos de autor, por lo que no se publica nada que cuente con una cesión firmada”, explica la coordinadora del portal. María Martín afirma que diariamente se reciben sugerencias y peticiones a través del correo que el Portal tiene habilitado en su página de inicio. “Es muy útil porque una pista lleva a otra y al final logramos contactar con muchos autores, lo que sin la ayuda de otros poetas, editores o usuarios sería imposible”. El Portal de Poesía empezó a funcionar en noviembre de 2002 y a fecha de agosto de 2004 ya había recibido 387.482 visitas. Autores como Manuel Gahete (Córdoba-España) han dicho del Portal de Poesía que es “una manera perfecta de acercarnos a nuevos creadores, tanto por recientes como por no conocidos” y lo ha descrito como “un oasis de luz, más que necesario” para la poesía. Por su parte, Jesús Munárriz, poeta y director de la editorial Hiperión, ha alabado el proyecto por permitir “leer y escuchar de una a los autores y a sus versos”. Para el argentino Claudio Serra Brun, cervantesvirtual.com está haciendo “una gran labor de comunicación vía Internet entre los 22 países que disfrutamos de nuestra lengua hispana”. Y es que el Portal de Poesía Contemporánea permite a usuarios y creadores, participar en foros de libre expresión para debatir sobre textos, autores u obras, estableciendo un feedback más que necesario entre los amantes de la poesía. María Martín Arévalo Coordinadora del Portal de Poesía Contemporánea Realizadora de la Unidad Audiovisual y Área de Comunicación y Atención al Usuario E-mail: [email protected] Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Universidad de Alicante. Edificio Nuevos Institutos Campus de San Vicente del Raspeig Apdo Correos, 99 E-03080 Alicante . . revistas em destaque alforja (méxico) diálogo entre josé vicente anaya, josé ángel leyva & floriano martins FM - Como surge alforja, motivada por qual desejo? Falem um pouco dessa Fraternidad Universal de los Poetas. José Vicente Anaya – La revista de poesía alforja tuvo dos inicios frustrados, antes del tercero que la dio a luz en la primavera de 1997. Por 1987 convoqué a varios poetas para proponerles una revista de poesía (teniendo ya pensado el nombre de alforja como referencia a la utopía de los poetas y filósofos cínicos de la antigua Grecia, habiendo reunido los materiales que conformaron la mayor parte del que saldría impreso como número 1 y hasta las ilutraciones del dibujante Eko —cuyas ilustraciones utilizamos hasta que armamos el número 11— con la idea de que cada número fuera ilustrado por un pintor diferente como muestra de que la imagen del artista es poesía visual). Tanto en la primera como en la segunda convocatoria (ésta por 1992) los poetas convocados no hicieron nada para llevar a cabo el plan. Fue entonces que en los últimos meses de 1996 los poetas convocados trabajaron con mayor compromiso y decisión para resolver los problemas materiales que implican publicar un libro (pues alforja tiene formato de libro) cada tres meses, es decir, por cada estación del año, como lo estamos haciendo hasta ahora. Así, alforja REVISTA DE POESÍA nació primeramente con la idea de que la poesía es un territorio de la imaginación, pero vivible, y desde este punto de vista es una utopía llevada a la realidad. A ese territorio, que se diferencia y contrasta con los territorios pedestres, es invitada toda la gente que lo escribe y que lo lee. Por esto, queremos que en la revista se expresen todas las voces de quienes escriben y quienes leen poesía, todas las voces de todas las culturas y lenguas. Queremos propiciar la diversidad en todos los aspectos y sentidos, ya que el mundo y la vida no pueden estar reducidos a una sola vía, y al promover la diversidad estamos planteando un mundo completamente opuesto a todo reduccionismo como el de las vanguardias o fundamentalismos en boga. Cuando nació alforja no había en México ninguna otra revista dedicada exclusivamente a la poesía y con formato de libro, características que pretenden darle a la poesía un lugar distintivo en tanto arte de los más grandes. Sólo teníamos un antecedente: la revista El Corno Emplumado, y aunque que feneció allá por 1968 fue una publicación que unió y divulgó a poetas de todo el continente americano sin que faltaran europeos, africanos y asiáticos. Esta revista era nuestro único antecedente y buen ejemplo. Ahora ya existen por lo menos otras tres revistas con formato semejante. En El Corno Emplumado recuerdo cartas de poetas de múltiples países, y que en unade ellas se mencionaba que los poetas de todo el mundo somos hermanos (y es cierto que los hermanos de sangre también son diferentes entre sí y hasta pelean, ¿verdad?). Esta idea de hermandad la comparto y creo que es una de las pocas hermandades que han traído cosas buenas al mundo, es por eso que yo propuse declarar a alforja como una revista de la Fraternidad Universal de los Poetas. la mirada. José Ángel Leyva – En mi caso parte del anhelo de la lectura, de la inmensa necesidad de contagiar a los otros con la fascinación por la palabra que persigue la poesía. Quizás también por compartir un territorio sin dueño donde el único poder que domina es el de abrir puertas que dan hacia sin ningún lado, o por lo menos no hacia un lugar predecible. El tiempo en esa medida tiene perspectiva, y la muerte no es un muro que se topa a cada segundo con No estoy de acuerdo con Antonio Gamoneda cuando expresa que la razón de ser de la poesía sea la muerte, ni siquiera el trascenderla. Es la vida, en sus contenidos de dolor y de placer, de tragedia y de júbilo, de gozo y de pena. La poesía nos recuerda que vivimos y nos enseña, al tiempo que nos refresca, los motivos de este efímero tránsito. El poeta Nezahualcóyotl expresa ese sentimiento en un contexto prehispánico donde la Guerra Florida es parte de un ritual no para invocar la muerte, sino para cultivar, con sangre si se quiere, con el cautiverio y sacrificio de unos y de otros bandos, la existencia humana, la vida de la naturaleza. El cuerpo de Cristo de la comunión cristiana es su equivalente, un oximoron: el tiempo que se alimenta de la digestión simbólica de la inexistencia, del cuerpo torturado del Salvador, de su sangre y de su carne, es decir, del sacrificio. La poesía en ese sentido canta a la generosidad de la vida y nos revela también la dimensión del dolor, del olvido, de la estupidez, de nuestra insignificancia ante el tamaño del Universo, y al mismo tiempo de ese Yo que los románticos advertían en su integración cósmica. Me parece entonces que la fraternidad poética se da, desde mi punto de vista, en esa perspectiva de la generosidad, del anhelo de compartir las emociones que nos brinda la conciencia, los sentidos despiertos, la capacidad de soñar y de imaginar mundos alternos. También de construirlos. Hacer más público lo público, ampliar su radio de acción y de presencia. Una revista nos acerca no sólo a los libros y a sus autores, sino también a los acontecimientos y a los fenómenos relacionados con la materia que tratan dichos temas, al movimiento tangible de la historia de la emociones, de la cultura, de las mentalidades, de la palabra. alforja en ese sentido era, y es, para mí, la oportunidad de poner en práctica mis convicciones literarias más allá de mi propia sombra, de mi imagen narcisista, es la complicidad con otros poetas que, como yo, pretenden buscarle las costillas a la poesía y a los poetas, a los lectores para abrir nuevos horizontes y derrocar a la complacencia y la certidumbre. José Vicente Anaya es un especialista en eso. A mí sólo hay que buscarme un poco. Y José Vicente me encontró en 1984, cuando me propuso hacer un revista de poesía. Pero tardé en tomarle la palabra hasta 1996, tiempo en el que me sentía menos ilegítimo para una responsabilidad de tales exigencias. José Vicente fue, en ese sentido, el motor de ese comienzo y la energía que le da permanencia. FM – Como funciona alforja (estrutura financeira, distribuição, equipe, definição de pauta, relação com colaboradores etc.)? JVA – Nace alforja y se desarrolla enfrentando todas las dificultades típicas para conseguir el necesario dinero que cobra toda imprenta. Al principio los mismos miembros de la revista tuvimos que cooperar para los gastos de edición (aunque, como siempre sucede, algunas personas no aportaron nada, ni dinero ni poemas...). El pintor que lo ilustró el primer número, Gilberto Aceves Navarro, muy entusiasta en los proyectos artísticos y a quien hasta hoy en día le estoy muy agradecido, realizó un grabado cuyos cien ejemplares nos entregó para que los vendiéramos a precios módicos, más baratos que los precios de galería, con el fin de que de esa manera pudiéramos tener una entrada de dinero y así seguir publicando la revista; Gilberto nos aconsejó que hiciéramos esta propuesta a los pintores que aceptaran ilustrar la revista, y sin que sea una condición inmutable, la mayoría de los artistas plásticos han sido muy solidarios con alforja y la divulgación de la poesía en ese sentido. Al paso del tiempo hemos recibido dos veces el apoyo por un año para revistas independientes, que otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y si no es una cantidad que cubre todos los costos de impresión sí ha sido una ayuda que cubre al menos una tercera parte de los costos. También del Conaculta recibimos el apoyo para publicar ocho libros de poesía. Los problemas financieros no han estado ausentes en varias ocasiones. En el último año logramos un convenio de coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana, y esto también nos ha salvado de la desaparición, de tal manera que ya estamos circulando con el número 30 dedicado a poetas rusos contemporáneos. No hemos logrado acumular un fondo de dinero, aunque lo deseamos, con el fin de pagar las colaboraciones, por lo cual hasta ahora quienes publican con nosotros reciben como pago ejemplares de la revista. JAL – Nadie sabe, mejor que tú cómo funcionan estos proyectos editoriales, con las uñas, con el hígado, con el corazón, con lo que tengas a la mano para empujar la piedra por la pendiente. Sí, como Sísifo. La espalda te duele no por el esfuerzo sino por las palmadas que te dan los animadores, los escépticos, los que desean tu fracaso, los que se montan en las acciones para salir en la foto, los que te adulan y los que te denostan. En fin, la espalda duele de cargar esas manos y sus resistencias. En el camino ha quedado mucha gente que ha visto a alforja no como un trabajo colectivo sino como la vía, el instrumento de su propia proyección. Somos muy pocos los que hacemos el trabajo cotidiano, el trabajo duro, la limpieza y la decoración, la reparación, la planeación y la recolección, la búsqueda de recursos para la sobrevivencia. Para no decir nombres, digamos que somos tres o cuatro, máximo cinco quienes conformamos ese núcleo de trabajo que va más allá de lo editorial. Pero debemos reconocer que hay muchas manos que también hacen su aporte y ponen su palanca para empujar la piedra hacia arriba. Todas esas manos tienen dueño, las hay en todo Brasil, y en particular en Fortaleza. Hoy en día el Consejo Editorial participa de manera más activa, más propositiva. Tiene mucho que ver el peso de sus nombres, pero también su confianza en alforja. Una ayuda fundamental, o digamos alianza estratégica, es la que establecimos con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), gracias a la inteligente visión de Luis Ignacio Sáinz, director de Difusión Cultural, quien nos introduce al corredor universitario, pone en el contexto de la UAM una publicación de poesía que le cuesta únicamente la impresión y deja en libertad absoluta al núcleo directivo hacer su trabajo editorial, que ya demostró saber hacerlo. Este respeto a nuestra autonomía en los contenidos y en las políticas editoriales, determinadas en última instancia por sus consejos Editorial y de Colaboradores, y obviamente por sus lectores, es lo que más defendemos. Así, la UAM distribuye una parte y nosotros la otra mediante diversos mecanismos, uno de ellos de corte muy activista es el de los representantes. El resto fluye por las librerías. Ya estamos, por cierto en la red. FM - De que maneira o Estado mexicano tem atuado na subvenção de projetos editoriais e qual tem sido o resultado dessa atuação? JVA – Ya lo dije al mencionar el apoyo del Conaculta. Aclarando que al tratarse de una revista independiente, no hemos tenido ninguna presión ni imposición (y no lo podríamos aceptar por nuestro espíritu libertario) sobre los temas o autores que publicamos, yesta es y será condición sine qua non para aceptar cualquier tipode apoyo. JAL – Bueno, es un buen sistema de apoyo para las llamadas revistas independientes; a cambio piden unicamente espacio para la publicidad oficial relacionada con información literaria o artítica. Son nuestros impuestos, desde luego, pero debemos reconocer que esos fondos económicos destinados a apoyar a las publicaciones periódicas son muy útiles, sobre todo en momentos de asfixia material. Es decir, que no tienes para pagar el papel y la impresión. Muchas veces esos apoyos no te alcanzan para adquirir los insumos necesarios, pero reducen la onerosa cuota que los editores deben de pagar de sus bolsillos para mantener a flote la revista. Si hubiese un público lector no requeriríamos esas ayudas, pero no hay mercado y eso nos pone contra el muro. Así que el Estado nos “remunera” de algún modo y de manera parcial, la labor que hacemos para fomentar la lectura. Visto desde otro plano, el Estado mexicano pone un poco de gasolina para que le demos movimiento a su programa. FM – E qual tem sido a recepção crítica da revista, dentro e fora do México, incluindo eventuais cumplicidades com editores de outras publicações similares? JVA – De manera dispersa en la prensa mexicana han aparecido algunos comentarios favorables y reseñas breves sobre alforja. Sin embargo, en el status quo de la cultura se ha mostrado un silencio profundo, de lo cual se deduce que experimentan cierto miedo a la aparición de una revista independiente que no se ciñe a sus gustos, pretencionesy adoraciones; lo cual es un verdadero elogio para el trabajo de difusión que hemos realizado con nuestra revista. El hecho es que alforja existe y ya ha demostrado que sabe persistir, por lo cual ya tiene un lugar determinante en la cultura mexicana sin que sea ajena a lectores y poetas de muchos países donde no sólo la han leído sino que incluso han colaborado con trabajos muy importantes como las muestras de poesía brasileña (con la entusiasta colaboración de Floriano Martins), poesía griega, colombiana, chilena, española, chipriota, ecuatoriana, etc. También de manera dispersa muchos escritores mexicanos han reconocido y bien ponderado el trabajo de divulgación hecho en nuestra revista, pero ha sido sólo oralmente, en conversaciones aisladas, es decir que no lo han publicado. FM –alforja tem mostrado atenção em relação ao que se passa com a poesia em outros países, sempre dedicando suas páginas de maneira substanciosa à difusão dessa poesia. Trata-se, portanto, de projeto aberto e consciente de sua responsabilidade no entrelaçamento de experiências culturais que extrapolem a barreira dos nacionalismos. De que maneira este assunto é compreendido pelos editores de alforja, sobre a função que desempenham editores de revistas, observando a ambigüidade de uma universalização da cultura hoje tão evocada? JVA – Igual que con la idea de la Fraternidad Universal de los Poetas, estoy convencido de que todas las revistas dedicadas a la poesía en todos los países y lenguas son hermanas de alforja. Todas las revistas de poesía son los ríos que van a dar al mismo mar de la vida. Formamos redes innumerables cuyos caminos muchas veces se cruzan. JAL – No sólo consideramos la necesidad de asomarnos al quehacer literario en otras latitudes, lenguas, culturas, regiones, épocas, sino que no concebimos el desarrollo de la poesía sin esos nexos, sin ese conocimiento cada vez más amplio y profundo de la poesía desde diversas perspectivas humanas que, quizás, no encontremos en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestro continente, si no nos asomamos por la ventanas de nuestra curiosidad, de nuestra percepción. Es necesario romper el cerco de la autorreferencia, de la provincialidad para crear nuevos paradigmas y ejercicios de trasgresión dirigida. El cambio no está sólo en lo nuevo, también se halla en lo viejo que no ha sido descubierto, descifrado en su dimensión estética y poética. Pero la apertura hacia el exterior no puede existir si antes no hay disposición a abrirse caminos desde dentro, o por lo menos que haya el camino para retornar con ánimo de transformación, de ampliación de criterios. Parecería que ser abiertos es aceptar exclusivamente los cánones europeos o estadounidenses pues todo lo demás es étnico, local. Pero pensemos por ejemplo que un Chaac Mol es una escultura singular en un mundo histórico, el maya, pero la pieza escultórica de Henry Moore, basada en esa imagen, es una propuesta novedosa en el plano estético. Ningún escultor mexicano la actualizó tanto como ese artista extranjero que tenía una gran capacidad de digerir la cultura en general. Esa misma capacidad no sólo de fagocitar, sino de digerir bien, de aprovechar los nutrimentos que se mueven en un mundo globalizado es que nos coloca en la posibilidad de ser más universales desde nuestra localidad. Por otro lado, no podríamos hacer esta labor si no contáramos con la participación y la complicidad de otros actores que hacen lo propio en sus respectivos países. Son, digamos, conexiones dendríticas, neuronales, telepáticas, sobre todo ahora que nos movemos en la Red. FM – O que pensam da idéia de criação de um fórum permanente de debates, entre editores de revistas, através da Internet? JVA – Esa es una idea que va muy bien con el espíritu de diálogo y crítica que también promulgamos en alforja como una necesidad para que las ideas sustanciosas y nuevas fluyan y despierten a este aletargado mundo. JAL – Magnífico ¿Cuándo empezamos? FM – Tribuna livre, para o que queiram comentar: JVA – Una invitación a todos los escritores y lectores de poesía para que contribuyan, en todos los ámbitos y de todas las formas, a vivir, convivir y extender el territoriuo de la poesía. JAL – Sí, es bueno ampliar los espacios para la conversación, para el flujo interactivo del pensamiento, como este que sostenemos contigo y con muchas almas en llamas que no cesan de trabajar por ese motivo llamado poesía, arte, vida. alforja es una revista de la Fraternidad Universal de los Poetas. e-mail: [email protected] página em Internet: www.alforjapoesia.com Para suscribirse hacer depósito bancario en Bital cuenta núm. 4015433113, sucursal Coyoacán, Ciudad de México, por la cantidad correspondiente (a nombre de Alforja Arte y Literatura, A.C.) Enviar comprobante o giro postal alforja: Copilco 300, edif. 2, depto. 503, Col. Copilco Universidad, Del. Coyoacán, C.P. 04360, México, D.F. Fax: 5554 5309. Correo Aéreo Nacional $ 85.00 M.N. ejemplar $ 320.00 M.N. suscripción anual Internacional $ 13.00 USD ejemplar $ 47.00 USD suscripción anual . revistas em destaque capitu (brasil) diálogo entre edson cruz & floriano martins FM - Quando surgiu Capitu e em quais circunstâncias editoriais? Edson Cruz – O Capitu surgiu, sem muita pretensão, de um desejo do Cakko (que ainda é o administrador do site) em fazer uma retrospectiva dos principais autores da literatura brasileira em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Ele ia reproduzir verbetes da enciclopédia Nova Cultural. Depois do trabalho pronto a editora não autorizou, é claro! O espaço estava criado e algumas pessoas se interessaram em colaborar. Um grande portal da época (4 anos atrás) o Zipnet quis hospedá-lo e a partir daí começou-se a fazer Chats com escritores e críticos. O portal tinha trânsito em quase todos os países de língua portuguesa. Foram feitos mais de 20 Chats, com repercussão em Macau, Angola, Moçambique e Portugal. Principalmente depois que o site passou para a Terra Vista Portugal, outro grande provedor. A preocupação com lançamentos veio depois e muitas pessoas vieram para agregar valor ao projeto. FM - Qual a razão de seu nome? EC – O Cakko desejava um nome que não fosse ponto com. A febre do momento. Como se tratava de literatura pensou num escritor representativo. Chegou a Machado de Assis e daí à sua personagem mais enigmática: Capitu. Tinha que ser feminino, também. Ou seja, o Capitu é o resultado de muitos ‘acasos’, se é que isto existe. As coisas foram acontecendo espontaneamente, sem muito planejamento. Com relação ao nome, cá pra nós, foi um achado de muita felicidade. FM - Como o sítio convive com outros projetos similares em todo o país? EC – Acho que estamos na vanguarda de um novo tempo para as letras em geral. Temos que trabalhar em conjunto e com camaradagem. O Capitu busca o diálogo e o intercâmbio com todos os projetos feitos com seriedade e qualidade. Temos colaboradores no Brasil inteiro, e em nossas matérias não vemos problema nenhum em ilustrá-las com links, fotos, textos de outros sítios. É como se expandíssemos exponencialmente as possibilidades virtuais da informação e da ação. Quer coisa mais bonita do que um texto sobre Cortázar, escrito por um brasileiro, que te remete aos textos originais de Cortázar disponíveis em sítios da língua pátria de Cortázar? É isto que o Capitu vem fazendo. Uma resenha não precisa ser burocraticamente profissional. Pode ter sim mais que 40 linhas. Pode ter imagens, desenhos, teses, intervenções poéticas e informar. Por que não? FM - Qual a situação atual do sítio, em termos de conquistas, dificuldades, novos planos etc.? EC – Estamos em um novo momento e partindo para um grande desafio que é ter nossa própria livraria. Muitos sites surgiram e a maioria saiu do ar ou vive no anonimato. O Capitu conseguiu estabilidade num grande portal e chega a sua maturidade sem estar preso a nenhuma corporação de mídia. Vamos ser (pelo que eu saiba) o primeiro site de conteúdo que possue seu próprio comércio eletrônico. O que vai nos dar solidez e total independência. Vamos reunir uma comunidade literária, já formada e crítica, a possibilidade de convivência com grandes e pequenas editoras e autores. O conteúdo sempre foi nosso diferencial e continuará a sê-lo. A literatura é a flor da cultura e com ela podemos sentir o aroma de várias manifestações estéticas. É isso que queremos. Ampliar nossa apreensão do mundo e da vida através do olhar estético que a literatura nos permite. FM – Capitu circula apenas em módulo virtual ou há também uma versão impressa? EC –O Capitu é um projeto virtual. Queremos mergulhar neste universo espectral que são os módulos virtuais e expandi-lo ao limite de outras galáxias e civilizações. Mas, como sabemos que o ser humano gosta do cheiro do papel e de exercitar o tato, estamos lançando nossa revista literária, Mnemozine, que embora virtual, prevejo uma versão impressa mais para frente. Devo dizer que a Revista Mnemozine, embora no Capitu, tem voz própria e será capitaneada por mim e pelo poeta e editor, Marcelo Tápia,com trabalho gráfico exuberante do Pipol. FM - Como funciona sua difusão? EC – O Capitu está hospedado no UOL, e isso nos dá uma visibilidade que às vezes chega a assustar. Não temos patrocínio nem pagamos nenhum tipo de marketing. O site corre no boca-a-boca, ou melhor seria dizer, de micro-a-micro. Temos um mailing de umas 10 mil pessoas que são leitores ativos do site. Além disso soubemos utilizar o BlogCapitu (agora Blablablog, parodiando o título de uma matéria de Nelson de Oliveira) para gerar debates, manifestações, divulgações e alimentar uma comunidade literária que se espalha pela América do Sul. Nosso sonho é chegarmos a dialogar em todos os níveis com nossos hermanos da América, assim como, com toda a comunidade de língua portuguesa no mundo. Ambicioso, mas possível. Está dentro dos limites que a ferramenta nos oferece. Temos que usá-la. FM - Como vês as possibilidades da Internet como ferramenta aplicada à cultura? EC – As possibilidades, por enquanto, são infinitas. É uma ferramenta revolucionária que deve ser usada com criatividade, ousadia e critérios. Não há limites de páginas. Não precisa se esperar pela vontade da editora. Não precisa pedir autorização da academia. Todos os limites podem ser rompidos e milhares de pessoas podem acessar o que se veicula no tempo de um piscar de olhos. O único alicerce seguro para que a casa não caia em nossas cabeças é a diversidade de opiniões e conceitos, aliado a um critério de qualidade e profundidade. Se nivelar por baixo, a meu ver, não dura. Pode até explodir em louros e aplausos públicos, mas não dura. Sem consistência do início ao fim não há permanência. Editor: Edson Cruz Rua Prof. Túlio Ascarelli, 132 casa 2 - Vila Madalena São Paulo, SP 05449-020 BRASIL E-mail: [email protected] http://capitu.uol.com.br/ . . revistas em destaque común presencia (colombia) diálogo entre gonzalo márquez cristo, amparo osorio & floriano martins FM - Quando surgiu Común Presencia e em quais circunstâncias editoriais? Gonzalo Márquez Cristo - En 1989, como una opción sensible, necesaria en un país asediado por la guerra y por los manejos excluyentes de la cultura oficial. Así, sin ningún apoyo institucional ni oficial hemos llegado al número 16 y en sus páginas han aparecido entrevistas a grandes escritores y pintores universales, realizadas todas personalmente, y a su lado traducciones de poetas poco conocidos en nuestro medio. Amparo Osorio – No ha sido fácil sacar adelante una Revista que no se parece a ninguna de las publicadas en nuestro medio. Las circunstancias editoriales han sido difíciles y casi siempre se termina publicando con recursos propios. Pero sin duda desde su primera aparición ha creado una secta de seguidores. FM - Qual a razão de seu nome? GMC - Rendir un homenaje al gran poeta francés René Char, cuya poesía filosófica siempre nos ha deslumbrado. Y proponer una común presencia, urgente para enfrentar la destrucción, la desolación y la desesperanza. AO – Como afirma Gonzalo Márquez, es concitar una obra cumbre de un poeta que como René Char siempre estará entre nosotros FM - Como a revista convive com outros projetos similares em todo o país? GMC – Cada publicación tiene su espacio definido. La nuestra de periodicidad “esporádica”, propone llevar al lector el pensamiento de creadores a través de las más de 30 entrevistas que han aparecido en sus páginas y la poesía reflexiva de autores de otras lenguas (portuguesa, francesa, italiana, inglesa…) que no han tenido difusión en Hispanoamérica. AO – Común Presencia es una revista que ofrece otros matices diferentes a las tradicionales publicaciones de Colombia. Quizá eso la hace diferente, pues su médula principal es la poesía y aunque abarca todos los géneros literarios, nunca se ha propuesto dar cabida a las nuevas tendencias light que tanto afectan al arte actual y por consiguiente a muchas publicaciones que no teniendo nada que decir, acuden al facilismo y a la frivolidad. FM - Qual a situação atual da revista, em termos de conquistas, dificuldades, novos planos etc.? GMC – La situación de la revista siempre es crítica. Creemos que cada número es el último y eso que pareciera ser un hecho desdichado es también propicio, pues esa suerte agónica nos condena a ser muy exigentes en la selección del material y a que todo lo publicado esté provisto de esencialidad. AO – Ya es bien sabido para nosotros que es una publicación difícil de sostener en un lapso determinado. Nunca podríamos decir que su aparición es trimestral, semestral o anual. Esto es del orden del milagro. Y aunque siempre contamos con valioso material, la consecución de la pauta cada día es más ardua. Lo importante finalmente es que cuando se logra un nuevo número, hay muchas presencias comunes que lo festejan y eso es lo maravilloso, la magia que discurre en un escenario imprevisto. FM – Común Presencia circula apenas em versão impressa ou há também um módulo virtual? GMC – Por ahora sircula sólo en versión impresa. AO – No sé qué tan perdurable podría ser una versión virtual que de hecho creo que ocupa sólo una inmediatez. Preferimos siempre de todos modos nuestra revista impresa, porque representa esa especie de tótem que puedes abrazar, oler y contemplar. FM - Como funciona sua difusão? GMC – En forma secreta y casi obsesiva, y si las palabras secreto y sagrado tienen el mismo origen como se ha dicho, creemos que es el camino necesario. Sin embargo a causa de la Colección Los Conjurados, que se edita a la sombra de la revista, la cual tiene más de 20 títulos, es distribuida ahora en cinco países, pero reitero, de manera secreta y sagrada. AO – De una forma muy marginal. Es preciso que así siga siendo. Pero siempre llega a sus destinatarios. A su destino. Es como esa botella de náugrafo lanzada al mar que encuentra al fin la playa predestinada. FM - Como vês as possibilidades da Internet como ferramenta aplicada à cultura? GMC – Me parece fundamental, creo que es un magnífico medio de información, de aproximarse a nuevas voces, de estar enterado de nuevas publicaciones, del estreno de nuevas obras cinematográficas y escénicas, en fin, de conocer nuevas búsquedas, aunque creo que la comunicación tal vez se halle más en la lectura íntima de un libro impreso, que en la rápida lectura de un texto en un computador. AO – Es interesante. Pero creo que funciona más para noticias y textos breves. Para un hallazgo quizá. Pero en la extensión de un libro y en la profundidad que él requiere no creo que se den las condiciones necesarias. FM - Pediria ainda informações a respeito da criação da Fundación Común Presencia e da coleção de livros - Los Conjurados - que vocês vêm publicando. GMC – La Colección Internacional de Literatura Los Conjurados fue creada hace dos años. En el género de poesía hemos publicado más de veinte títulos entre los cuales resaltaría los libros de: Trakl, Adonis, Juarroz, Ungaretti, Rimbaud, António Ramos Rosa…, en excelentes versiones al español; además de otros poetas latinoamericanos como Rodolfo Alonso, Alfredo Chacón, Mauricio Contreras, Germán Villamizar… En el género de Testimonio hemos publicado tres tomos con los Discursos de los Premios Nobel de Literatura, autorizados por primera vez al español por la Academia Sueca, que son un verdadero legado espiritual de nuestro tiempo; allí aparecen las palabras pronunciadas en Estocolmo por: Perse, Camus, Neruda, Eliot, Faulkner, Steinbeck, Brodsky, Kertész, García Márquez, Paz… La Colección Los Conjurados es una trinchera interior para aquellos que necesitan afrontar una realidad individualista y aciaga, es un espacio imprescindible para aquellos que aún creen en la urgencia de soñar. AO – A lo que acaba de responder Gonzalo Márquez Cristo, sólo añadiría que también es una pretensión de que la poesía encuentre en su renacer, una puerta abierta, contra tantas otras que universalmente se le han cerrado. Quizá los Conjurados sólo pretenda eso, ser el paso posibitador para enterarnos de los múltiples y complejos universos del ser en todas las latitudes del planeta. Es un proyecto complejo porque la poesía así lo es. Pero maravilloso porque la poesía también es maravillosa. En esto seguiremos trabajando con toda la mística del corazón. Común Presencia Carrera 8 # 65-73 Bogotá (604) COLOMBIA e-mail: [email protected] . jornal de poesia .. triplov . revistas em destaque cult (brasil) diálogo entre marcelo rezende & claudio willer CW - CULT foi lançada quando, mesmo? Em 1995? Ou foi 97? Seja como for, logo completará dez anos. Tenho a impressão de que passará a ser, se é que já não é, o mais longevo dos periódicos literários nacionais em circulação, descontados aqueles, como o Suplemento de Minas, Poesia Sempre da BN ou Correio das Artes, da Paraíba, que são subvencionados pelos respectivos governos. Isso sugere algum tipo de comentário, reflexão ou observação? (sobre duração da CULT ou pouca duração de outros periódicos). Marcelo Rezende - O primeiro número da CULT chegou às bancas em 21 de julho de 1997. Talvez seja necessário nos determos um pouco sobre o contexto nacional daqueles anos: o país vivia o que depois foi denominado como “febre do real”, na qual a sociedade e seus agentes acreditavam em uma transformação do panorama de consumo (de bens culturais ou não). Isso teve um reflexo na imprensa nacional. Enquanto os grandes grupos passaram a impor estratégias para alcançar a massa que antes se encontrava fora da esfera dos produtos culturais (os jornais são um exemplo disso), esse momento econômico possibilitou ainda que outros agentes, voltados para a segmentação, pudessem lançar seus projetos. Curiosamente, o país, que tem uma acidentada história com publicações voltadas para a cultura (de caráter nacional e com venda em banca), ganhou no mesmo período CULT e Bravo!, duas publicações totalmente diferentes em seus projetos, mas que são fruto, também, dos acontecimentos descritos acima, e que pretendem ser viáveis sem a necessidade da presença do Estado. Pouco depois, essa expectativa se alterou, com os sucessivos choques econômicos. Hoje, as grandes empresas estão com enormes dívidas e sem capital, enquanto novos empresários enxergaram nisso uma oportunidade para ocuparem um lugar na imprensa nacional. Estamos ainda em um momento de transição, no qual novos títulos se fortalecem e editoras antes tidas como pequenas passam a investir a fim de se tornarem relevantes entre leitores descontentes com as fórmulas dos títulos históricos nas bancas brasileiras. CW - A propósito, literário, mesmo? Ao longo de sua existência, CULT sempre me pareceu oscilar entre uma revista cultural geral, cobrindo também música, artes visuais e cinema, e uma revista especificamente literária e de idéias, de filosofia. O que é CULT, no plano do conteúdo? MR - Bem, estamos aqui face a uma questão que assombra um pouco a CULT e alguns de seus leitores. Antes, um esclarecimento pessoal: como estive afastado do Brasil entre 1998 e 2002 (não estive no país nem mesmo para férias ou algo desse tipo; foi um momento de ausência total), período no qual morava em Paris, não pude acompanhar de perto a história da revista. Recebia alguns exemplares, como de outras publicações, de amigos que procuravam me apresentar um pouco do que se passava aqui. Assim, se houve instantes de crise de identidade da CULT, pude observá-los não apenas de uma distância oceânica. Eu me encontrava também em uma posição específica: lia (leio) muitas publicações européias e norte-americanas que - com aproximações e afastamentos estavam tentando impor projetos semelhantes aos da CULT. Em seus primeiros anos, a CULT se assumia como uma revista de literatura, e acredito que o criador do título, o jornalista e crítico Manuel da Costa Pinto, tivesse a intenção de fazer da CULT um espaço não apenas para o comentário jornalístico de livros e autores, mas, sobretudo, um lugar no qual a crítica literária brasileira –e suas tendências- pudessem ultrapassar seu território; isto é, o da academia, o circuito universitário. Se houve a passagem editorial de “revista de literatura” para “revista de cultura” (e esses conceitos me parecem estar sempre sendo entendidos como se estivessem em um jogo de opostos; há a recusa da idéia de ser possível haver aproximação entre esses dois campos; um engano, me parece), algumas das razões estão na resposta abaixo. CW - Coisa de três anos atrás, CULT mudou de proprietário. O que mudou então, em conseqüência? (em nível propriamente editorial, é claro). MR - A CULT, a partir do número 57, deixou de ser editada pela Lemos Editorial (que controlava o título desde sua fundação) e passou para as mãos da editora Bregantini, que iniciava seu projeto de se tornar uma editora competitiva no cenário nacional. A mesma equipe editorial foi mantida, mas a revista passou então a se assumir como um título voltado para a “cultura em geral”, ainda que eu não esteja muito certo do que essa expressão possa querer dizer hoje… Mas acho ser necessário fazer algumas distinções aqui. De início, estabelecer uma diferença entre produção cultural e produto cultural. Publicações culturais (revistas, suplementos culturais) mantém um necessário (inevitável talvez seja a melhor palavra) diálogo com o mercado de cultura. Essa relação não se dá de maneira pacífica, ou ao menos não deveria acontecer assim. O fato é que publicações culturais podem terminar se submetendo ao produto cultural, acreditando não haver mais diferença entre o produto e o fato cultural. Eles podem ser o mesmo, mas não necessariamente. A tarefa de uma publicação cultural seria a de apontar para o leitor essas diferenças. Seria. Estamos no reino do condicional aqui. Essa tarefa editorial talvez seja o muro diante da imprensa cultural (as revistas universitárias são uma outra questão) hoje, e em nações periféricas como o Brasil isso se torna extremamente relevante. O analfabetismo funcional cresce no país. Há décadas. Não está diminuindo. Em sociedades que passaram por eficazes programas de educação de massa isso é um problema. O que dizer de nós, brasileiros, que nunca tivemos uma razoável educação para a população? Isso significa que a imprensa (que é uma atividade econômica privada, que visa o lucro) tem também um papel educacional. Ela deveria, ao menos em teoria, apresentar os fatos e contextualizá-los. Hoje, onde alguém pode saber quem foi (um exemplo) Pier Paolo Pasolini? Nos livros? Na universidade? E se essa pessoa não sabe quais livros ler nem em qual curso universitário encontrar o que procura? Ela poderia ser apresentada ao cinema (e aos poemas e artigos) de Pasolini pela imprensa. Mas essa imprensa depende de “um grande lançamento” (um bom produto cultural) para falar de Pasolini. E, quando esse acontecimento surge, prefere não dar muito espaço a Pasolini porque “as pessoas não sabem quem ele é”. Parece estarmos diante de um ciclo vicioso, não? Quando cheguei à CULT, em setembro de 2003, após o desligamento da antiga equipe de editores do título, fui convidado pela publisher da revista, Daysi Bregantini, para elaborar um projeto editorial que pudesse enfrentar essa desconfortável posição da revista, a fim de que ela pudesse ser um título de cultura, e não apenas de produtos da indústria cultural. A CULT deveria ser um título mais lido e comentado, indo além de seu público inicial, o da faculdade de Letras, sem, claro, perder esse leitor. Ela teria que ser menos conservadora, mais ousada e, ao mesmo tempo, agregar leitores e não perder nenhum dos já acostumados com o título. Na verdade, não estamos no mais fácil dos mundos… Esse projeto é o que a editora vem procurando implantar desde o número 74. O primeiro número que pude editar. Hoje, ela passa por um momento de crescimento, tanto em relação ao número de leitores quanto de faturamento publicitário. A CULT é um título que, segundo dados de sua distribuidora, a Fernando Chinaglia, vende em banca cerca de 20% acima da média do que o mercado de revistas no Brasil consegue. Estamos então diante de uma questão resolvida? Não, certamente. Como todos os editores sabem, a relação com o leitor é sempre delicada, e a revista deve sempre procurar ser melhor a cada número. Ou o leitor se afastará do título. Mas parece que o leitor se sente confortável diante de um título que acredita ser cultura não apenas o livro, o CD ou o filme, mas o debate, questões políticas, a filosofia e o engajamento intelectual em torno do livro, do CD e do filme. Não o partidarismo, que é outra coisa, mas o pleno engajamento intelectual. CW - Fale-nos de você. De onde você surgiu? O que fazia antes? Como aportou à CULT? MR - Minha trajetória é muito breve, na verdade. Tenho 36 anos, estudei Comunicação Social na PUC-SP e Filosofia na USP (que abandonei pouco antes de minha graduação) ao mesmo tempo. Depois, trabalhei como repórter e editor-assistente nos cadernos Ilustrada e Mais!, do jornal Folha de S. Paulo (19931998); após essa fase, recebi um convite do diário Gazeta Mercantil para ocupar o posto de correspondente em Paris (1998-2001). Permaneci nesse cargo até 2001 (me desliguei do jornal alguns meses antes de sua grande crise), mas permaneci na França terminando alguns cursos que tinha iniciado e, antes de meu retorno ao Brasil, passei ainda uma curta temporada em Roma. Quando voltei ao país, em 2002, recebi um convite para retornar à Folha de S. Paulo. Essa segunda fase durou apenas 5 meses. Após meu desligamento do jornal, passei a trabalhar em um projeto de livro sobre um certo momento da arte em São Paulo, um livro no qual trabalho ainda, e nesse período recebi o convite para editar a CULT. CW - Como é o público leitor de CULT? Quantos são os leitores de CULT? Qual é seu perfil? MR - O leitor é basicamente jovem, com passagem pela universidade ou ainda passando por ela, seja na graduação ou na pós-graduação. Logo, classes A e B. Me parece ser um leitor curioso, disposto a ser apresentado a algo que não estava em seu domínio e que talvez nem desconfiasse ser de seu interesse. Isso porque mesmo um leitor “educado” não conhece muito além de seu campo de saber. Infelizmente. Os que conhecem muito a obra de Adorno talvez não se sintam muito confortáveis diante de um texto e de uma obra do norteamericano Donald Judd, apesar dos pontos de contato entre os dois. Logo, a tarefa da revista seria apresentar Judd aos adornianos, e Adorno para os seguidores de Judd. CW - O que você gostou mais de publicar na CULT? MR - Muitas coisas, na verdade. Falando especificamente sobre temas, meu primeiro número na direção da revista, no qual procurava apresentar o leitor a uma nova e interessante geração de autores hispânicos, como Ignácio Padilla, Bolaño, Vila-Matas. Um dossier sobre SP (que contou com sua ótima colaboração), que procurava mostrar um pouco da história da cidade por meio de seus movimentos culturais em diferentes décadas, e o desejo de vanguarda que existiu no cotidiano da metrópole; um número especial sobre os 20 anos da morte do filósofo Michel Foucault, um típico caso de nome “que ninguém conhece”, segundo o círculo vicioso da imprensa cultural, e que terminou sendo uma das maiores vendagens da história da revista. Por fim, neste semestre, o número sobre os “O que pensam os Estados Unidos”, talvez o que eu mais tenha gostado de realizar até aqui. E, claro, não se trata de realizações pessoais. O resultado é uma soma de colaborações diretas, indiretas, pequenas sugestões, grandes ações e uma boa dose de acaso. Acho que o mais importante, nas publicações culturalmente relevantes, é que elas criem forma e identidade que possam seguir vivas, apesar dos nomes de seus editores. Os leitores, enfim, se aproximam do título, e não daqueles que o editam. A CULT foi criada pela força, coragem e ousadia de Manuel da Costa Pinto, hoje eu a edito e espero que após minha passagem ela continue sendo, enfim, a revista CULT reconhecida e respeitada por seus leitores, que têm, sempre, a palavra final. CW - E o leitor, do que ele gosta mais? Polêmica, intelectuais pulando na garganta um do outro, informação geral, aprofundamento temático? Cultura pop ou universitária? É possível captar indícios de preferências, pela vendagem e por comentários? MR - Essa pergunta, me faço todos os meses. Se fizermos uma análise dos números mais vendidos neste ano (isto é, que ultrapassaram a média de vendagem da revista), teríamos, pela ordem, as seguintes capas: “Foucault”, “Dostoievski” e “Literatura de Combate”. Bem, o leitor gosta de filosofia francesa? Autores russos? Tendências da cultura? Ou gosta dos três? São os mesmos leitores? Como você pode perceber, não há uma resposta simples. Talvez, essas mesmas capas, se lançadas em 2005, não teriam a mesma resposta dos leitores. Mas, ainda em meio a tantas intuições, acho que podemos extrair algumas sólidas certezas sobre esse leitor: ele se interessa por pessoas e temas que o ajudem a entender o mundo hoje, e isso, algumas vezes, significa ter na revista assuntos, reportagens e entrevistas que poderiam ser chamadas de polêmicas. Acredito que esse mesmo leitor deseja ver na CULT algo que ele não encontra em outras publicações; isto é, ele rejeitaria “os grande nomes” que podem ser encontrados tanto em revistas de informação quanto em títulos de celebridades. Quanto à cultura pop ou universitária, bom, essas diferenças são um tema de rigueur entre os litterati brasileiros, e parece existir muita confusão nessas qualificações. Hoje, no cenário da música eletrônica (e estamos falando aqui, sim, da chamada “Cultura DJ”), os conceitos do filósofo Gilles Deleuze são largamente usados. Os autores do filme “Matrix” afirmaram terem utilizado algumas idéias de Jean Baudrillard para realizarem o filme. O que é cultura pop e cultura universitária, exatamente? Acho ser necessário em algum momento ultrapassar o estágio de Guerra Fria no qual vários setores da sociedade brasileira parecem viver. Há os que pregam um antiintelectualismo militante, negando toda forma de sofisticação do pensamento e da ação, vivendo em um mundo no qual nada pode ser analisado ou estudado sem ser automaticamente rotulado como “difícil”. Do outro lado, há um sólido conservadorismo dos setores acadêmicos que acreditam estar em um território de “rigor e seriedade”, um discurso que serve apenas para disfarçar uma esclerose avançada, uma imobilidade que se traduz em algo muito perverso… Talvez por isso eu goste tanto de alguém como o esloveno Slavoj Zizek, capaz de explicar para o leitor a crise da modernidade por meio do último filme de Clint Eastwood. CW - E o que ainda gostaria de publicar? O que precisa melhorar em CULT? MR - Gostaria de publicar muitas coisas. É um clichê, mas o fato é que a lista seria interminável. Muitas coisas precisam melhorar na CULT: abrir espaço para novos críticos, explorar de maneira sistemática questões da atualidade, ter mais poesia em suas páginas, conseguir a profundidade sem hermetismo, refletir o debate em torno da arte… Trata-se de outra lista infinita. CW - Tiragem de alguns milhares de exemplares – isso é inserção na elite cultural ou contingência? Há chances de crescimento? MR - Como falamos um pouco acima, a média de vendas da CULT, em relação a sua tiragem, é superior à média do mercado. Logo, ela vem crescendo. Mas é necessário não perder de vista questões que transcendem a revista e suas intenções. O Brasil tem uma população de cerca de 190 milhões, mas seus maiores títulos impressos não chegam hoje a 1 milhão, nem mesmo os com estrelas televisivas nuas em suas capas. Logo, toda imprensa no Brasil é segmentada: é feita para o segmento que lê. CW - E o futuro? Quais serão os próximos passos? Há planos de expansão, haverá crescimento de CULT? Quantitativo, qualitativo ou ambos? Algo deverá ou deveria mudar? MR - Os planos editoriais são muitos. E ousadia é o que poderia resumir todos eles. Acho que a revista tende a ser ainda menos conservadora e mais ousada, porque toda publicação que dá o que o leitor quer ou espera está condenada ao desaparecimento e ao anacronismo. Uma revista, sobretudo uma revista de cultura, deve dar aquilo que o leitor não espera e não sabe ainda que quer. CW - Que lhe parece o aumento, quando não proliferação de revistas de poesia e periódicos literários durante esses dez anos? Teria destaques, positivos ou negativos, comentário sobre alguns deles? Faça comentários sobre periodismo eletrônico – sites, páginas, blogs, etc. MR - Esse, acredito, é um fenômeno muito novo ainda para podermos entender seu real significado. Hoje, fazer um fanzine ou uma revista literária impressa é muito mais barato do que antes. E o fato é que os meios eletrônicos se tornaram uma chance para diferentes gerações, das mais variadas tendências, poderem se expressar, pessoas e grupos que perderam seus espaços ou se desinteressaram pelos espaços disponíveis. Essa, claro, é uma situação imensamente positiva, porque tudo o que é capaz de abalar um discurso único (seja ele ditado pelo mercado, pela situação política ou pela decisão dos próprios meios) é, em si, positivo. Mas me parece que até esse métier foi atingido pelo apelo “das celebridades”. Fazer uma publicação literária, de poesia, ensaios, ok. Fazer uma publicação literária, de poesia, ensaios para ser reconhecido em festas, ter a foto publicada nos segundos cadernos ou se tornar amigo dos “autores conhecidos” não me parece ser uma boa estratégia. Para nada. CW - E sobre crítica e jornalismo literário na grande imprensa, nesse período? MR - A piada é inevitável: qual crítica? Já que falamos antes do artista minimalista Donald Judd (morto em 1994), em um dos seus textos críticos ele escreve: “Se tornou um ataque à democracia dizer que o trabalho de alguém é maior, mais desenvolvido, mais avançado, complexo (o quanto complexo esse termo pode ser), do que de outra pessoa. Não é educado dizer que meu trabalho é melhor do que o seu. Essa atitude vazia é parte de toda sociedade. A mesma pequena idéia contida nessa atitude é a de que a arte deve ser democrática, e é uma hipocrisia pretender isso”. Esse trecho é do ensaio Not about master-pieces but why are so few of them. Me parece ser a crítica e o jornalismo literário brasileiros, para usar a idéia de Judd, extremamente “bem educados”. Mas sem uma rigorosa crítica caímos em uma produção na qual tudo é aceito em nome da “convivência” e da camaradagem. Mas a arte não é democrática, ela é aristocrática. Se isso já não fosse um grande problema, há ainda o fato de que uma certa cultura literária está em crise. Há na universidade aqueles que podem escrever confortavelmente sobre o uso da narrativa em determinado autor sem jamais ter lido Claude Simon, John Barth, BS Johnson. Enfim, me parece que existe uma geração hoje, na universidade, que não vai muito além do cânone estabelecido, e isso termina se traduzindo em uma produção tímida, sem inquietação, respeitosa, “chatoboy”. E, no jornalismo, bem, toda sua função educacional deixou de existir porque nossas relações com o passado são “flutuantes”. Hoje, apenas um exemplo, o jornalismo impresso acredita que o surrealismo foi uma corrente literária. E não um projeto revolucionário a tempo pleno. As idéias parecem vir prontas, de algum lugar, de uma “enciclopédia básica da cultura jornalística”. Enfim, se na universidade há a timidez diante do cânone, na imprensa parece que tudo se reduz a clichês que são usados para não espantar os leitores; nada pode ser muito “difícil”. Por isso é que o cineasta Nani Moretti é sempre, no Brasil, o “Woody Allen italiano”. Clichê e reducionismo. Mas o que uma definição como essa pode querer dizer? Com uma crítica neste estado, como jogar a primeira pedra contra nossa pobre produção cultural? E, aliás, como apontar sua pobreza? CW - O planejamento de CULT incorpora alguma reflexão crítica sobre o jornalismo literário atual no Brasil? Há intenção de preencher um espaço vazio, cobrir uma lacuna, algo assim? MR - A revista CULT tenta e procura colaboradores, não colaboracionistas; pessoas dispostas a “não colaborar”. Ou seja, que preferem ter uma visão crítica, e lutar por ela. Há, claro, falhas, erros de cálculo, desvios, mas ao menos existe um projeto. CW - E o resto do mundo? Há publicações, do tipo Magazine Littéraire, que servem como modelos ou referências? MR - O Magazine Littéraire é uma referência no que se refere à idéia do dossier, um dos destaques da CULT. Mas a situação das revistas é totalmente diferente, as sociedades são muito diferentes. A sociedade francesa é letrada e leitora. A brasileira, não. E, entre os franceses, a intelectualidade nunca esteve acima das questões políticas (criar uma vanguarda é também uma questão política) e culturais. A própria palavra “intelectual” assume outro sentido: significa a atuação pública, significa estar presente ou contra a sociedade, e o saber não está restrito ao que é produzido na universidade. No Brasil, mais uma vez, a situação é totalmente diferente. E o Magazine é apenas uma das revistas literárias francesas; na verdade, a revista da academia, da instituição. A Lire seria mais voltada aos lançamentos, cobrindo o mercado, enquanto a nova Matricule des Anges é a que procura um caminho mais jovem e alternativo aos dois títulos citados. Modelos, referências? The Economist, Les Inrockuptibles, Granta, L´Infini (de Philippe Sollers), éditions de Minuit, Rebel Inc., Il Manifesto, The Observer, Arts & Letters Daily, Artforum, Tel Quel, The New Yorker (ainda), Courrier International. Várias, na verdade. CW - Conexões internacionais, ibero-americana e lusófona, o tem interessado? Prevê ou planeja algo a respeito? MR - Qualquer intercâmbio nos interessa, e muito. Mas gostaríamos e esperamos por ações realmente produtivas, e não apenas aproximações de ocasião. Queremos nossos colaboradores publicados em revistas de outras culturas e viceversa. Editora Daysi Bregantini Diretor de Redação Marcelo Rezende CULT– Revista Brasileira de Cultura é uma publicação mensal da Editora Bregantini Praça Santo Agostinho, 70 – 10º andar – Paraíso – São Paulo – SP – CEP 01533-070 – tel.: 11/3385-3385 – fax: 11/3385-3386. Envie seus comentários para a redação pelo e-mail: [email protected] . . revistas em destaque malabia (espanha) diálogo entre federico nogara & floriano martins FM - Quando surgiu Malabia e em quais circunstâncias editoriais? Federico Nogara – La idea de Malabia surgió en 2000, en un encuentro cultural en Brasilia. Allí conocí personalmente a Guillermo Pérez Raventós y entre los dos nos propusimos una tarea común. De las charlas salió Malabia. La revista tiene seis meses de edad. La editamos entre Guillermo y yo, sin ayuda exterior. Ahora estamos comenzando a involucrar editoriales. FM - Qual a razão de seu nome? FN – Malabia es un personaje de los libros de Onetti. Es el intelectual inconformista, enfrentado al sistema. Tiene mucho en común con Compson, el intelectual de Faulkner (de quien Onetti era admirador), y del Dédalus de Joyce. FM - Como o sítio convive com outros projetos similares em todo o país? FN – Es difícil decirlo. Recién comenzamos y los contactos con proyectos similares son muy nuevos. Las perspectivas son buenas. FM - Qual a situação atual do sítio, em termos de conquistas, dificuldades, novos planos etc.? FN – Tenemos un tipo de lector con un nivel cultural medioalto, lo que hace el crecimiento lento. Pero al mismo tiempo nuestros inteligentes lectores comprenden el esfuerzo por mantenernos coherentes, fieles a una forma de entender la cultura. Recibimos mucho apoyo y muchas felicitaciones. Las dificultades, como siempre, son las económicas. El principal plan es mejorar en todo sentido. El más ambicioso es salir con suplementos en portugués e inglés. FM – Malabia circula apenas em módulo virtual ou há também uma versão impressa? FN – Pensaremos en una versión impresa cuando podamos financiarla. Publicar en papel es muy caro y limitado. Con internet se puede llegar a todo el mundo. Nuestra revista es abierta al mundo desde una perspectiva latinoamericana, y el mundo es ancho y ajeno como decía Ciro Alegría. FM - Como funciona sua difusão? FN – Por el momento sólo con e-mails. FM - Como vês as possibilidades da Internet como ferramenta aplicada à cultura? FN – No debemos olvidar que internet fue inventada por el ejército norteamericano para mantener a sus mandos operativos. Es una herramienta del sistema capitalista. Pero, paradójicamente, es una de las pocas herramientas de comunicación con que contamos quienes queremos cambiar la realidad. La cultura en nuestros días está muy comercializada. Mucha gente se da cuenta y trata de responder. Pero falta calidad, buenas propuestas. En internet hay poca seriedad, mucha "brincadeira", y eso no nos lleva a ningún sitio. Malabia Dirección: Federico Nogara E-mail: [email protected] www.revistamalabia.com.ar . jornal de poesia triplov . revistas em destaque vaso comunicante (méxico) diálogo entre ludwig zeller, susana wald & floriano martins FM - Quando surgiu Vaso Comunicante e em quais circunstâncias editoriais? LZ - Hace cinco años conocí a César Mayoral Figueroa que había tratado de hacer una revista similar y no le había resultado. Nos entendemos bien y al momento tenemos ocho números publicados. SW - César Mayoral Figueroa es un médico cirujano, psicoanalista, filósofo, escritor, y mecenas. Ha participado en el taller literario de Ludwig Zeller de donde surge la revista Vaso Comunicante en primer término. La revista ha existido con anterioridad, hace unos 18 años, cuando la dirigía un escritor de la Ciudad de México. En esa época César Mayoral era Rector de la Universidad de Oaxaca. FM - Qual a razão de seu nome? LZ - Muchas de las persona que han colaborado han estudiado medicina y es un frase común para ellos. Vasos Comunicantes ya fue empleado por Breton hace ochenta años. SW - Vasos comunicantes, de donde Breton toma también el título para su texto, son el punto de contacto entre las arterias y las venas, en el sistema capilar dentro del sistema circulatorio de nuestros cuerpos. A mí me llama la atención que se habla de sólo uno de esos elementos, de un vaso y no de la conjunción de dos, que es el caso cuando la terminología se usa en el plural. Así queda como el vaso que va hacia la conexión, o viene de ella. FM - Como a revista convive com outros projetos similares em todo o país? LZ - Tenemos poca relación y el interés principal de la revista es que tenga textos de primera calidad o material inédito en español. SW - La relación formal entre las revistas en México es poca, porque no hay una tradición de corresponsalía o de intercambio de cartas. Las personas que ven la revista, siendo editores de otras, la admiran, por su calidad. Hay muchas revistas en México. En Oaxaca hay por lo menos media docena. FM - Qual a situação atual da revista, em termos de conquistas, dificuldades, novos planos etc? LZ - Estamos muy interesados en hacer varios números y tenemos un espléndido material. Al momento Susana Wald y yo mismo somos los que llevamos todo el peso del trabajo, y el tiempo es escaso. SW - Creo que la revista tiene relevancia, y que se ha podido establecer como cosa que ya se conoce. La dificultad está en que la hacemos sólo dos personas. Ludwig selecciona el material y yo hago el diseño, la lectura de pruebas la hacemos los dos, y yo hago también traducciones, donde es necesario y veo la producción en preprensa y en la imprenta. FM - Vaso Comunicante circula apenas em versão impressa ou há também um módulo virtual? LZ - Sólo en versión impresa. SW - No hay versión virtual. FM - Como funciona sua difusão? LZ - La mayor parte de la revista la regalamos. También se puede encontrar en librerías de Oaxaca y hacemos envíos a otras ciudades. SW - Se vende en librerías de Oaxaca y se regala muchos ejemplares. FM - Como vêem as possibilidades da Internet como ferramenta aplicada à cultura? LZ - Me parece una herramienta extraordinaria, pero frágil. SW - El Internet me parece un magnífico instrumento para las personas que tienen tres cosas: una computadora, una buena conexión telefónica y tiempo. Para las primeras dos cosas en especial se necesita tener dinero. Luego el resultado de lo encontrado, cuando se tiene tiempo, se debe almacenar o imprimir. Todo ello requiere fondos. Es poco eficaz como herramienta en lugares pobres como Oaxaca, donde la infraestructura es muy deficiente. No contamos ni siquiera con un suministro seguro de luz y conseguir teléfonos eficaces es trabajo de titanes. Yo diría que en Oaxaca si quieres hacer algo virtual, alcanzas quizás un dos por ciento de la población. ¡Eso, porque soy optimista! Colegio de Oaxaca Álamos 228 - Colonia Reforma Oaxaca, Oax. 68050 - MÉXICO [email protected] . jornal de poesia .. triplov . revistas em destaque matérika (costa rica) diálogo entre alfonso peña, tomás saraví & floriano martins FM - ¿Qué motivó la aparición de Matérika? AP/TS - Tendríamos que viajar en el tiempo y ubicarnos en los inicios de la legendaria revista Andrómeda, que apareció entre 1980-1990, con 33 ediciones. Ese movimiento generó proyectos, amigos, colaboradores, canje con otras publicaciones. Transcurrió algún tiempo; se reformularon estrategias, nos adecuamos a nuevas situaciones en el ámbito de la cultura y hacia el año 2000 decidimos publicar una nueva revista. Matérika es una revista un poco diferente, es “fabricada” como un objeto artístico, donde los segmentos gráficos tienen una gran participación con la poesía, las entrevistas, la narrativa, el ensayo... Es una celebración del color, la imagen visual y la palabra escrita. En cada edición invitamos a un artista plástico a efectuar el proyecto gráfico. Por esta revista han transitado relevantes artistas de América Latina. Es un vehículo muy importante en el soporte y la divulgación de nuestras ediciones de libros de poesía, narrativa, gráfica. Por medio de las revistas literarias o de ideas, de algún modo se encuentran los escritores, los poetas, los pintores, y surge el canje, el fluido intercambio de ideas, entre publicaciones y entre países. FM - Algunas revistas han puesto especial atención a la poesía de otros países, incluso algunas dedican buena parte de sus páginas a su difusión. ¿De qué manera este asunto es encarado por Matérika? Esto tiene relación con el mundo globalizado y la ambigüedad implícita en la universalidad de la cultura. AP/TS - Para Matérika la difusión de la poesía es tan importante como la difusión del ensayo, de la narrativa, de la crítica literaria, que en otros espacios son prioritarios. Por ejemplo en el N°2 buena parte del contenido se dedica a una muestra de la poesía brasileña.. A partir de esa edición comprendimos que eso era un acierto y una deferencia con nuestros lectores y con las exigencias del mundo actual. En cada edición proponemos una muestra de la poesía continental. Por ejemplo para próximas ediciones presentaremos poesía guatemalteca y nicaragüense. Podemos añadir que en revistas amigas de otras latitudes hemos dado a conocer selecciones de la poesía actual costarricense. FM - ¿De qué manera el estado ha actuado o ha subvencionado sus proyectos editoriales y cual ha sido el resultado de esta actuación? AP/TS - La revista Matérika es respaldada por el sello Ediciones Andrómeda y el Taller de la Imaginación; es un proyecto de autogestión cultural. No pedimos ni contamos con el apoyo financiero del Estado. Consideramos que las revistas nacionales de cultura en algunos países han logrado buenos resultados: por su apertura, y difusión de las ideas. En Costa Rica hay revistas que tienen el apoyo del estado; son prácticamente “invisibles” pues no salen de las bodegas... Nuestro apoyo son los amigos, los lectores, que colaboran con nuestras propuestas editoriales. FM - ¿Matérika circula solo en su versión impresa o también tiene su módulo virtual? AP/TS - Decíamos que en las épocas anteriores a Internet “el canje” desempeñaba una importante misión. Hasta el día de hoy “el canje” por medio del correo se mantiene; es muy importante y agradable recibir la revista impresa que llega de México, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Cuba, España, sin embargo, en el año 2004, Matérika decidió contar con su revista virtual. Justamente en diciembre se lanzó la primera edición de Matérika virtual. Inicialmente hicimos una selección de nuestros materiales, con el propósito de que los lectores de otras las latitudes, merced a este maravilloso invento que es Internet pudieran mantenerse informados del grado de producción cultural existente en Costa Rica y Centroamérica. En la época actual resulta de gran importancia contar con una versión virtual. La respuesta ha sido impresionante. El mundo de Internet se caracteriza justamente por su carácter dinámico, masivo, independiente y libre, donde el público , los cibernautas opinan libremente. En muy pocos días “nuestro libro de visitas” reflejó las más diversas opiniomes; por medio del control que lleva Ditosoft, nuestro cómplice en el proyecto Matérika virtual, quedamos sorprendidos de la cantidad de personas que se acercan a nuestro portal. Mediante los diferentes mecanismos de captación de visitantes hemos constatado el interés que la publicación suscita en la red. Este módulo virtual es editado en Costa Rica por Andrómeda y producido digitalmente en Nicaragua por Ditosoft, lo cual demuestra una vez más, que “la cultura no tiene fronteras”. FM - ¿Qué opinan de la creación de un foro permanente de debates, entre editores de revistas, utilizando Internet? AP/TS - La invitación de Agulha a formular esta clase de opiniones enriquece notablemente el panorama. Agulha de algún modo se convirtió en un buen ejemplo para todo el continente y para el mundo. En nuestro caso la relación con Agulha es particularmente intensa por las relaciones personales que existen entre sus organizadores; eso ha llevado a que realmente se pueda multiplicar el conocimiento de la cultura costarricense, la cultura centroamericana, y la interrelación entre todas las culturas de América Latina. En realidad el foro ya comenzó y tiene un sentido concreto. Debe aplaudirse y apoyarse esta iniciativa. Es particularmente importante que mucha de la gente que se adhiere a los distintos niveles que Internet presenta, lo haga mediante la lectura de esta clase de materiales, muy cuidados, previamente editados y discutidos. Es importante que se imponga una sana discusión entre países como los latinoamericanos que tienen en algunos casos antiguas tradiciones culturales. En consecuencia la suma de este proceso analizándolo por todos los flancos es sumamente positivo. [entrevista realizada em janeiro de 2005] Editor Alfonso Peña Consejo Editor Tomás Saraví - Guillermo Fernández - Floriano Martins - Colombia Truque - Saúl Ibargoyen - Felo García - Carlos Barbarito Dirección Barrio Amón, Calle 9, Avenida 9 Apartado Postal # 159-1002 Paseo de los Estudiantes - San José - Costa Rica, A.C. E-mail: [email protected] http://www.materika.com/ www.edicionesandromeda.com . jornal de poesia triplov . revistas em destaque palavreiros (brasil) diálogo entre josé geraldo neres & claudio willer De uma oficina literária em Diadema, município da região metropolitana de São Paulo, à Internet, e a um sem-número de conexões não apenas brasileiras, porém latino-americanas. Esta é a trajetória de Palavreiros, e, em especial, do poeta José Geraldo Neres, que tem se dedicado, nos últimos cinco anos, à organização e divulgação desse espaço para a poesia. [CW] CW - Você é capaz de resumir, em umas poucas linhas, o que é Palavreiros? JGN - Usando as palavras de uma amiga; Palavreiros = trabalhadores da palavra = operários/formigas. CW - Dê-nos um histórico, conte-nos como surgiu Palavreiros. Dá a impressão de ser algo coletivo, desdobramento ou conseqüência de atividades de um grupo. Quem são? JGN - Surgiu em 1999, no encerramento de uma oficina literária no município de Diadema, oficina essa ministrada pela Beth Brait Alvim. É aquela velha história (como muitas outras histórias que conheço); bem pessoal acabou a oficina e fica aquele gosto de quero mais um pouco ou está faltando algo. O que fazer? Temos em comum o gosto pela palavra. O que fazer? Onde levar esse sentimento? Existia a idéia de se forma um grupo, esse desejo foi se fortalecendo ao longo das primeiras apresentações públicas, chegando até a inusitada inauguração de uma escultura que representava a "Torre de Babel"(alunos de artes plásticas das oficinas culturais ministradas por Ricardo Amadasi, argentino radicado no Brasil). A princípio foi a experiência de Saraus(centros culturais e escolas), depois o primeiro Fanzine. Naquele momento já contávamos com cerca de 30 ou mais colaboradores: alguns se retiraram ao longo desses cinco anos, e teve a chegada de outros. São interessantes as experiências ao longo desses cinco anos: uma das maiores marcas, é sem duvida uma sarau realizado numa escola municipal de ensino de ensino para jovens e adultos. A escola parou suas atividades naquela noite. Éramos: “estranhos num ninho de curiosidade e espanto”. Além das poesias do grupo, apresentamos poetas consagrados como Cecília Meirelles, Cora Coralina, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade… Até aí nenhuma novidade, mas ao fim da apresentação: - Quando vocês voltam? Passado dois meses, voltamos a mesma escola e, para nossa surpresa, os alunos estavam organizados: tinham escolhido os poemas/poetas para leitura, fizeram jogral, participaram de um poema coletivo. Uma verdadeira comunhão. Tem outras histórias; cada apresentação tem uma em particular, mas sempre fica aquela pergunta: nunca pensamos que um dia nossa iniciativa, aquele utópico desejo nos levasse a tantos lugares: SESC, Escolas e Universidades, Encontro de Escritores de Rio Claro/SP, e além das fronteiras de terras brasilis; Uruguai. Agora deixando a parte de apresentações; o grupo atualmente é composto por(ativos e não ativos): A. Smero, Arildo Correia Lima, Beth Brait Alvim, Cleibson Carlos, Edson Aquino, José Geraldo Neres, Juan Carlos Rodriguez Latorre, Maria de Lourdes, Maria Regina Oliveira de Araújo, Marlene Pereira de Lima, Murillo Kollek, Osmar Almeida, Paula Barbosa, e Radi Oliveira (existem ainda outros colaboradores que atuam indiretamente). É verdade que há uma tendência de se reestruturar o grupo ou que ele venha a funcionar uma pouco mais. Creio que isso se deve ao fato de que num determinado momento o desejo do individuo vem influenciar o grupo, ou a aparição do velho desejo do homem de trilhar novos outros caminhos. O Palavreiros tem um filho: Formigueiros (que seria a vertente musical do grupo, e que agora dá seus próprios passos). Alguns dos participantes começam a dar suas primeiras oficinas literárias, a fazer intermediações em projeto de apreciação estética/literária "Q. Poética?" e em outras atividades culturais. E temos ainda o nosso caminhar na grande rede (que surgiu como alternativa de divulgação de nossos textos, após o rompimento de um convênio-patrocínio que tínhamos para publicação de nosso Fanzine). Fizemos nossa primeira página em 2000, e depois disso o site foi crescendo e agregando outros poetas/escritores. O site acabou sendo a grande válvula de escape e excelente ferramenta de divulgação literária e intercâmbio, sendo incluído no diretório mundial de poesia da Unesco: www.unesco.org/poetry. Creio que devo ter me estendido por demais, mesmo sabendo que existem outras histórias ainda por contar. CW - Que papel você desempenha em Palavreiros? JGN - Desde a fundação do grupo em 1999, venho desenvolvendo o papel de relações públicas do grupo, desde 2001 sou o responsável pela manutenção do site, e realização de um festival virtual de poesia que está na sua terceira edição (a última edição contou com a participação de poetas de 38 países, a edição de 2005 está ainda sendo estudada). CW - Essa conexão hispano-americana, com uma presença forte de autores e obras em língua espanhola, algo que diferencia Palavreiros de outros periódicos eletrônicos, como aconteceu? JGN - Creio que foi com a realização do festival virtual de poesia. Foi algo surpreendente: o poeta que estava participando convidava outro e esse outro. Eles acreditaram na proposta dessa antologia virtual e se organizaram para que cada país estivesse poeticamente representado. A notícia do festival saiu em programas de rádio em Puerto Rico, em jornais na Bolívia, e não esquecendo dos diversos divulgadores pela grande rede. É interessante essa cumplicidade: poetas que não tinham micro eram indicados por outros que possuíam essa ferramenta. Na ausência de poetas de um determinado país, por exemplo: no Paraguai, contei com o auxílio de Tereza Méndez-Faith. Com relação aos poetas árabes; a interlocução da poeta Belén Juárez (Coodinadora del Programa Cultural "Puerta Abierta del Diálogo Internacional", 2001-2002, Fundación Euroárabe (España). E isso foi uma constante, o círculo foi aumentando cada vez mais e mais. CW - Diga algo sobre a expansão de sites e divulgação de poesia pela internet. Quais são seus principais parceiros e interlocutores? JGN - O site foi ganhando força ao longo desses 5 anos. E algo que é necessário de se dizer: tratando-se de sites de literatura; existe sempre a divulgação ou vinculação/indicação de navegação para outros sites. E funciona também a velha forma de propaganda; um amigo apresenta outro e assim vai. Atualmente não possuímos parceiros (creio que isso deverá mudar em breve; será reformulada a seção de links e criada uma seção de destaque relativo a esses possíveis parceiros, seja ele financeiro ou divulgador.). Mas sem duvida, algo que ajudou muito no crescimento do site foi a sua inclusão no diretório mundial de poesia da Unesco. Existe ainda a divulgação/indicação de navegação do Instituto Camões - Centro Virtual- de Portugal. Na verdade seria preciso mais linhas para poder mencionar todos(as) os(as) divulgadores(as). Com a alteração/reformulação da seção links isso deverá estar solucionado, pois devemos muito a esses(as) amigos e amigas. CW - Haverá alguma expansão de Palavreiros no meio impresso, sobre papel? JGN - Na verdade não seria uma expansão e sim um retorno; começamos com um Fanzine impresso (1000 exemplares, com cerca de 18 páginas, com poesias, crítica literária e ilustrações) e depois a parceira foi rompida sem maiores explicações (até hoje não sei ao certo o motivo). Precisamos retornar ao papel. CW - Certa ocasião, você me falou que recebe 100 e-mails por dia. Em matéria de acessos, como está Palavreiros? Quem o acessa ou consulta? JGN - Com relação a conteúdo; são mais de 20.000 páginas (O grupo Palavreiros possui um espaço próprio, cada participante do grupo possui sua página. Temos uma média-mês de 15.000 visitas (houve ocasiões em que a visitação diária ultrapassou a casa de 1.500 visitas). Sendo que em torno de 40% dessa visitação é daqui do Brasil e o outro percentual representa a visitação de mais de 70 países. Nossa lista de contatos ultrapassa 6.000 contas de e-mails. CW - O que você gostou mais de publicar ou divulgar em Palavreiros? JGN - Sem contar a divulgação de livros, celebrações literárias e outros acontecimentos… O prazer apareceu em vários momentos. Um desses momentos foi o de publicar poemas de integrantes do Taller "El rincón de los niños cubanos". Te presento a cuatro hermanos,/ Cada uno es una esfera,/ Cada uno un tenue fuego,/ Aquí tienes a Vulcano,/ Viviendo junto a la Tierra,/ Aquí tienes a Mercurio,/ Habitando con Neptuno,/ Más acá te muestro a Cintia/ En un abrazo con Bóreas,/ Y por Último está Apolo,/ El grande consigo mismo,/ Para verlos perecer / Basta golpear a cualquiera,/ Pues los ligan mutuos vínculos, / De extraña naturaleza/…(fragmento do poema "Arcanos naturales" de Guillermo Badia Hernández, 15 anos). Não somente pela força mítica do poema, mas por saber que existem pessoas preocupadas com a vivência poética dos jovens. E também a descoberta da poesia de outros países, bem como o intercâmbio literário com nossos irmãos de São Tomé e Príncipe, na África. E nossos hermanos do 1º Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicarágua. Existem ainda outros contatos, mas isso farei noutra oportunidade. E um momento triste: a morte de uma amiga e divulgadora, Yêda Schmaltz, mantivemos contato por cerca de 2 anos ou mais, e para tentar registrar essa amizade, nós criamos uma seção especial dedicada a ela. CW - O que você gostaria de apresentar ou pôr em Palavreiros e ainda não fez? JGN - Gostaria de publicar edições especiais de poesia e prosa de cada país que mantemos contato. E fazer sair da gaveta uma revista digital de literatura que a principio se chamaria: "Esfinge Móvel" O primeiro esboço dessa revista pode ser acompanhado no endereço http://www.palavreiros.org/esfinge/home.html CW - E o futuro? Quais serão os próximos passos? Há planos de expansão, haverá crescimento de Palavreiros? Quantitativo, qualitativo ou ambos? Algo deverá ou deveria mudar? JGN - Tenho planos, mas isso só deverá acontecer depois de março, 2005. (Expansão, fortalecimento, a criação de outros intercâmbios literários, um selo próprio, sede ou local de reuniões, etc. Mas isso tudo ficará na dependência dessa futura reunião.) [entrevista realizada em janeiro de 2005] Grupo Palavreiros [5 anos de atividades culturais] A. Smero, Beth Brait Alvim, Cleibson Carlos, Edson Aquino, José Geraldo Neres, Juan Carlos Rodriguez Latorre, Maria de Lourdes, Maria Regina Oliveira de Araújo, Marlene Pereira de Lima, Murillo Kollek, Osmar Almeida, Paula Barbosa e Radi Oliveira www.palavreiros.org/palavreiros.html . . revistas em destaque piel de leopardo (argentina) diálogo entre jorje lagos nilsson & floriano martins FM - Como surge Piel de Leopardo, motivada por qual desejo? JLN - Hacia 1989/90 -no lo recuerdo con exactitudconocí en Buenos Aires a un grupo de jóvenes poetas chilenos: Jesús Sepúlveda, Guillermo Valenzuela y otros. Dos años después, en Santiago de Chile, conversamos sobre la necesidad de una revista de cultura, no sólo de letras. Meses más tarde ellos logran publicar Piel de Leopardo. En 1994 (había regresado a Buenos Aires) Sepúlveda me escribe: ¿podía yo encargarme de la revista? Acepté. Pudimos imprimir dos números. No más por razones de tipo legal, contable y administrativo. Desde 2000 Piel de Leopardo es una publicación electrónica. El deseo, la gana, la voluntad detrás del esfuerzo es ayudar a construir puentes; puentes entre las regiones de América Latina y puente entre América Latina y el resto del mundo. Sí, una ambición muy grande para lo que somos, pero por algo se empieza, ¿verdad? FM - Como funciona Piel de Leopardo (estrutura financeira, distribuição, equipe, definição de pauta, relação com colaboradores etc.)? JLN - Entre 2000 y 2003 fue una revista bimensual. Existía un Consejo editorial al que llamamos Sóviet, lo que suscitó algunas protestas -que rechazamos: nunca fue una publicación marxista-. El sóviet se reunía virtualmente, puesto que vivíamos en diferentes partes del mundo, y se decidían algunas políticas inmediatas. Nunca hubo una estructura administrativofinanciera; un compañero se encargó de su distribución en Buenos Aires, para los números en papel, y cuando pudimos editarla para internet descontábamos que sería gratuita. La relación con los colaboradores era directa y horizontal. Como ocurriera en su etapa chilena, ciertas circunstancias nos obligaron a suspender su aparición en 2003. A fines de ese año un grupo de entusiastas “subió” un último número. El sueño porfiado como todos los sueños- paradójicamente no dejaba dormir. En octubre de este año de 2004 volvimos. Estudiamos mecanismos para mantenerla y poder cumplir con sus objetivos. Uno de esos mecanismos es la puesta en marcha de un aparato editorial. De hecho en Buenos Aires logramos publicar alrededor de una docena de libros de escritores de diversos países: Sylvia Vergara, Venezuela; Adriano Corrales, Costa Rica; Jesús Sepúlveda y Álvaro Leyva, residentes en Estados Unidos; Joaquín Carreras y Luis Benítez, argentinos, etc… Para esta tarea tuvimos impulso, ayuda y solidaridad particulares; en concreto de la biblioteca virtual Wordtheque. En esta etapa pretendemos ediciones compartidas con otras editoriales pequeñas, grupos culturales, etc… En Chile tuvimos este año (2004) una buena experiencia al respecto. FM - De que maneira o Estado (governo) tem atuado na subvenção de projetos editoriais e qual tem sido o resultado dessa atuação? JLN - La verdad es que no estamos muy al tanto de este asunto. Un poco anarquistas pensamos que nada bueno sale de las relaciones con los gobiernos u otros grupos de poder -o aspirantes a ser poderosos-. Alguna experiencia nos indica que los gobiernos atienden, casi exclusivamente, proyectos afines con sus objetivos. No hemos participado en esas rebatiñas. FM - Muitas revistas têm mostrado atenção em relação ao que se passa com a poesia em outros países, algumas delas dedicando suas páginas de maneira substanciosa à difusão dessa poesia. De que maneira este assunto é compreendido por Piel de Leopardo, sobre a função que desempenham editores de revistas, observando a ambigüidade de uma universalização da cultura hoje tão evocada? JLN - Piel de Leopardo -el animal para los íntimos- no se define como una revista literaria, y esta circunstancia tal vez marque la respuesta. Pensamos que en la literatura, y de manera particular en la poesía, habita buena parte de nuestras identidades culturales y memoria histórica: habitan en ella, se expresan en ella, en ella se buscan y se nombran por ella. En las próximas semanas habilitaremos sendas carpetas (secciones) nuevas. Una para intentar difundir textos literarios y trabajos de arte en pintura y fotografía; otra para procurar ampliar nuestro radio de acción a través de la publicación de las cartas de nuestros lectores. Nuestros lectores en general no son literatos. Creemos que el asunto -tan mentado en los últimos años- de la universalización de la cultura (globalización que llaman) no conduce tal como está concebida a favorecer el intercambio horizontal entre las culturas; más bien integra un arsenal ideológico estratégico para “ensimar”, si cabe la expresión, a las identidades regionales, no para “encimarlas”. Y pensamos que sólo la integración de lo regional -que no es lo mismo que lo nacional, no necesariamente- posibilitará esa universalización. Lo regional expresa la identidad en materia de habla, étnica, de producción, etc… Desde esta óptica desde luego que procuraremos difundir poesía en la medida que nuestros (escasos) recursos lo permitan. De hecho, y más allá de la aterradora experiencia económica de la editorial en Buenos Aires, esa es nuestra intención. FM - O que pensas da idéia de criação de um fórum permanente de debates, entre editores de revistas, através da Internet? JLN - Que es hora de poner a caminar la internet. La aplaudo. *** Piel de Leopardo (www.pieldeleopardo.com), cultura y política desde Latinoamérica, es una revista de información, análisis y opinión alternativa a la que suelen entregar los medios tradicionales a sus lectores. Fundada por el escritor Jesús Sepúlveda y un grupo de jóvenes intelectuales en Santiago de Chile a comienzos de la última década del siglo XX, conoció una etapa gráfica en Buenos Aires antes de consolidarse como publicación electrónica en 2000. El objetivo central de Piel de Leopardo es servir de puente para la difusión del pensamiento crítico y la opinión independiente que se genera en América Latina y para informar de lo que ocurre en la base de nuestras sociedades: movimientos sociales, naciones originarias, grupos culturales, asociaciones ciudadanas, agresiones al ambiente, etc. Nuestro mercado no se encuentra en un país u otro; nuestra nacionalidad en este sentido es el idioma en que nos lee. Y nuestra asociación con Arcoiris TV, además, nos permite enriquecer el trabajo con documentales, entrevistas y reportajes que normalmente no se pueden ver en la televisión comercial por considerarlos sin interés o porque han sido censurados. Usar Arcoiris es muy simple: Se entra en el sitio, se busca un video en categorías y se elige el tipo de conexión más adecuada al MODEM (ADSL para las conexiones de banda ancha y 56k para el MODEM analógico). Sin tiempo de espera, aparecerá la cinta, pues los lectores de archivos de video (Real Player y Windows Media Player) consienten el uso de la tecnología llamada streaming. Quien no tiene en su computador el lector adecuado, lo puede bajar sin costo y fácilmente desde la misma página de Arcoiris tv. [entrevista realizada em dezembro de 2004] Comité editorial Editor general: Jorje Lagos Nilsson Coordinación: Ximena Villanueva Ernesto Carmona, Luigi Lovecchio. Sylvia Vergara, Armando Salazar, Juan Carlos Mege, Jesús Sepúlveda Webmaster: Andrea Campagna Quienes quieran hacer sugerencias para mejorar el sitio o colaborar en él, pueden escribir a [email protected]. . editores da agulha Floriano Martins (Fortaleza, 1957). Poeta, editor, ensaísta e tradutor. Tem se dedicado, em particular, ao estudo da literatura hispano-americana, sobretudo no que diz respeito à poesia. Foi editor do jornal Resto do Mundo (1988/89) e da revista Xilo (1999). Em janeiro de 2001, a convite de Soares Feitosa, criou o projeto Banda Hispânica, banco de dados permanente sobre poesia de língua espanhola, de circulação virtual, integrado ao Jornal de Poesia. Críticas sobre sua obra, assim como entrevistas com o poeta, já foram publicadas no Brasil e no exterior, a exemplo de jornais como El Universal (Panamá), El Comércio (Peru), El Universal (México), El País (Uruguai), El País (Colômbia), O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Folha de S. Paulo, Correio Brasiliense, O Povo, Diário do Nordeste, Estado de Minas, O Globo, O Estado do Tapajós, e revistas como Prisma (Colômbia), Común Presencia (Colômbia), Paréntesis (México), Storm Magazine (Portugal), Alforja (México), Mapocho (Chile), TriploV (Portugal) e Voces (Estados Unidos) - material crítico assinado por nomes como Sérgio Campos, Carlos Felipe Moisés, Wilson Martins, José Paulo Paes, Maria Esther Maciel, Rolando Toro, Jorge Rodríguez Padrón, Ivan Junqueira, José Castello, Rodrigo Petronio, Eleuda de Carvalho, Carlos Germán Belli, Miguel Gomes, Alfredo Fressia, Maria Estela Guedes, Nicodemos Sena. Com larga trajetória de colaboração à imprensa, tem escrito artigos sobre música, artes plásticas e literatura, incluídos nas publicações citadas e também em outras, como Comércio do Porto (Portugal), Letras & Letras (Portugal), International Graphitti (Costa Rica), El Artefacto Literario (Suécia), Exégesis (Porto Rico), Crítica (México), Blanco Móvil (México), Casa del Tiempo (México), e brasileiras como Rascunho, Alô Música e Poesia Sempre. Organizou para as revistas mexicanas Blanco Móvil e Alforja duas edições especiais dedicadas à literatura brasileira, respectivamente "Narradores y poetas de Brasil" (1998) e "La poesía brasileña bajo el espejo de la contemporaneidad" (2001), bem como as edições especiais "Poetas y narradores portugueses" (Blanco Móvil, México, 2003) e "Surrealismo" (Atalaia Intermundos, Lisboa, 2003), respectivamente em parceria com Maria João Cantinho e Maria Estela Guedes. Como artista plástico participou de exposições como "O surrealismo" (Núcleo de Arte Contemporânea, Escritório de Arte Renato Magalhães Gouvêa, São Paulo, 1992), "Lateinamerika und der Surrealismus" (Museu Bochum, Köln, 1993) e "Collage - A revelação da imagem" (Homenagem ao centenário de André Breton 1896-1996, Espaço expositivo Maria Antônia/USP, São Paulo, 1996). Em maio de 2000 realizou o espetáculo Altares do Caos (leitura dramática acompanhada de música e dança), no Museu de Arte Contemporânea do Panamá. Um ano antes também havia realizado uma leitura dramática de William Burroughs: a montagem (collage de textos com música incidental), na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Dentre algumas conferências que tem proferido, destacam-se "América Latina e Identidade Cultural" (Centro de Humanidades, Universidade de Brasília, Brasília, 1998), "Linguagens contemporâneas e identidade nacional: literatura" (SESC Pompéia, São Paulo, 1999), "Algunos poetas brasileños (Ivan Junqueira, Dora Ferreira da Silva, José Santiago Naud, Sérgio Campos, Claudio Willer, Ruy Espinheira Filho, Adriano Espínola e Donizete Galvão)" (Faculdad de Humanidades de la Universidad de Panamá, 2000), "Sobre a condição editorial de algumas revistas de cultura na América Latina" (Instituto Goethe, São Paulo, 2001), "Surrealismo & Brasil" (Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, 2003) e “La modernidad de la poesía hispanoamericana” (Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Caracas, Venezuela, 2004). Participou dos seguintes volumes coletivos: Camorra (volume monográfico sobre Harold Alvarado Tenorio, Ediciones La Rosa Roja, Bogotá, 1990), Focus on Ludwig Zeller, poet and artist (Mosaic Press, Oakville-New York-London, 1991), Adios al siglo XX (Edição dedicada à poesia de Eugenio Montejo, Separata da revista Palimpsesto, Sevilla, 1992), O olho reverso. 7 poemas e um falso haikai (Edição comemorativa dos 41 anos de poesia de José Santiago Naud, Thesaurus Editora, Brasília, 1993), Tempo e antítese. A poesia de Pedro Henrique Saraiva Leão (Editora Oficina, Fortaleza, 1997) e Surrealismo e Novo Mundo (Ensaios sobre Surrealismo na América Latina, org. Robert Ponge, Editora da Universidade UFRS, Porto Alegre, 1999). Livros publicados Cinzas do sol (poesia). Mundo Manual Edições. Rio de Janeiro. 1991. Sábias areias (poesia). Mundo Manual Edições. Rio de Janeiro. 1991. El corazón del infinito. Trés poetas brasileños (traducción de Jesus Cobo) (entrevistas). Cuadernos de Calandrajas. Toledo, Espanha. 1993. Tumultúmulos (poesia). Mundo Manual Edições. Rio de Janeiro. 1994. Ashes of the sun (translated by Margaret Jull Costa) (poesia). Incluído em The myth of the world (The Dedalus Book of Surrealism 2). Dedalus Ltd. London. 1994. Escritura conquistada (Diálogos com poetas latino-americanos) (entrevistas). Letra & Música. Fortaleza. 1998. O começo da busca (Escrituras surrealistas na América Hispânica) (ensaio). Coleção Memo. Fundação Memorial da América Latina. São Paulo. 1998. Poemas de amor (antologia poética), de Federico García Lorca. Ediouro Publicações. Rio de Janeiro. 1998. [tradução e prólogo] Delito por bailar o chá-chá-chá (contos), de Guillermo Cabrera Infante. Ediouro Publicações. Rio de Janeiro. 1998. [tradução] Alma em chamas (poesia). Letra e Música. Fortaleza. 1998. Dois poetas cubanos (ensaios), de Jorge Rodríguez Padrón. Coleção Memo. Fundação Memorial da América Latina. São Paulo. 1999. [tradução] Três entradas para Porto Rico (ensaios), de José Luis Vega. Coleção Memo. Fundação Memorial da América Latina. São Paulo. 2000. [tradução] Alberto Nepomuceno (biografia). Edições FDR. Fortaleza. 2000. A nona geração (contos), de Alfonso Peña. Edições Resto do Mundo. Fortaleza. 2000. [tradução e prólogo] Cenizas del sol (poemas y esculturas). [com o escultor Edgar Zúñiga]. Ediciones Andrómeda. San José, Costa Rica. Setembro de 2001. Extravio de noites (poesia). Ed. Poetas de Orpheu. Caxias do Sul. 2001. O começo da busca - O surrealismo na poesia da América Latina (ensaio e antologia poética). Escrituras Editora. São Paulo. 2001. Nós/Nudos (25 poemas sobre 25 obras de Paula Rego), de Ana Marques Gastão. Editora Gótica. Lisboa, Portugal. 2004. [tradução] Un nuevo continente (Antología del Surrealismo en la Poesía de nuestra América). Ediciones Andrómeda. San José, Costa Rica. 2004. Estudos de pele (poesia). Editora Lamparina. Rio de Janeiro. 2004. Claudio Willer (São Paulo, 1940). Poeta, ensaísta e tradutor. Sua formação acadêmica é como sociólogo e psicólogo. Traduzido e publicado no exterior, entre outros lugares, em Quinta Intermundia, Rassegna di Poesia Internazionale, 1992, coletânea por Márcia Teófilo; Modernismo Brasileiro und die Brasilianische Lyrik der Gegenwart, antologia da poesia brasileira por Curt Meyer-Clason, Druckhaus Galrev, Berlim, 1997; Narradores y Poetas de Brasil, coletânea de Floriano Martins, revista Blanco Móvil, primavera de 1998, México, DF; Brasil 2000, Antologia de Poesia Contemporânea Brasileira, org. Álvaro Alves de Faria, ed. Alma Azul e Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, Coimbra, Portugal, 2000. Poemas e depoimentos também em revistas literárias: Poesia Sempre, Azougue, Alguma Poesia, Anto (Portugal), Continente Sul-Sur, Orion etc. Bibliografia crítica formada por ensaios, resenhas, reportagens e citação em obras de consulta por Afrânio Coutinho, Alfredo Bosi, José Paulo Paes, Luciana Stegagno-Picchio, entre outros. Como crítico e ensaísta, colaborou em suplementos e publicações culturais: Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, revista Isto É, jornal Leia, Folha de São Paulo, revista Cult, Correio Braziliense, Xilo etc, e projetos da imprensa alternativa como Versus e revista Singular e Plural. Filmografia e videografia, com destaque para Uma outra cidade, documentário de Ugo Giorgetti com os poetas Antonio Fernando de Franceschi, Rodrigo de Haro, Roberto Piva, Jorge Mautner, Claudio Willer, exibido na TV Cultura, São Paulo e na Rede Pública de TV, disponível em vídeo, produção SP Filmes e TV Cultura de São Paulo. Textos seus foram incluídos nas seguintes antologias e publicações coletivas: Alma Beat, L&PM Editores, 1985; Carne Viva, coletânea de poemas eróticos, org. Olga Savary, Achiamé, 1984; Folhetim - Poemas Traduzidos, org. Nelson Ascher e Matinas Suzuki, ed. Folha de S. Paulo, 1987, com uma tradução de Octavio Paz; Artes e Ofícios da Poesia, org. Augusto Massi, ed. Artes e Ofícios - Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, 1991; Sincretismo - A Poesia da Geração 60, org. Pedro Lyra, Topbooks, 1995; Antologia Poética da Geração 60, org. Álvaro Alves de Faria e Carlos Felipe Moisés, Editorial Nankin, 2.000; 100 anos de poesia brasileira – Um panorama da poesia brasileira no século XX, Claufe Rodrigues e Alexandra Maia, organizadores, O Verso Edições, Rio de Janeiro, 2001. Depois de ocupar outros cargos e funções em administração cultural, foi assessor na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, responsável por cursos, oficinas literárias, ciclos de palestras e debates, leituras de poesia, de 1994 a 2001. Dezenas de participações em congressos, seminários, ciclos de palestras, apresentações públicas de autores etc., no Brasil e no exterior. Presidente da União Brasileira de Escritores, UBE, eleito em março de 2000 para o cargo que já exerceu em dois mandatos anteriores, entre 1988 e 92; reeleito em março de 2002; além disso, também secretário geral da UBE em outros dois mandatos (198286), e presidente do Conselho da entidade (1994-2000). Livros publicados Anotações para um Apocalipse, Massao Ohno Editor, 1964, poesia e manifesto. Dias Circulares, Massao Ohno Editor, 1976, poesia e manifesto. Os Cantos de Maldoror, de Lautréamont, 1ª edição Editora Vertente, 1970, 2ª edição Max Limonad, 1986, tradução e prefácio. Jardins da Provocação, Massao Ohno/Roswitha Kempf Editores, 1981, poesia e ensaio. Escritos de Antonin Artaud, L&PM Editores, 1983 e sucessivas reedições, seleção, tradução, prefácio e notas. Uivo, Kaddish e outros poemas de Allen Ginsberg, L&PM Editores, 1984 e sucessivas reedições, seleção, tradução, prefácio e notas; nova edição, revista e ampliada, em 1999; edição de bolso, reduzida, em 2.000. Crônicas da Comuna, coletânea sobre a Comuna de Paris, textos de Victor Hugo, Flaubert, Jules Vallés, Verlaine, Zola e outros, Editora Ensaio, 1992, tradução. Volta, narrativa em prosa, Iluminuras, 1996. Lautréamont - Obra Completa - Os Cantos de Maldoror, Poesias e Cartas, edição prefaciada e comentada, Iluminuras, 1997. Estranhas experiências (poesia). Editora Lamparina. Rio de Janeiro. 2004. retorno ao portal índice geral banda hispânica jornal de poesia