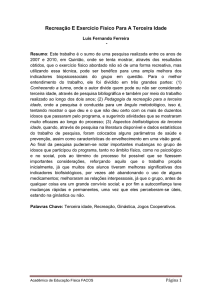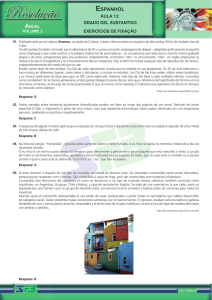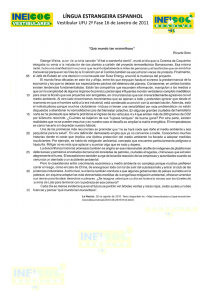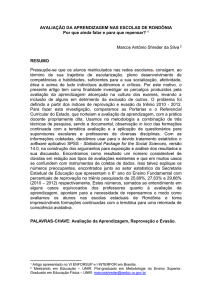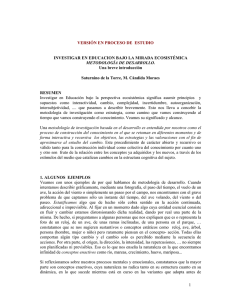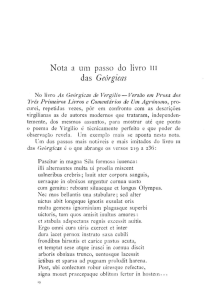revista de cultura
Anuncio

revista de cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Editorial Na plenitude dos dias Agulha chega, com esta edição, a seu número 32. Entrando no terceiro ano de existência, demonstra vitalidade. Isso comprova, é claro, a persistência de seus editores, e também a fidelidade de seus principais colaboradores e de seus leitores. A eles, portanto, os agradecimentos de quem faz esta revista eletrônica. Em um permanente esforço de atualização, graças à dinâmica possibilitada pelo meio digital, Agulha chega às caixas postais de seus leitores com uma periodicidade mais espaçada. E, em compensação, com mais matérias por número. Entendem os editores que essas matérias, em seu conjunto, mesmo sem refletirem posições fixas, opiniões de grupos, seitas ou tendências artísticas, mantêm coerência e refletem o compromisso com o novo, com o que está à margem, e com aquilo que deveria ser mais lido ou mais visto, para o enriquecimento da cultura e da crítica. Com efeito, há um entrelaçamento, uma diversidade das revista de cultura conexões possíveis entre várias das matérias aqui expostas, permitindo que seja vista a presença de algo articulado, dos fundamentos de um movimento, cabendo aos que participam de Agulha, fazer a costura necessária. Deve ficar bem claro que esta deve ser a modalidade de fusão almejada por todos, e não a violência com que vem se dando o crescimento de monopólios dos meios de comunicação, mercado editorial inclusive, além da mídia eletrônica, conforme já foi denunciado e comentado aqui, em editoriais, por várias vezes. Uma cumplicidade essencial, isso é o que está sendo possibilitado aos leitores da Agulha, inclusive através da livre freqüência de outras iniciativas, a exemplo do diálogo agora estabelecido com os diretores de El Artefacto Literario, Digestivo Cultural e Jornal da ABCA. Ao mesmo tempo, cabe remeter ao Dossiê sobre Surrealismo ventilado na TriploV, à entrevista com Tânia Gabrielli-Pohlmann, radialista brasileira que vive na Alemanha e ali divulga a música brasileira, à visão contundente e apaixonada de bons poetas brasileiros atuais, a um desenhista de HQ e animação, o chileno residente nos EUA Ciruelo Cabral, a esse polêmico cineasta que é Lars von Trier, e à recuperação crítica de nomes importantes da poesia européia como o francês Benjamin Péret e o espanhol José Hierro, sem falar na leitura que faz Tiziano Salari de quatro essenciais poetas expressionistas italianos. Entre tantos focos de interesse, sem dúvida está a entrevista com dois personagens de relevo da cultura ibero-americana nas últimas quatro décadas: o argentino Miguel Grinberg e o mexicano Sergio Mondragón. São nomes associados, respectivamente, às históricas revistas Eco Contemporáneo e El corno emplumado. Dão depoimentos que permitem avaliar corretamente o que se passou com toda uma geração em vários pontos do continente americano, em uma rede continental e trans-continental de intercâmbio, de abertura para o novo e subversão do estabelecido. Foram, através dessas revistas e em sua atuação pessoal, porta-vozes do pacifismo e da defesa do meio ambiente, entre outras grandes causas, antecipando os movimentos sociais e as rebeliões juvenis que ganharam corpo ao longo da década de 60. Volta ao passado? Não, atualidade, pois nessas entrevistas, assim como em outros lugares de Agulha, são discutidas ações atuais, porém estimuladas pela visão atual de ações passadas. revista de cultura Ainda mais agora, neste momento, quando forças regressivas colocam o mundo todo à beira de um colapso, do qual um dos sintomas, não o único, porém o mais evidente, é o recrudescimento do militarismo. Nesse contexto, veicular o que foi e continua sendo vanguarda é a forma coerente de protestar contra os que se empenham pelo retrocesso. Contra a barbárie, apresentamos os valores humanísticos, a cultura viva, em sua plenitude e, acima de tudo, em sua diversidade. Os editores Sumário 1 alfonso peña: conversación en la ciudad oculta (entrevista). tomás saraví 2 annibal augusto gama: páginas que se abrem em silêncio (entrevista). leontino filho 3 benjamin péret o el mundo al revés. carlos m. luis 4 ciruelo cabral: un dios del cromatismo, un rey en el dibujo (entrevista). sonia m. martín 5 el corno emplumado e eco contemporáneo, grandes momentos da história da cultura iberoamericana: sergio mondragón & miguel grinberg (entrevista). claudio willer 6 el legado poético de josé hierro (entrevista). miguel ángel muñoz 7 fabrício carpinejar: contra a monarquia da poesia brasileira (entrevista). floriano martins revista de cultura 8 floriano martins e o mergulho em todas as águas (entrevista). rodrigo petronio 9 lars von trier: a estética pós-dogma (entrevista). antonio júnior 10 los poemas-objeto de franklin fernández: dos visiones críticas: carlos yusti y ramón hernández 11 maria joão cantinho: os abismos selvagens da escrita (entrevista). floriano martins 12 numerologia nas minas de salomão. maria estela guedes 13 reflexos expressionistas na poesia italiana. tiziano salari 14 surrealismo & poéticas do apocalipse. contador borges 15 tânia gabrielli-pohlmann: em defesa da música brasileira na alemanha (entrevista). solange castro artista convidada paula rego (pintura) texto de maria joão cantinho revistas em destaque digestivo cultural (diálogo com julio daio borges), el artefacto literario (diálogo com mónica saldías) e jornal da abca (diálogo com alberto beuttenmüller) livros da agulha américo ferrari, gustavo de castro & alex galeno, hélia correia, josé luis vega, leonardo vieira de almeida, lucila nogueira, maria joão cantinho, prisca agustoni, tomás saraví, verónica d'auria & silvia guerra galeria de revistas (artigos & entrevistas) revista de cultura catálogo triplov.com.agulha.editores Expediente editores floriano martins & claudio willer projeto gráfico & logomarca floriano martins jornalista responsável soares feitosa jornalista - drt/ce, reg nº 364, 15.05.1964 conselho editorial alfonso peña (costa rica) alfredo fressia (brasil) benjamin valdivia (méxico) contador borges (brasil) helena vasconcelos (portugal) maria esther maciel (brasil) maria joão cantinho (portugal) mónica saldías (suécia) rodolfo häsler (espanha) saúl ibargoyen (méxico) soares feitosa (brasil) correspondentes alfonso peña (costa rica) américo ferrari (peru) bernardo reyes (chile) carlos m. luis (uruguai) carlos véjar (méxico) eduardo mosches (méxico) edwin madrid (equador) revista de cultura francisco morales santos (guatemala) harold alvarado tenorio (colômbia) jorge ariel madrazo (argentina) jorge enrique gonzález pacheco (cuba) josé luis vega (porto rico) marcos reyes dávila (porto rico) maría antonieta flores (venezuela) maria estela guedes (portugal) prisca agustoni (brasil) sonia m. martín (estados unidos) artista plástico convidado (pintura) paula rego apoio cultural jornal de poesia banco de imagens acervo edições resto do mundo os artigos assinados não refletem necessariamente o pensamento da revista agulha não se responsabiliza pela devolução de material não solicitado todos os direitos reservados © edições resto do mundo escreva para a agulha floriano martins ([email protected]) claudio willer([email protected]) Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Alfonso Peña: conversación en la ciudad oculta Tomás Saraví . Narrador, ensayista y editor (Costa Rica). A lo largo de un decenio (1980-1990) dirigió la revista de Arte y Literatura latinoamericana Andrómeda (33 números) la cual se distinguió en esos 10 años por publicar un ajustado panorama de la literatura que se producía a nivel continental. Ha publicado Noches de Celofán (1ª edición Premiá Editores 1987, 2ª edición aumentada y corregida Editorial Euned 1996). La Novena Generación (Premiá Editores, 1997) la cual fue vertida al idioma portugués por el traductor y editor Floriano Martins e ilustrada por el artista brasileño Eduardo Eloy A Nona Geração (Edições Resto do Mundo, Fortaleza, 2000), asimismo A Nona Geração ha sido editado como libro electrónico (Edições Agulha-Books/Brasil, 2001). El Surco de la Gubia 6 grabadores contemporáneos (Ediciones Andrómeda, 2ª edición 2001). Desde el Centro, cuentos de Alfonso Peña (Ediciones Como un Ave Libre, Casa de la Poesía La Habana Cuba, 2002). Una buena parte de sus ficciones han sido vertidas parcialmente a los idiomas inglés, francés e italiano. Ha sido escogido en algunas importantes antologías internacionales, mereciendo una especial mención la compilada por el crítico e investigador de origen uruguayo Olver Gilberto de León Anthologie de la Nouvelle Latinoamericane, publicada en 1992 por la editorial Belfond/UNESCO, en París. Actualmente edita junto al escritor Guillermo Fernández la revista de Arte y literatura Matérika. Colabora regularmente con revistas y suplementos latinoamericanos. Integra el Consejo de Edición de las revistas Agulha (Brasil), Tinta Seca (México), Vericuetos (Colombia) Agulha - Revista de Cultura y Maldoror (Argentina). TS - "Veinte años no es nada", es la consigna del tango. En nuestro caso, Alfonso, son 22 años de amistad y, en la medida de lo posible, de haber hecho algunas cosas en este territorio que nos une, el territorio de la cultura. Nuestro reciente proyecto, que culminó prácticamente la primera semana de este año 2003, en torno a los Cuentos del San José Oculto, creo que puede interesar a los lectores de Agulha. AP - Cuando vos decís veinte años, me encamino imaginariamente a la ventana barroca que tenía tu apartamento, que miraba de frente a una de las amplias paredes de la antigua Fábrica Nacional de Licores, hoy CENAC. Ahí se inicia esa suma de experiencias, que poco a poco se nos dieron para cimentar un imaginario alrededor de la ciudad de San José, que agrupa a amigos de diferentes ámbitos hasta conformar una serie de ideas, temas y proyectos, y hoy podemos hablar de la culminación del proyecto del San José Oculto; es un proyecto integral con un volumen en el que participan ocho narradores y cuenta con un diseño muy moderno; y está acompañado de una interesantísima muestra gráfica del artista Juan Bernal Ponce. Esto lleva el sello de las Ediciones de Arte Andrómeda y el Taller de la Imaginación... El libro como un objeto de arte. TS - Más que un libro, se podría señalar como un proyecto cultural integral, al estilo del Movimiento Andrómeda. AP - Podríamos hablar de ilustres antecesores... como el caso del surrealista Max Ernst, uno de los pioneros para que se diera las bodas entre el cielo y el infierno... Para que se diera el diálogo esencial entre gráfica y literatura... A lo largo del siglo XX se dieron muchos casos. Los dadaístas, El surrealismo, el movimiento ultraísta que dirigía Borges; en los últimos decenios se han retomado esos conceptos y sabemos de experiencias semejantes de Antoni Tápies con poetas catalanes, Octavio Paz con artistas alemanes, los libros de textos y fotografías de Cortázar, los libros de artista -tan en boga, hoy en día- entre plásticos y poetas. San José Oculto es una complicidad entre lo narrado y lo grabado. En esta comunión hay un hecho sobresaliente, el lector y el observador del grabado, en última instancia, son los favorecidos. Recordemos que, además del volumen de cuentos, de manera adicional los grabados que acompañan los textos se presentan a los coleccionistas en una cuidada edición gráfica, numerados y firmados por el artista. Con esto reafirmamos la identidad de las Ediciones de Arte. TS - Esta ciudad que llamamos Oculta, donde tuvo varias de sus sedes la revista Andrómeda, a la cual he caracterizado varias veces Agulha - Revista de Cultura como el París Josefino... A este casco antiguo, quiérase o no, le debemos algo... AP - Sin caer en pedantería, nadie mejor que Andrómeda para llevar a cabo un proyecto como el que nos ocupa. Ya lo vislumbrábamos, desde los albores de la revista, cuando poco a poco se acercaron los poetas, se aunaron los artistas gráficos, se sumaron los plásticos, gente de cine, etc De manera "invisible" se fue armando un andamiaje que con el tiempo produciría una serie de sorpresas atractivas para quienes de una u otra manera mantenían un diálogo con los diversos grupos del trabajo que girábamos alrededor de una idea mancomunada que era hacer y mantener una revista de arte, que se convirtió poco a poco en una reunión de amigos, en intercambio de ideas. Podríamos recordar las sesiones de los sábados, donde participaron durante 15 largos meses muchos artistas, invitados internacionales, poetas, músicos que pasaban por San José. Esa fue la dinámica de Andrómeda: el pluralismo, la democracia, el debate de ideas, el intercambio, el puente y el canje con revistas y artistas de toda América Latina... y otras latitudes... Sin perder de vista que lo hacíamos al amparo de la Ciudad Oculta... TS - He sido testigo de eso a lo largo de esos años, un testigo comprometido con esa causa, y he visto cómo ante los ojos sorprendidos de la "burguesía josefina", de la "clase media ilustrada" que se acercaba a intimar con este mundillo muy bohemio de artistas de todo tipo, se fue gestando realmente un Movimiento. No sobre la nada, porque debemos recodar que, como telón de fondo, la revista Andrómeda, entre el año 80’ y el 90’ llegó a editar 33 ediciones, además de las ediciones en formato de libro y una actividad cultural que era permanente y que se desarrollaba en un marco sui géneris: presentaciones de libros, arte conceptual, recitales, charlas, ciclos de arte contemporáneo, mimos, sesiones surrealistas, música experimental... Siempre en el ámbito de la creatividad y las ideas. AP - Precisamente hace pocos días conversé con alguno de los poetas que hoy se acercan a la sede de Andrómeda. Los visitantes se quedan sorprendidos al comprobar la apertura y las puertas abiertas de Andrómeda. Al rato vino la pregunta de rigor: "¿cómo idearon un proyecto de este tipo?" De inmediato, como un relámpago, recordé una reunión informal que algunos amigos tuvimos en un café de la universidad, con tres o cuatro poetas y algún gráfico centroamericanos: salvadoreños, hondureños, nicaragüenses. Ante la escasísima posibilidad que existía en aquel momento de publicar textos, de ver publicados los poemas, los cuentos, los grabados, nos lanzamos a hacer un primer número, sin pensar en las implicaciones ulteriores. El resultado de esto fue que de un momento a otro teníamos en nuestras manos un material Agulha - Revista de Cultura modesto que era la publicación impresa. Era como tener en las manos una metralleta, como la tiene un francotirador, y entonces te jugás el pellejo, porque ya no hay manera de que aquello regrese a las gavetas sino que comienza a circular, va a la calle. Esa primera edición nos abrió los ojos de que en un país como Costa Rica, muy parecido a cualquier otro de América Latina, se nos daba la posibilidad de tener un medio impreso, independiente, insurrecto, no complaciente... TS - Lo recuerdo perfectamente, porque fue en aquella época, alrededor del año 80, cuando me sorprendió conocer los números 1 y 2 de Andrómeda. Que, por cierto, son los únicos que salieron en un formato más pequeño, artesanal, con una impresión algo precaria; de inmediato se abrió ante mis ojos un mundo nuevo porque había poetas ticos y centroamericanos de una gran calidad. Fue en ese momento, que me adherí a ese proceso nuevo; simultáneamente lo iban haciendo sectores importantes de la cultura. Qué buena sorpresa fue encontrarme una mañana, en la oficina de Andrómeda, al Grupo de Humoristas de la Pluma Sonriente con la presencia emblemática del maestro Hugo Díaz, protagonista de grandes luchas. Pasarían pocos días para que otro maestro, esta vez el nicaragüense Pablo Antonio Cuadra, se hiciera presente en la redacción de la revista. AP - Ese fue un hecho muy importante. Fue una especie de aguijón vital. Una tarde tuvimos un encuentro con Pablo Antonio; por gentileza de los poetas nicaragüenses Mario y Francisco Santos se hizo la conexión. Fue una posibilidad de encontrarnos con Cuadra y tener la oportunidad de estar con una figura de su talla y de observar el interés de él por conocer de cerca las inquietudes de aquellos jóvenes escritores y pintores que se iniciaban en esas labores. Era una persona con una cultura fuera de serie y, además, un verdadero humanista; él nos permitió un diálogo amplio, franco y cordial durante una larga tarde, que luego se extendería por dos décadas...Recuerdo que hablamos de la poesía centroamericana, del flagelo de la guerra en Centroamérica, el problema de la diáspora centroamericana... la amargura del exilio, los gorilas y monigotes en el poder, sobre la complejidad de esto que llamamos " la cintura de América". Fue un estímulo muy positivo; y nos entusiasmó comprobar que un poeta universal se mostraba interesado en conocer lo que hacían los jóvenes creadores en Centroamérica. Este encuentro fue más o menos cuando se habían editado los números dos o tres. No había transcurrido un mes cuando Pablo Antonio, desde las páginas del suplemento cultural La Agulha - Revista de Cultura Prensa Literaria de Managua hizo una reseña de la revista y reprodujo poemas y cuentos de algunos de los escritores que habían participado en aquellas ediciones. A partir de ahí con los escritores nicaragüenses tenemos un buen encuentro y se van abriendo muchos espacios para tener un diálogo plurivalente con diversas revistas y suplementos de América latina y otras latitudes. TS - Al mismo tiempo se comenzó a desarrollar una intensa actividad cultural, pero en un subsuelo marginal, que alguna periodista desde un medio oficial caracterizó como "contracultural", porque la propuesta del Movimiento siempre fue enfrentar al orden constituido. Si no no tiene gracia; qué clase de vertiente surrealista encontrás en un movimiento si no se enfrenta con las fuerzas del orden, en lo político, en lo literario, en lo religioso. Como bien decís, hubo un momento en el cual en algunos países centroamericanos y sudamericanos, y también en cuarteles dispersos literarios libres de México, sin olvidarnos del Movimiento Chicano, muy pronto se establecieron contacto con Andrómeda.... AP - Fue como una explosión. Era emocionante ver la redacción de la revista llena de revistas y libros de muchos países, y alrededor de esa mesa de trabajo muchos escritores y poetas y pintores leyendo con avidez y entusiasmo aquella información. Vos podías encontrar desde revistas como Crisis, Plural, Tiempo de Combate, Gradiva, Golpe de Dados, Casa de las Américas, El pez y la serpiente, La selva subterránea, Nicolau, Hora de Poesía, Anthropos, entre otras, hasta boletines y manuales de los movimientos de liberación latinoamericana. Recíprocamente, nuestras ediciones circulaban por América Latina y el intercambio era muy fluido, máxime que todavía no existía la comunicación vía internet. Además, recordemos que San José tiene un movimiento bastante cosmopolita, es un ir y venir, es un lugar de paso, al igual que en los tiempos de nuestros pueblos primigenios. Pareciera que toda Centroamérica es un lugar de paso y estratégicamente bien situado. TS - Existe un pasaje en la génesis del Movimiento Andrómeda que habría que destacar. Es algo que poco se recuerda. En el año 80-81 yo trabajaba como artista callejero y algún día, (seguro que en un fin de semana), andaba disfrazado de uno de mis personajes, El Monstruo Verde; invitado por el poeta Rodolfo Cerdeño pasé a dar una vuelta por Andrómeda, que estaba situada en un punto estratégico del San José Oculto, en un local del Centro Comercial El Pueblo. Ese centro es como una reproducción del barrio La Candelaria en Bogotá; es un lugar lindísimo. Recuerdo que entre broma y broma con los transeúntes yo caminaba por los pasillos y las escaleras y me preguntaba como es qué Andrómeda estaba allí... Agulha - Revista de Cultura AP - En aquel momento el Centro El Pueblo, atravesaba una crisis financiera; no había logrado proyectar una imagen definida, para atraer un público que tuviera todo tipo de manifestaciones en esa infraestructura tan onerosa y tan difícil de mantener. Ahi es donde aparece Edith Cossio, una señora colombiana que trata de dar otra imagen al lugar. A la par de los restaurantes, y los cafés de tipo europeo, y las discos y las boutiques, los salones de baile y todo tipo de bares, poco a poco van apareciendo los estudios de pintores, de fotógrafos, de dibujantes, de caricaturistas y hasta de alguna poetisa soñadora y progresista. Por sugerencia de algún amigo común Edith Cossio se enteró de la existencia de Andrómeda y nos propuso una interesante agenda cultural, a cambio de uno de aquellos locales. A partir de ahí efectuamos un gran despliegue de actividades plásticas, literarias, poéticas, entre traguito y traguito de ron... Aquello, como era de suponer, no duraría demasiado. Estuvimos ahí, en medio de aquella vida nocturna y acelerada aproximadamente un año. Creo que la gestión de nuestra amiga colombiana salió favorecida con la ayuda de los artistas, pues con ese tiempo de animación cultural El Pueblo se convertiría en un lugar atractivo y muy concurrido. TS - En medio de ese desbarajuste, me sorprendió encontrarme con alguien (yo soy ríoplatense) que manejara tan bien ciertas claves del submundo literario de Buenos Aires y Montevideo. En aquel momento, Alfonso, ya tenías un buen conocimiento, sobre todo en un territorio americano balcanizado, donde nos han dividido, y han tratado de que nunca juntáramos aportes culturales de un pueblo con el otro, del uruguayo Felisberto Hernández y los argentinos Santiago Dabove y Macedonio Fernández. No era habitual que en Costa Rica se discutieran en aquel momento estos autores, por la incomunicación existente e incluso porque en sus propios países aún no habían sido plenamente reconocidos. AP - Esto se debe a que desde muy pequeño me interesé por la ficción y la literatura fantástica. Después de leer a Allan Poe, a Hoffman, a Stevenson, entre otros, tuve que hacer el pasaje a la literatura ríoplatense tan conectada con esta tradición norteamericana y europea. En aquel momento se me abrió una serie de corredores novedosos, escenarios lúdicos, ventanales circulares, y me encontré ante un universo fascinante. Muy temprano tuve la dicha de descubrir a un escritor como Felisberto Hernández. Me pareció tan asombroso que un hombre que se ganaba la vida tocando piano en los suburbios de Montevideo y el interior de Uruguay hiciera esa clase de literatura. El primer cuento que leí de Felisberto fue "Las Hortensias"; aquello me pareció tan extraordinario que de Agulha - Revista de Cultura inmediato empecé a rastrearlo. Y es que, vos lo sabés, el mundo literario de Hernández es una experiencia insólita y enriquecedora, y al adentrarse en su escritura depurada, totalmente personal, con una carga de recursos poéticos, los objetos inanimados van adquiriendo su propia vida y son elementos importantísimos en ese "submundo" cargado de chistes metafísicos, gags, alucinaciones, o en su defecto las casas abandonadas, las puertas misteriosas, las casonas solitarias donde perviven extraños sujetos con excéntricas mujeres mordidas por la neurosis. Lo anterior me impactó de una manera directa, pues como te dije venía de un pasaje por la literatura fantástica norteamericana y europea y aquello que se me presentaba me parecía maravilloso. A través de Hernández, fui conociendo a otros escritores y cuentistas argentinos y uruguayos, como el caso de Dabove, o Roberto Arlt o Juan Carlos Onetti, éstos dos últimos, sin ser del todo escritores fantásticos, tienen una gran garra y especial valentía para contar, o aquellos dos gigantes que hacían literatura fantástica y antologías y libros policiales al alimón, Bioy Cásares y Borges. TS - Podríamos decir que fuiste fuertemente influenciado por esa corriente... AP - De alguna manera es una marca indeleble. Seguro que son especies de pecas y otros vestigios en la manera de contar, en las descripciones, en el uso del lenguaje. Aunque tal vez eso se da en los primeros años, luego vendrían otras vertientes. TS - Para mi también fue una sorpresa en los primeros años ochenta, encontrar en este sorprendente medio cultural, gente que manejaba con gran soltura los referentes de tipo esotérico, algo que es muy propio de San José; donde se conoce con gran propiedad la tradición hermética, el ocultismo. Había verdaderos eruditos en esos temas. De pronto podías descubrir, yo por lo menos lo descubrí, un fenómeno muy generalizado que alguna gente de la propia ciudad es reacia a entender. AP - Tenés razón. No podemos pasar por alto las alargadas y agotadoras disertaciones del alquimista Disifredo Garita. O la turbia presencia del Santón Martín Bosco, o de las lecturas del tarot que nos hacía Alma la gitana... O aquellos cónclaves que se extendían durante varios días cuando aparecía un mago callejero y pernoctaba entre la redacción contando sus recientes descubrimientos, hallazgos y experiencias. Mientras tanto, en la avenida centroamericana se desarrollaba la bronca... Fueron los años del derrocamiento, exilio y ejecución de Somoza, las luchas de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Alguna gente no entiende como en el cenáculo de Andrómeda sucedían las cosas que acabamos de describir. Agulha - Revista de Cultura TS - Costa Rica tiene una tradición literaria muy valiosa, con nombres como García Monge, Brenes Mesén, Calufa, Joaquín Gutiérrez, Fabián Dobles, Carmen Lyra, Azofeifa, Amighetti, Max Jiménez, Eunice Odio o Yolanda Oreamuno, que son los antecesores... Al referirme a este tema, quiero comentarte algo sobre un capítulo relacionado con la vida de Andrómeda que yo me perdí casi por completo, porque hubo un personaje de singular importancia en la poesía, en el periodismo, en el cuento fantástico, que era Alfredo Cardona Peña. Vivía en la ciudad de México; las veces que vino por acá, mantuvo reuniones con los poetas y escritores de Andrómeda, sobre todo aquellas que se daban en aquel misterioso Bar Morazán, frente al Parque del mismo nombre, siempre en el San José Oculto. AP - Creo que con Alfredo Cardona, tuvimos un primer contacto en el año 85. En una de las invitaciones que le hizo la editorial de la UNED para publicar alguno de sus libros. Fuimos a uno de sus kilométricos recitales de poesía con el poeta David Maradiaga. Le entregamos ejemplares de Andrómeda y Alfredo se interesó muchísimo; nos contó que ya la conocía, pues él era colaborador de Plural y, además, la revista circulaba en el DF; se distribuía en una de las librerías de la Zona Rosa y era conocida por diversos poetas y escritores. Nos expresó que como tico, se sentía muy complacido y orgulloso con la publicación y nos reiteró que le parecía que esta revista en nada se parecía a la literatura costarricense, pues tenía proyección latinoamericana y que era sorprendente que fuera editada en San José. A partir de ahí nos hicimos amigos y cada vez que venía nos encontrábamos. Generalmente llegaba en diciembre y se quedaba durante el mes de enero. El Bar Morazán era su preferido. Recuerdo que en este bar, que es de finales del siglo XIX, departíamos y manteníamos los encuentros: eran horas y horas de conversación... Tomábamos el bar por asalto; juntábamos dos o tres mesas frente a la vieja rockola, y mientras en la máquina sonaban canciones de Rocío Durcal, Sandro, Los Iracundos, Daniel Santos, Gilberto Hernández, Roberto Carlos, Leonardo Fabio, Julio Jaramillo, o un tango de Magaldi, Alfredo leía con su desenfado particular un poema de reciente producción... Aquello era como una escena fantasmagórica. Imagínate, aquel hombre que nos llevaba una enorme cantidad de años, rodeado de poetas y jóvenes escritores, contando anécdotas, vivencias... Él era un gran conversador e improvisador, además de su cimentada cultura y el aire jovial que tienen los verdaderos artistas, y eso lo valoramos y siempre le agradecimos su amistad, consejos literarios y cariño. TS - Alfonso, vos, como escritor fantástico y además con una dosis de humor negro que sobresale en tu producción y en tu personalidad, nos podés hablar acerca de aquella memorable Agulha - Revista de Cultura "joda", que en algún momento se calificó como "La última cena de Andrómeda". AP - Cuando llegamos a la edad de los 33 números de la revista, organizamos un festejo para celebrar el décimo aniversario. Monsieur Lacroix, director de la Alianza Francesa en San José, patrocinó aquella celebración. Desde mucho tiempo atrás, él era un amigo incondicional de Andrómeda. Esa noche se dio una concurrida asistencia de amigos y colaboradores, poetas, escritores, editores, artistas plásticos y gráficos, cineastas, etc. En un marco de gran solemnidad, en una de las salas de la Alianza se proyectaron las 33 tapas de la revista; como contrapartida se escuchaba una tenebrosa música progresiva. Luego participaron dos poetas y leyeron sus creaciones. Después emergieron los saloneros con el vino francés y las exuberantes comidas. Se bailó, se cantó y se festejó hasta medianoche. Cuando las candilejas de esa antigua casa –que también está establecida desde el siglo XIX en el San José Oculto- se extinguieron, nadie se percató de que había sido una "joda". Nadie advirtió que había presenciado un asesinato freudiano; simbólicamente, los concurrentes, habían asistido al gozoso homicidio de la revista Andrómeda. Porque esa fue la noche final. TS - ¿Qué sucede en el posterior período de silencio que duró algunos años? AP - Después de aquella "inolvidable despedida" cerramos el fortín por un buen tiempo. Poco después, con el correr del tiempo, y ante la urgencia de mantener viva la comunicación internacional, aproximadamente desde 1995 establecimos de nuevo contacto con diferentes amigos que estaban activos en sus proyectos. Luego de caminar e intercambiar conocimientos por diversos talleres y editoriales de América latina, participé en varias ferias del libro y de la poesía; con nuevos bríos y renovadas fuerzas lanzamos la propuesta del Taller de la Imaginación que se fusionó con Ediciones Andrómeda. Además, ya estábamos conscientes de las nuevas corrientes tecnológicas. Internet avanzaba aceleradamente, se nos venía encima la globalización, etc. Cuando reiniciamos nuestra ediciones, ya fueran gráficas, de artistas consolidados latinoamericanos o en el formato de libros de arte, comprendimos cabalmente la fuerza que tenía Andrómeda. De inmediato muchos amigos del continente nos ofrecieron su adhesión, y ni qué decir de nuestro pueblo, de nuestros lectores, Agulha - Revista de Cultura de nuestros allegados, que nos respaldan con una alta dosis de generosidad. La propuesta de Ediciones Andrómeda, se fundamenta en la publicación de libros de poesía, escultura, narrativa, y plástica. Son ediciones muy bien cuidadas, casi todas con su paralelo proyecto gráfico. En cada una participa un equipo profesional de editores, diseñadores, artistas, etc. Cada obra viene acompañada de una edición especial que se diferencia de la que se hace en rústica.. Con lo anterior logramos un estímulo importante, ya que incentivamos la lectura y la adquisición de libros novedosos acompañados de un grabado de un artista contemporáneo, todo esto a precios muy accesibles. La respuesta ha sido inmediata y apasionada por parte de los lectores y seguidores del arte contemporáneo. TS - Paralelamente, aparece la revista Matérika AP - Conforme se fueron dando las diferentes colecciones, nos dimos cuenta de que era necesaria una publicación con el formato de revista. Entonces, con el escritor Guillermo Fernández y un selecto equipo de colaboradores nacionales y continentales diseñamos el proyecto de la revista Matérika. La publicación es de un formato "manejable", con materiales de primera mano y un diseño atractivo. En ella participan autores y artistas de renombre, aunque también se asigna un considerable espacio a los artistas jóvenes. Creemos que con esto contribuimos a mantener viva la identidad del Movimiento; es una especie de antena, es una revista que apuesta por la cultura y el arte del continente. Actualmente preparamos la edición N° 7. En ella se podrá leer materiales muy variados. Veremos en sus páginas a artistas como Claudio Willer, García Lorca, Carlos Barbarito, Wilfredo Lam, Rodrigo Quesada, cuentos de Felisberto Hernández en su centenario, poesía y cuento joven costarricense, con una muestra gráfica de la grabadora Ileana Moya. TS - En los mentideros literarios del ciberespacio se comenta, cada vez con mayor insistencia, algo que tiene que ver con un proyecto surreal, tan surreal, que podría ser surrealista y que está manejado por las manos de Floriano Martins y Ediciones Andrómeda... AP - En efecto, la noticia circula en el ciberespacio. Es una comunicación de Ser Espacial, que es un suplemento electrónico que atende a las publicaciones Agulha, Alô Música y TriploV, de Brasil y Portugal. Podríamos resumirla de la siguiente manera: generalmente se cree que el surrealismo solo tuvo fuerza en París y en algunas otras capitales europeas. Y cuando se habla o se escribe del Surrealismo Latinoamericano, muchas veces el que escucha arruga el ceño, como diciendo: éstos viven en el limbo... Algo así. Agulha - Revista de Cultura Floriano Martins, poeta e investigador brasileño, durante décadas se ha dado a la tarea de investigar ese movimiento surrealista latinoamericano, que ha estado vivo y sigue latiendo en diferentes ciudades como Medellín, Buenos Aires, Montevideo, Caracas, el D.F., São Paulo, entre otras... El surrealismo latinoamericano no está momificado ni mucho menos petrificado. Anteriormente (estamos hablando de una buena cantidad de años) se hizo un intento por abordar este tema. El español Ángel Pariente preparó una antología del surrealismo en lengua española, incluidos los poetas españoles. Luego, Stefan Baciu, agrupó a algunos poetas surrealistas latinoamericanos y solo por el hecho de llamarse así dejó por fuera a los brasileños y a los francofonos... Baciu, solo tomó en cuenta que la selección la hizo pensando en los latinoamericanos que en algún momento estuvieron ligados al movimiento surrealista. Craso error... Creo que el tema es candente. Los lectores interesados pueden localizar en www.triplov.com un dossier muy completo sobre esto que estamos conversando: Surrealismo: poesía y libertad. Actualmente, estamos trabajando en lo que será esta completa antología del Surrealismo Latinoamericano. Creemos que este será un buen proyecto para este 2003 que se inicia... TS - Sin hablar en términos demasiado concretos, pues se sabe que cada proyecto, debe tener su elemento sorpresa, su reserva y su tiempo de gestación, ¿podríamos conocer en qué tiempos y con qué métodos se realizará? AP - El prólogo y la selección son de Floriano Martins. El libro incluirá una representación de 30 poetas; además, traerá una muestra gráfica de cinco artistas surrealistas latinoamericanos. Floriano Martins, ferviente investigador del tema, ha adelantado que su trabajo está dedicado al escritor costarricense Max Jiménez, considerado por él como uno de los más importantes artistas surrealistas de América latina. Se proyecta a un plazo de cuatro meses. La edición será de muy buena factura y circulará por diferentes capitales del continente. En el N° 7 de Matérika que aparecerá muy pronto, adelantaremos algo más de este proyecto, mientras tanto mantengamos la calma. Agulha - Revista de Cultura Tomás Saraví. Escritor y periiodista argentino radicado en Costa rica desde 1979. Su novela Flores para el lobo se encuentra en proceso de segunda edición (Ediciones Andrómeda, San José). Contacto [email protected]. Fotos de Alfonso Peña y Tomás Saraví, por José Luis Moya. Página ilustrada com obrtas da artista Paula Rego (Portugal). retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Annibal Augusto Gama: páginas que se abrem em silêncio Leontino Filho . A literatura mais do que qualquer outra atividade não admite meio termo, para ser grande e necessária, ela precisa ser inteira. Exercício pleno do embate do homem com os seus múltiplos fantasmas, com as suas angústias, com as suas solidões, com os seus medos e com as suas andanças no reino da palavra imaginada e sentida com toda a força do pensamento. A literatura, como vasta vereda do existir, requer sempre uma devoção total, a despeito de se tornar frágil e mero cosmético, reles penduricalho para enfeitar os salões nobres e vazios dos poderes mercenários da sociedade. A literatura é, pois, a arte que nasce do estrondoso silêncio da criação, no instante mesmo em que o poeta, diante da página em branco, visita o universo do desejo e refaz outros mundos a partir do seu próprio território. Ou quando o escritor, no afã de dizer o que o inquieta, constrói os mais variados lugares do ser habitado pelas mais díspares personagens - o mundo se agiganta com o vôo do fazer literário. Do silêncio falante da literatura, surge a voz marcante e singular do poeta e escritor mineiro Annibal Augusto Gama (Guaxupé, 1924), que no auge de sua vitalidade artística, vem produzindo, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde está radicado há mais de 30 anos, uma obra densa, vigorosa, importante e, sobretudo, em permanente diálogo com a fina flor das literaturas brasileira e universal. O primeiro livro publicado por Annibal Augusto Gama, foi o Manual para aprendiz de fantasmas (FUNPEC, 2001), uma Agulha - Revista de Cultura verdadeira arte de encantar seres, sejam eles imaginários ou não. O encantamento literário desconhece portas, já que está sempre com as janelas abertas para novas intromissões. Manual para aprendiz de fantasmas possui a rara qualidade de embaralhar com sabedoria e engenho os gêneros. Visita com desenvoltura e gênio o romance, o conto, a crônica, a poesia e o ensaio. Catalogar uma obra como esta é pura distração, melhor dizer que é um livro onde a ficção entrelaça-se com a vida de tal maneira que ambas passam a ter qualidades recíprocas nessa parceria. O segundo trabalho publicado pelo Annibal Augusto Gama intitula-se A volta de Simão Bacamarte (FUNPEC, 2001), uma deliciosa e instigante recriação do universo machadiano. A narrativa de Simão Bacamarte propicia a descoberta de outros intentos imaginários do genial Machado de Assis, agora, também, travestido em personagem, a partir da criativa busca do narrador que alimenta a esperança, quase sempre cética, de ver brotar uma nova disposição para o convívio em sociedade. Um dado que merece ser ressaltado na ficção de Annibal Augusto Gama é o viés irônico, a dose de humor presente em seu texto. Por vezes, a sátira dá o tom na prosa do escritor mineiro. Livre do ineditismo que ele mesmo lhe impôs - a já consagrada desconfiança mineira -, Annibal Augusto Gama reuniu oito de seus títulos poéticos: Os óculos corrosivos; As ranhuras do tempo; O edifício oco; O pássaro empalmado; Albergaria e outras pousadas; Becos, ruas e sacadas; O Bacharel de Cananéia e O poeta frugal, num só volume (618 p.) intitulado 50 anos falando sozinho (FUNPEC, 2002). Um múltiplo livro de poemas, onde as diversas temáticas convergem para o mesmo plano: a arte de ser poeta afinando o verso nas veias da vida. 50 anos falando sozinho é um livro de aprendizagens como deve ser toda boa poesia, mas é, também, por isso mesmo, uma grande indagação sobre o ser e o estar aqui e agora, ciente de que o porvir resulta dessa pergunta que nunca se cala. A poesia de Annibal Augusto Gama é inteira, e por ser inteira, é necessária, sempre. A gaveta do escritor mineiro guarda vários inéditos, entre livros de contos, como O doutor da mula ruça; A gaveta de Belzebu e O tiro pela culatra; um romance, Os sobrados destelhados; uma obra ensaística, As cinzas do charuto (Ensaios da lua nova) e um Diário já com mais de duas mil páginas, entre tantos outros escritos. Por isso mesmo, torçamos para que essa bagagem seja aos poucos aberta aos que amam a literatura. Acompanhe a entrevista (em tom de conversa) concedida por Annibal Augusto Gama e perceba alguns meandros desse fantástico universo literário. Agulha - Revista de Cultura LF - Em que medida o trabalho intelectual esbarra na inspiração para fazer brotar o verso pleno ou perfeito, se existe verso pleno e perfeito? AAG - Você, meu amigo, parece que descrê da inspiração. Faz companhia a Poe, e a outros. Ou então acredita que ela, existindo, pode ser uma barreira que nos separa do verso "pleno e perfeito". Inspirar é respirar para dentro. Fazer que o ar entre em nossos pulmões. Podemos explicar o mecanismo da inspiração como tal, mas não da outra inspiração. Atribuímo-la aos deuses, às musas, ou ao Demônio, já que não há obra literária sem a colaboração deste cavalheiro, segundo André Gide. A inspiração sopra onde quer, diz Gilberto de Mello Kujawski. Será uma fulguração, como o raio que cai. Pode ser excessiva ou avara. Se excessiva, devemos aparar-lhe as asas. Mas não a prender numa gaiola. É ajustando-a à nossa experiência, às regras aceitas e catalogadas, à métrica, à rima, aos fonemas, às dissonâncias, ao ritmo, que se pode chegar ao verso perfeito e pleno, decerto uma raridade. Mas que existe, aqui e ali. Existe em Virgilio, em Horácio, em Mallarmé, em Valéry, em Apollinaire, em Bilac, em Raimundo Correia, em Drummond, em Manuel Bandeira. Existe em Racine e Corneille. Existe no abundante Victor Hugo. Em Baudelaire. É aquele que é intocável. Mudada nele uma só palavra, ele desaba. Não é que o procuremos laboriosamente. Só às vezes. Mas ele, não raro inesperadamente, brota como uma rosa. É claro que atrás dele está tudo o que experimentamos e vivemos durante muitos anos. Todas as manhãs parecem iguais. Todavia, sempre nos lembramos de uma manhã perfeita, em que tudo se harmonizava em nós e fora de nós. LF - O hedonismo poético nasce com a melancolia da solidão ou é um mero artifício para vencer as necessidades de uma vida que congrega sempre dores e alegrias? AAG - Se você considera o hedonismo não apenas como prazer, mas também como dor, aceito-o. A vida é feita de doce e amargo, de úmido e seco. E o "hedonismo poético" tanto pode nascer da melancolia, como da solidão. Poe achava que todo poema se faz com a melancolia e a tristeza. Mas a alegria também é um pássaro. E arte é igualmente artifício. O bom artista é um bom artesão. Não congrego dores e alegrias, para viver ou fazer os meus poeminhas. Elas vêm a mim. LF - A poesia é o concerto ou o "desconcerto do mundo"? Agulha - Revista de Cultura AAG - A poesia tanto é o concerto como o desconcerto do mundo. Concertamo-lo, através dela, para o desconcertar. O poeta monta a máquina do mundo para a desmontar. O poeta é um inconformado, um rebelde. Não quer as coisas apenas como elas são, ou como deviam ser. Quer a plenitude do ser. Por isso está sempre desavindo e desavindo-se. Mas não é somente um justiceiro que repara os danos da desordem da vida. Porque uma desordem pode ser outra forma de ordem, a nossa. O poeta é um reivindicador, que não reivindica. Ele deformar, para dar outra forma. LF - Em que pele fantasmática está tatuada a inscrição de "deus" na literatura. AAG - Na pele da Esfinge. Deus e o Demônio são personagens inarredáveis da literatura. Quando os afastamos, eles se infiltram subrepticiamente. Uma personagem de Dostoievski dizia que, se não existisse Deus, tudo seria possível e permitido. Ao contrário, se não existisse Deus, nada seria possível. E a permissão ou não permissão não teria sentido. LF - O que pressupõe uma boa história? (Uma boa narrativa?) AAG - Antes de mais nada, o estilo. Sem o estilo, compreendido também como o modo próprio de ver a vida, não há salvação. Depois a atmosfera. Há narrativas que são apenas atmosfera. O diálogo. O diálogo que deve ser incisivo, coloquial e preciso. As personagens devem estar geralmente numa encruzilhada, perplexas. Não se deve concluir com uma explicação. Deve-se sugerir muitas explicações. LF - Toda história é fruto de um fantasma ou um delírio de Simão Bacamarte? AAG - Os fantasmas não dão fruto. Comem-no. Nós somos os fantasmas dos fantasmas. E enquanto eles não são para mim aterrorizantes, muitos de nós são aterrorizantes para eles. A lucidez era o delírio de Simão Bacamarte. Nossos delírios é que nem sempre são lúcidos, mas convém combinar uma coisa com outra. LF - A ironia fantasmática é que move a sua literatura? (Os aspectos satíricos de seus fantasmas são personas que direta ou indiretamente conduzem o leitor à grande vereda textual que é a sua literatura). Agulha - Revista de Cultura AAG - Obrigado, Leontino, pela última parte da sua pergunta. A ironia é uma defesa e também um ataque. Os meus fantasmas são irônicos sem o saber. Têm uma ironia sem maldade, que é antes humor. A vida sem o humor seria impossível. A minha literatura, de fato, se move através do humor. Vê as coisas ao contrário, para vêlas certas. Você quer coisa mais humorística do que atravessar uma parede, quando a porta está aberta para se entrar? Mas os meus fantasmas tanto atravessam as paredes como entram pela porta aberta. Não observam regras, nem admitem convenções. Representam a liberdade. LF - A poesia é um sacerdócio? Fale um pouco a respeito de 50 Anos Falando Sozinho. AAG - Só se for um sacerdócio heterodoxo. O poeta é um herege que obedece todos os mandamentos de Deus. E que indaga se a primeira edição das Tábuas da Lei, quebradas por Moisés, corresponde exatamente à segunda edição que lhe foi entregue no Monte Sinai. Entre uma edição e outra, lavé não teria feito acréscimos, ou suprimido algumas normas? Quais? Seria a segunda edição revista, aumentada e corrigida? 50 Anos Falando Sozinho de um monólogo comigo mesmo e de um diálogo com o outro. Um homem que fala sozinho é muito ouvido. Discrepa dos que falam para todos. Quem fala para todos não fala para ninguém, nem para si mesmo. É o que costumam fazer os nossos políticos. Reuni esses poeminhas em vários livros, cada um com a sua temática, mas ligados por um fio. A insistência de meu filho mais velho, Antônio-Carlos, e de meu amigo Gilberto de Mello Kujawski, me levou a publicá-los. Fiz bem ou fiz mal? Gilberto, ultimamente, diz que descobriu a chave da minha poesia: é chapliniana. Do Carlito das Luzes da Cidade, de Em Busca do Ouro. Porque Carlito, depois, engordou, tornou-se pesado e virou Sir Charlie Chaplin. Não pretendo ser armado cavalheiro do Império Britânico. Continuo a preferir as botinas e a bengalinha. A bengalinha de Carlito é a vara de Moisés diante do faraó do Egito. Gosto do pássaro voando, mas também o empalmo. Toda poesia é um alvo escamoteado. Miramos o alvo e arremessamos a flecha na mosca. Mas um demiurgo o escamoteia, antes que a flecha o atinja. Por isso continuamos a atirar as flechas. A poesia é também um alçapão engatilhado. Mas não para pegar o pássaro, mas para o soltar. Sou sagitariano, nasci no mês de dezembro. Minha poesia é também circunstancialidade e o fruir da vida. Sou abstrato, sendo concreto. Agulha - Revista de Cultura LF - O poeta cria suas próprias angústias para depois resolvê-las. Essa experiência de percorrer a dor almejando uma nesga de felicidade é, em verdade, a rota elementar de toda criação artística? AAG - O poeta não cria a dor, a vida é que a cria, e ele é um filho bastardo da vida. Se a cria, cria-a em fingimento e realidade. Mas todos os versos são escritos no dia seguinte, para repetir ainda uma vez Fernando Pessoa. Isto significaria que ele recria a dor que já não sente, para a sentir novamente. E dor, prazer, e felicidade, são um dos lados da existência, para que haja o outro lado. Se não houvesse a esquerda, o torto, não haveria a direita e o reto. Na rota da criação artística os caminhos se bifurcam. LF - Afinal, para que serve a poesia (Mário Faustino)? AAG - A poesia não serve, não é uma criada de quarto. Nós é que somos o seu valet de chambre. E às vezes o seu mordomo. Servir é ser útil. Somos úteis à poesia para que ela nos ensine que a utilidade que transforma as coisas nos enriquece mas também nos perde. Ela quer que a procuremos não para a achar, mas para achar a vida. A sua última pergunta refere-se a Américo de Oliveira Costa. Sim, conheço-o e gosto dele. Tenho o seu livro A Biblioteca e seus Habitantes, em segunda edição, comprado em 14 de dezembro de 1984, lá vão dezoito anos De vez em quando volto a ler-lhe uma página ou outra. Não creio que ele me tenha influenciado, a não ser subterraneamente, quando escrevi o Manual para Aprendiz de Fantasma. Todo escritor é o fantasma de si mesmo, e não precisa ser ghost-writer para isso. Planejei e já escrevi umas cinqüenta páginas de um livro com o título O Sono na Biblioteca. Não sei se o concluirei. O meu Manual é diferente do livro excelente de Américo de Oliveira Costa porque participa da ficção, dos pequenos ensaios e da crítica. É uma convivência com a literatura, através dos fantasmas que representam a liberdade. Américo de Oliveira Costa, com sabor e argúcia, respiga frases e pensamentos de milhares de autores, com ligeiros comentários. Eu, às vezes, no meu livrinho, invento autores que não existem. Porque também há autores anônimos e não publicados, ou cujos livros se perderam definitivamente, que são verdadeiros fantasmas. Borges ideou, mas não escreveu, um livro que me fascina: um livro de prefácios para escritores inexistentes, em que citaria deles trechos de prosa que não escreveram. A vida está dentro dos livros (existentes ou não Agulha - Revista de Cultura existentes), tanto quanto dentro de nós. E permito-me citar-lhe o meu último poeminha de O Poeta Frugal: "A vida, minha querida, a vida não é portas a fora, a vida é portas a dentro". Com esta última resposta, fecho a porta. Leontino Filho. Poeta. Autor de Cidade íntima e Sagrações ao meio. Entrevista realizada em agosto de 2002. Foi parcialmente publicada no Rascunho # 31 (novembro de 2002). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Benjamin Péret o el mundo al revés Carlos M. Luis . ¿Por qué Benjamin Péret, ahora? Sencillamente por lo siguiente: el Surrealismo ha pasado de ser una novedad revolucionaria a objeto de restropectivas, antologías y enjundiosos estudios académicos. "Benjamin Péret, ahora" significa sacarlo de esas encerronas, para volver a leerlo a la luz de unos tiempos que ven al Surrealismo con otra perspectiva. Esa perspectiva incluye, desde luego, la necesidad siempre imperiosa de darle a la imaginación su puesto merecido. El viraje hacia lo linguístico que ha dado el pensamiento contemporáneo no puede evitar lo que Lacan había afirmado: "que el inconciente está estructurado como un lenguaje". Y ese inconciente continua siendo objeto de exploración poética, o sea, de una exploración donde un Péret nos puede develar un mundo que ya nada tiene que ver con "la verdad" de los sentidos sino con su reverso a la manera de lo que mostró el espejo que atravesó Alicia. Cuando en mi juventud leí el farragoso libro de Jean Paul Sartre ¿Qué es la Literatura? me saltó a la vista que dentro de las pobres líneas que le dedicó al Surrealismo afirmaba que Péret era su mejor representante. Sartre tenía la razón: Péret fue quien llevó más lejos, en la poesía escrita, la incursión surrealista por lo maravilloso mientras que Max Ernst hizo lo mismo en la poesía visual con sus collages. El idioma de este último tuvo su contrapartida en las composiciones, totalmente desprovistas de toda vigilancia racional, del primero. Agulha - Revista de Cultura Los surrealistas con Breton a la cabeza pero seguido de cerca por los demás miembros de su cofradía, estaban demasiado concientes de lo que escribían. Sabían hacerlo muy bien, de paso. Eran en el fondo, y la prosa de Breton así lo revela, unos artífices que le debían a la tradición clasicista del siglo XVIII más de lo que ellos estaban dispuestos a confesar. Cada vez que repaso el que, en mi opinión, es el más bello libro de Breton: Arcane 17, no puedo dejar de escuchar, tras los telones; la voz de Bossuet. Péret en cambio era otra cosa. Era, en realidad, un primitivo metido dentro de un grupo que gustaba de teorizar sobre cada paso que daban. La obra teórica de Péret, en cambio, contiene una simplicidad que descubre de inmediato su falta de arreos conceptuales a favor de una mirada no sobrecargada de lastres teóricos. Esa mirada suya fue su gran arma y con ella el poeta se lanzó a descubrir todo un mundo que se le aparecía frente a sus ojos sub especie mágica. Si Artaud pudo afirmar que lo maravilloso se encontraba en la raíz del espíritu, Péret pudo asegurar lo mismo sobre la magia con respecto a la poesía. En ese sentido caminó por un mundo cuyas relaciones estaban dadas por otras fuerzas que nada tenian que ver con el causalismo impuesto por el pensamiento occidental a partir de los griegos. La causa y el efecto que aparece tanto en su poesía como en sus relatos (que no son más que otra forma de hacer poesía) interrumpe la secuencia lineal del racionamiento lógico para introducir dentro del mismo una asimetría que altera su estructura. Péret, entonces, nos remonta a otros tiempos, tiempos donde la libertad consistía en ver la realidad en pleno ejercicio lúdico. Así cuando nos dice en un poema titulado "Los Orejas Ahumadas no Repelerán Jamás" En otro tiempo un plátano habituado a la pocilga Saltaba los setos de su cerebro catarata de peces perdidos en la montaña En otro tiempo las plumas de las nubes volaban tan lejos que ningún navegante a pesar de la lluvia de hollín y de las ojeadas de los negros las podian coger como una concha enamorada Nos está situando en un tiempo utópico creado por él para hacer posible su ars combinatoria. Nos acercamos, de esa manera, a toda una corriente de pensamiento que veía en el proceso mágico de esas combinatorias que cualquier cosa es en sí misma todas las cosas de acuerdo con Nicolas de Cusa el cual creyó, para satisfacción de Lezama Lima y yo diría también de Péret, que lo máximo se entiende incomprensiblemente. La relación significante/significado sufre aqui, pues, un embate que sólo puede ser explicada mediante otros recursos. Bretón lo vió claro cuando en su introducción a Péret, publicada en su Antología del Humor Negro, dijera que éste "ha realizado plenamente sobre el verbo la Agulha - Revista de Cultura operación correspondiente a la ‘sublimación’ alquímica que consiste en provocar la asención de lo sútil mediante su separación de lo espeso. Lo espeso en este terreno, es aquella corteza de significación exclusiva con la cual el uso ha recubierto todas las palabras… Pero al acometer Péret esa acción alquímica sobre el verbo lo estaba haciendo, simultáneamente contra las cimientes mismas que sostienen el edificio de nuestra concepción de la realidad. Para ello emplea entonces un método, el método automático, de manera que éste le sirva como una puerta abierta para instalarse en su nueva realidad, o surrealidad en su caso. Sus relatos, desenvueltos e instintivos, se desplazan por mundos que o bien están cercanos a los sueños o bien pueden ser imaginados por los pueblos llamados primitivos, los enajenados y aún los niños. Veamos este fragmento de su colección titulada Mueran los Cabrones Y Los Campos del Honor: El señor Carbón habia evidentemente perdido toda la razón. Lo dejé triturar sus relojes y huí a toda carrera. En una curva del camino vi un enorme guijarro de unos tres metros de alto. Me lancé de cabeza y me zambullí dentro de él. Estaba salvado. Podía contemplar el porvenir con tranquilidad. Me instalé. Es allí donde escribí esta historia. El espectáculo que nos ofrece este relato (su estructura narrativa es prácticamente la misma en casi todos los que escribió) es complejo a la vez que sencillo. En primer lugar lo absurdo del mismo hace que pensemos en un mundo de referencias oníricas cuando no demenciales. Pero a su vez posee esa inmediatez a la cual los relatos infantiles nos tienen acostumbrados. Con ambos elementos Péret construye lo que podríamos llamar las premisas de su lógica. Lógica, por otra parte, ligada íntimamente a la lógica del juego. El juego es, entonces, la clave del asunto. Es participando en la actividad lúdica cómo tanto el niño como el adulto se sienten libres para mostrarse creativos, según lo afirma D. W. Winnicott en su obra Playing and Reality. Pero subrayemos que no se trata del "juego surrealista", actividad organizada en torno a un tema que Breton y los suyos practicaron, sino de un juego que surge espontáneamente de la necesidad de expresarse. Agulha - Revista de Cultura ¿Sentía Péret esa necesidad de la misma manera que la sentían muchos de sus compañeros surrealistas? Los que conocieron a Péret de cerca han testimoniado de su absoluto desprendimiento con respecto a su producción literaria. Sospecho entonces que la necesidad de expresión que Péret sentia era de índole lúdica. Péret juega con los códigos que rigen las reglas de expresión y al hacerlo así los transgrede invirtiendo sus significados. Toda la poesía de Péret contamina el ambiente literario reduciéndolo a puras relaciones gratuitas y sin sentido, (salvajes como dijo Octavio Paz refiríendose a su obra) al menos sin un sentido canónico. Nunca una obra como la de Péret podría formar parte de ese canon occidental que Harold Bloom ha impuesto como indispensable. Cuando el poeta nos da el siguiente recetario, como surgido de algún antiguo incunable de sortilegios: Retorcer los antiguos armarios para extraer un poco de polvo de rubí con qué colorear los lagos Silbar repetida y largamente para que acudan los huesos bien blanqueados que no quieren entender razones Lavar la tinta con vino rojo para distraer a los niños que riñen en el patio Cortar la luz en cuatro y arrojarla a las fieras etc. Está creando los siguientes escenarios: 1.- Un escenario lúdico donde las condiciones para que ocurra algo tiene que pasar por otras, sólo que en su caso, esas condiciones no obedecen a un ordenamiento planteado de antemano sino automático. En este caso Péret entra de lleno en un mundo al revés, mundo que tentara al Goya de los caprichos o al Lewis Carroll de Alicia. Ese mundo al revés que se encuentra en la imaginación colectiva del ser humano, se manifiesta transgresoramente en carnavales, ceremonias mágicas etc. La locura que se apodera en esos actos que los seres humanos practican viene siendo el producto de una voluntad de escaparse de la falsa realidad del mundo para verla con los ojos de una nueva verdad. El reverso aparece como realidad. La realidad se manifiesta al revés. El revés se convierte en lenguaje poético. 2.- Un escenario donde se abre el espacio de lo maravilloso. Las causas y los efectos que postulan esos versos están concebidos como collages a la manera que Max Ernst confeccionó los suyos. Es decir, realidades lejanas entre sí, convergen en un espacio y en un tiempo dado (en este caso por el poeta) para abrir toda una nueva Agulha - Revista de Cultura dimensión imaginaria que cuestiona la validez de una concepción de la realidad basada en reglas inmutables. Pongamos por ejemplo nuestra concepción de la realidad/tiempo. Todo ocurre en la poesía de Péret en otro espacio temporal, (el tiempo lúdico), donde las horas transcurren en direcciones a veces opuestas. Cuando Max Ernst crea sus collages introduce visualmente una temporalidad distinta: de otra manera todos los elementos disímiles que forman su mundo no hubiesen podido haber encontrado en un espacio común. Sus reglas, (las de Max Ernst como las del Péret) son los vectores resultantes de una actividad que se abre a otra suerte de interpretaciones, interpretaciones relativas habría que aclarar. Es decir que constituyen como en el caso de los collages, un mundo aparte que puede repetirse en tanto que actividad lúdica hasta el infinito pero sin que por ello se repita el contenido de esa actividad. 3.- En otro escenario posible, interviene el cuestionamiento que hace Magritte de nuestra relación con la realidad partiendo de la arbitrareidad de los signos que él maneja en sus pinturas. En su célebre cuadro "Ceci N’Est Pas Une Pipe" comentado por Foucault, Magritte nos pone frente a un dilema ¿por qué negar verbalmente lo que vemos en el cuadro como realidad? Sabemos que el pintor surrealista poseía un sentido del humor muy peculiar y que con éste jugaba con los significantes y significados con la misma astucia. Pero al negarle a la pipa su realidad nos lanza, con esa negativa, un reto: si no es una pipa ¿entonces qué es? Aqui interviene Péret cuando nos dice "yo llamo tabaco a lo que es oreja". Péret afirma que existe la oreja, pero él la quiere reemplazar con otra realidad (como tantas veces ocurre en los juegos infantiles), mientras que Magritte se contenta con negarnos la de su pipa sin abrirnos puerta alguna para sustituirla por otra. Si el sistema de collages de Max Ernst nos ofrece la posibilidad del juego aleatorio con las imágenes, los cuadros de Magritte nos obligan a aceptar las suyas como preguntas perentorias de las cuales no nos podemos escapar. De nuevo, la poesía de Péret ofrece una solución distinta: lo que en inglés se llama, al referirse a los juegos infantiles make believe. La contingencia que poseen los objetos los pone en disponibilidad de crear un escenario que permita jugar con ellos hasta que sus posibilidades combinatorias se agoten. La relación Péret/Magritte/Max Ernst está dada de antemano por sus respectivas pertenencias a un movimiento que elaboró toda suerte de técnicas para llegar al país de lo maravilloso: el Surrealismo. Pero en el caso de Magritte sus preguntas, si bien ponen en suspenso nuestra comprensión de lo que es falso o verdadero (ver por ejemplo sus cuadros titulados "La Condición Agulha - Revista de Cultura Humana") contienen un elemento nihilista en el fondo. ¿Podemos llegar a la esencia de las mismas para responderlas? Péret y Max Ernst se lanzan a ofrecer otras soluciones posibles, entre ellas ésta: saltar por las ventanas que Magritte pintara en su serie "La Condición Humana" para explorar ese otro lado que ofrecen. Una vez en el mismo aparece entonces el mundo soñado por Alicia o sea, lo maravilloso que Pierre Mabille estudiara en su famosa antología. ¿Qué validez tiene todo esto para el mundo contemporáneo? ¿Qué puede ofrecernos Péret de nuevo? Quizás si podamos comenzar respondiendo a esta pregunta, citando otra que se hiciera Franca Agostini en su estudio sobre Los Análiticos y Continentales. La pregunta es la siguiente: ¿Es el pensamiento de la tríada locoartista-niño reducido al silencio por el dominio politico- institucional de la racionalidad sana, normal, adulta? Hombres como Péret, y con él todos los surrealistas, se negaron aceptar esa dominación ni aún en los tiempos de su militancia marxista. Al recurrir, después de su desengaño con el dogma impuesto desde el poder soviético, al anarquismo y finalmente a la utopia de un Fourier, los surrealistas intentaron escaparse de ese peligro. Fourier por ejemplo, les brindó un espacio imaginario (aunque como toda utopia sujeta a una coreografía demasiado rígida) donde era posible un mundo de abundancia, mundo que la poesía de Péret siempre utilizó para crear sus pluriuniversos. Péret, creo, continuó la línea que trazara Alfred Jarry con su Patafísica. Las soluciones posibles podrían llegar a constituirse en una ontología de lo inagotable porque "cada interpretación se encuentra en el origen de nuevas formas, en un proceso infinito", como planteara el filósofo italiano Luigi Pareyson. ¿No es esto, precisamente, lo que había descubierto Max Ernst con su técnica de los collages o el mismo Péret al abrir las puertas de una poesía-arscombinatoria? Es así que la poesía de Péret construye/deconstruye los temas típicos del pensamiento racional. Los deconstruye al situarlos en otro plano donde su engranaje no obedece a las leyes del causalismo. Lezama Lima había visto este hecho cuando propuso su llamada "vivencia oblicua" según la cual el acto de encender la luz de nuestra habitación puede provocar que la Constelación de Orión se encienda a su vez. Los construye porque a partir de esa Agulha - Revista de Cultura nueva cadena de acontecimientos podemos enfrentarnos al riesgo del silencio que el dominio politico racional nos impone. ¿Un Mundo Al Revés? En este caso sí, como refugio -el mismo que se buscaba en los carnavales o en los juegos- de una Verdad con mayúscula que se ha convertido en instrumento de opresión. La Verdad hay que someterla al juego incesante de las soluciones posibles, de manera que una mosca pueda soñar con una telaraña de azúcar en un vaso de ojo. Esa disonancia con el ordenamiento normal de las cosas que implica lo anteriormente expuesto por la poesía de Péret, es la argucia mejor esbozada contra la tiranía de la Verdad. La manera conque podemos jugar con su poesía nos brinda la oportunidad de experimentar esa ontología de lo inagotable. Partiendo de esa ontología nos es permitido afirmar que una telaraña puede soñar en un vaso de ojo con una mosca y no alterar en nada la estructura de la poesía. Lo que nos indica entonces que la libertad se encuentra precisamente en esa posibilidad de subvertir lúdicamente el orden establecido, o sea, de crear un mundo al revés. Carlos M. Luis (Cuba, 1932). Poeta, ensaísta e artista plástico. Recentemente publicou Contraloquios y Peritextos e Dis/func/tional, ambos em 2002. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Ciruelo Cabral: un dios del cromatismo, un rey en el dibujo Sonia M. Martin . Es verdad, Ciruelo ha logrado la maestría del dibujo y la perfección en el color. En ambas técnicas, este artista de la gráfica, la ilustración y la música, ha alcanzado metas tan altas, que cuesta calificarlo con las palabras con que se puede considerar a los mejores artífices en las artes nombradas. Nosotros hemos conoció la obra de Ciruelo en el país de origen de este artista, Argentina, en el Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires, ciudad en donde nació Ciruelo; pero el pintor/músico vive en Barcelona, España, junto con su esposa Daniela y el mágico retoño que venía en camino al mundo de los seres humanos y también de los seres mágicos como es el padre de Angelo, en el momento en que supimos de este creador. [S.M.M.] SMM - No cabe duda que la literatura, el pensamiento, nos transportan a los ambientes virtuales. Tu imaginación se difumina con la mía cuando veo las imágenes de tu libro…por favor, cuéntanos cómo es el proceso de la creación en tu imaginación. ¿Cómo nace ese ser que dibujas al que le das forma como si fueras un dios? ¿Hay colores desde un principio…? CC - Respondiendo a esta entrevista virtual para tu revista Daniela, que mágicamente coincide con el nombre de mi mujer, Daniela, con respecto a los personajes que yo dibujo, tendría que hablar de varias cosas al mismo tiempo. En principio, parte de mi trabajo es comercial, eso significa que dibujo para alguien con algún motivo en concreto, que viene dado por el encargo en sí. La mayor parte Agulha - Revista de Cultura de las cosas que hago son para las portadas de libros de Fantasy, con lo cual me tengo que ceñir a un texto escrito por alguien, por un escritor. En estos casos, son todos escritores fantásticos, con mucha imaginación. Normalmente me baso en las descripciones que ellos hacen de los personajes y de los paisajes, de las arquitecturas, aunque muchas veces me pregunto ¿por qué no son ellos más visuales? Hay algunos autores que son más visuales que otros, entonces, cuando describen algo, describen detalles, colores y cosas. Pero la mayoría no. Quizá es algo que descuidan. Muchas veces me pregunté, qué interesante sería para estos autores trabajar con un dibujante en el momento de escribir sus libros. Para que los dibujantes, en el momento que están creando, le den ese toque visual y entonces, poder utilizarlo a la hora de describir sus personajes y sus paisajes, con una mayor exactitud. En mi veta comercial hay mucho de esto, trato de interpretar lo que estos autores están creando, por así decir. Si bien hay mucho margen para la creación. Que de dónde salen mis personajes. Tengo que remontarme a una época en que yo era todo Fantasy, que es cuando yo era un chico, un niño. Los niños son todos muy fantasiosos, ellos no tienen un apego a la realidad como nosotros. Precisamente porque llevan poco tiempo en contacto con ésta y tienen mucho tiempo en contacto con el mundo fantástico-por así decir- e irreal, como contraposición a lo que conocemos cotidianamente de la realidad. Recuerdo muchas cosas de mi niñez. Y lo que más recuerdo son sensaciones y maneras de interpretar cosas. En la adolescencia, esas cosas empezaron a ser más palpables o empezaron a tener un nexo con la realidad. Empecé a leer muchos libros de fantasía o literatura fantástica y libros de filosofía, de culturas diferentes. Ahí empecé a hilar todo. A hilar las cosas que yo veía que eran cotidianas, y las cosas que yo veía que eran fantásticas para la gente, pero resultó ser que no eran tan fantásticas en general, sino que eran de culturas diferentes a la nuestra. Solemos tender a no darle el mismo calificativo de real, a lo que es diferente, solamente porque no es tan familiar. Además de esas dos cosas, están las cosas que yo traía en la memoria y las sensaciones de cuando era niño. Ahí empezó a forjarse mi mundo, mi mundo a medio camino entre las dos cosas, entre la realidad y la fantasía. En esa época ya trabajaba mucho, en todo sentido, trabajé mucho. Desde muy chico, fui muy apegado a hacer cosas artísticas, y el deporte para mí era una manifestación artística. En la adolescencia había tres cosas que robaban mi tiempo: el deporte, que era el rugby en esa época, que fue toda mi adolescencia, desde los trece a los veintiún años; la música, que para mí sigue siendo hoy en día una de las cosas más importantes, y el dibujo. El dibujo que para mí estaba siempre ligado a la literatura y en algunos momentos de mi vida, me encontré escribiendo mucho, que no era otra cosa que plasmar por otra vía las mismas ideas. Todo esto lo mezclaba con el estudio, o las lecturas de culturas diferentes, de filosofías diferentes, de maneras de ver la vida diferente. Cuando ahora genero un personaje, todo Agulha - Revista de Cultura eso aflora. Y los personajes podría decirte que tienen una vida propia. Casi diría que la creación como acto en sí de creación, por sí misma ?como se suele decir por ahí, que los artistas son creadores y que generan de la nada? yo no lo veo tan así. Creo que la creación es interpretación, canalización de otros mundos, de otras realidades, de otras cosas, traídas a este plano a través de diferentes medios. La generación de personajes tiene mucho que ver con todo esto. Y esto lo he vivido muchas veces, en los cuales he reconocido que he tenido un contacto más directo con el otro lado, en los cuales yo presenciaba cosas, como si estuviera viendo una película. Cuando uno mira un filme, no cree que está creándolo, cree que está atestiguando. Muchas veces me pasa eso cuando genero una ilustración. Y estoy hablando de las ilustraciones que parten de mí mismo, no de las comerciales. Siento que estoy como canalizando algo: acabo de ver algo y quiero plasmarlo, entonces lo hago a través del dibujo. Los personajes, en ese caso, tienen una vida, que no sé en dónde se está produciendo en ese momento, ni dónde se está desarrollando. Yo lo único que hago es sacarles una foto y hacerlas visible para todo el mundo. SMM - Tus personajes tienen vida y personalidad. Los cambias de colores, de personalidad, de facciones y hasta de raza, como si fueras Dios. CC - ¿Qué te podría decir sobre sus personalidades, facciones, colores y razas? Bueno, hay una parte que es la técnica, que con el tiempo va adquiriendo el artista y con la que se hace más o menos erudito a la hora de plasmar todas esas ideas. La técnica en sí es también un camino, la técnica se adquiere a través de horas de esfuerzo, de trabajo y de transpiración más que de inspiración, pero no deja de ser un trabajo muy importante. Para mí pasarme horas y horas y horas en mi estudio trabajando, es como una actitud. Una ejercitación de la meditación en movimiento. La técnica tiene que ver con eso. El descubrir la materia, jugar con la materia una y otra vez, hasta que en el momento de la inspiración esa técnica es la vía para ayudarme a plasmar lo otro. Y el color, en mi caso, viene relacionado con eso. SMM - ¿Cómo creas tu cromatismo? ¿Cambió al dejar el Sur…? El "Sur" tiene un verde oceánico, y una luz peculiar, muy distintos ambos, verde y luz- del verde tropical y de la luz tropical. Diferente también a la mediterránea. ¿Dónde atrapaste tú la luz?/ Agulha - Revista de Cultura CC - Tengo que hablar nuevamente de la época en que yo era un niño y un adolescente. Fue en esa época en donde se gestaron muchas cosas. En donde vi muchas cosas que aún ahora recuerdo y trato de mostrar en mis obras. Ya de muy chico me llamaban la atención las formas de la naturaleza, las manchas de la naturaleza, las rocas, los árboles, el cielo, las nubes. Bueno, básicamente los colores que yo veía ahí era los que luego yo quería plasmar. ¿Qué tiene que ver el ambiente en el que vivo, con lo que manifiesto? No sé hasta qué punto es verdad. Cuando vivía en Buenos Aires, era como que extrañaba ciertas luces. No lo sabía muy bien, no sabía muy bien qué era lo que echaba de menos, qué era lo que estaba anhelando. Cuando me mudé a Sitges, aquí, en donde vivo ahora, venía por otros motivos. Venía al primer mundo, venía a Europa, venía a ponerme en contacto con grandes empresas, con grandes ciudades. Sin embargo, me encontré con casi todo lo opuesto. Y me paso a explicar: en Argentina, igual que en Chile y en toda América, hay grandes extensiones vacías que no las hay en Europa, por una cuestión de población y de años y años que tienen los pueblos aquí en Europa. En todos los países americanos, igual que en la Argentina, la naturaleza brilla y vibra con una intensidad virgen, virgen y potentísima y es algo que siempre me fascinó. En Europa pensé que iba a encontrar lo opuesto. Vine a vivir a Barcelona y me instalé en un pueblo que queda a treinta kilómetros de esta ciudad. Es un pueblo pequeño, igual que todos los pueblos aquí en España. La mayoría son pequeños comparados con Buenos Aires, que es una mega ciudad, o con las grandes ciudades de América. Esto te permite vivir en contacto con la naturaleza, no tener que estar viviendo en el centro de una gran ciudad. Resulta que ?al contrario de lo que me pasaba en Buenos Aires? aquí estoy más en contacto con la naturaleza. Me siento más cerca de plasmar todo eso que antes extrañaba. Desde mi casa, en Buenos Aires, veía por la ventana, solamente un cuadradito de cielo y todas las tardes miraba cómo cambiaba su color. Sentía una necesidad, un anhelo, una ansiedad, que no sabía bien a qué se debía. Y ahora me estoy dando cuenta, que es, precisamente, porque extrañaba el estar en contacto con la naturaleza y ver el cielo más grande desde el lugar en donde trabajo. Aquí en Sitges, lo que más veo por mi ventana es cielo, porque estoy en un lugar muy alto y tengo una vista del mar y del cielo como la mejor que te puedas imaginar. Y cada atardecer para mí, es un espectáculo que no puedo perderme. Todos esos colores que veo y la naturaleza son las cosas que yo plasmo en mi trabajo. Respondiendo al tema de la arquitectura y mis dibujos, me siento mucho más cercano a la mediterránea. No sé por qué motivo. Cuando veo arquitectura antigua, construida en piedra sobre todo, me siento, muy, muy cerca. Por ejemplo, he descubierto aquí en Barcelona ?que tiene mucho que ver con los artistas, los arquitectos que trabajaban en el Renacimiento o época Medieval que eran artistas fantásticos. Tienen mucho más que ver conmigo, que los arquitectos actuales. Porque cada obra arquitectónica, tiene mucho que ver con la escultura y con la Agulha - Revista de Cultura estética. Además con las características de construcción que hace que esa obra se mantenga a través del tiempo. Tienen una estética que se acerca mucho a lo que yo hago. Siempre ?y tampoco sé por qué? me fascinó ver ruinas, porque en las ruinas ?o sea en una arquitectura antigua, que tuvo una época de esplendor y luego cayó? ese espacio volvió a ser recuperado por la naturaleza. Ruinas en las cuales se pueden ver hiedras, o árboles creciendo entre las piedras y abrazando forjas o puertas de maderas. Es como una victoria de la naturaleza sobre el hombre otra vez. Ese tipo de cosas me fascinan. Me fascinan de una manera muy mágica. Y volviendo a la pregunta inicial, la luz que yo quiero capturar muchas veces, tiene que ver con todo eso. Con memorias, que no sé de dónde vienen; que vienen de antes, de mucho antes. Yo quiero capturar ese tipo de cosas. Y tienen mucho que ver con el tema mediterráneo, europeo. SMM - ¿Qué habría sucedido con tu cromatismo si hubieras nacido en la época de Leonardo? CC - Probablemente hubiese estado muy influenciado por esa época y por los colores que se usaban en esa época. Aunque no olvidemos que hace poquito se ha descubierto que Miguel Angel pintaba con colores que no nos imaginábamos; porque los colores que él había usado en su época, se habían apagado a lo largo de los años, incluso, muchos de los frescos, obviamente, a lo largo de cientos de años, se habían llenado de polvo, se habían apagado por los mismos pigmentos, que no tenían tanta duración. Hay muchos pigmentos que aguantan más que otros; algunos azules que se apagan muy rápido con los años. Y debido a algunos estudios que se hicieron, en especial en la Capilla Sixtina, se dieron cuenta que Miguel Angel había puesto una cantidad de colores, que eran muy, muy diferentes a los que ellos o que todos estamos acostumbrados a ver de él. Supongo que yo me habría también influenciado por eso o por la gente; por la clase de pigmentos que en esa época se tenían, etc. No creo que hubiese tenido nada especial. En este momento uso un cromatismo que tiene que ver con este tipo de cosas, con la tecnología actual, que permite ciertos pigmentos. Con la tecnología que permite educarnos con películas, con estéticas muy coloristas. Todo eso influye a la hora de trabajar. Volviendo al tema de mi otra parte comercial, también influye obviamente, las tendencias del mercado. Sobre todo para Estados Unidos, la tendencia siempre es a hacer las cosas muy coloristas, comercialmente muy atractivas. Por eso, muchas de mis ilustraciones tienen esa tendencia, ese toque. Quizá, si yo tuviera que hablar de mi tendencia natural, soy menos colorista. Soy, quizá, más real. Me gusta mucho trabajar con grises, para contraponer luego los colores fuertes, en un contexto más apagado, para hacerlos resaltar, para hacerlos vibrar mucho a Agulha - Revista de Cultura veces. También tendría que mencionar un hecho que es fundamental en todo esto y es que soy daltónico. Esto sería muy largo de explicar, es algo que me trajo muchos problemas a lo largo de mi carrera, sobre todo cuando trabajaba para publicidad, en donde hay que lograr ciertos colores muy específicos. En mi estado actual, como artista fantástico, no me trae tantos problemas, pero obviamente, hace que yo vea las cosas de un modo diferente. Y supongo que se verá el resultado en el trabajo final. Es algo muy complicado de transmitir. Cuando yo hablo con la gente acerca de mi daltonismo, tengo que hablar de ejemplos concretos, de anécdotas, etc. Cada daltónico es un caso diferente. Mi caso corresponde más a no distinguir los colores a simple vista, por así decirlo. Suena medio raro, y es medio raro. Pero a mí no me llama la atención algo, una escena, un objeto, por el color, me captura primero por la forma. Y luego, tengo que analizar el color, para ver qué color es. Una vez que lo analizo, o sea, que lo pienso con ojos de ver colores, los veo. Aunque con algunos cometo errores muy graves. Esto podría ser un ejemplo. Aunque podríamos hablar de esto horas, como a menudo me sucede. SMM - Puedo penetrar contigo a los bosques de hielo, mirar asombrada a los dragones que me desafían y ser de pronto Morgana con toda su magia. Soy una espectadora atrapada en la magia de tu creación. ¿Cómo explica el creador este fenómeno con su público? CC - ¿Que cómo explico que la gente perciba ciertas cosas que yo quiero poner? Estoy seguro que no tiene una relación directa. O sea, tiene más relación con cosas subjetivas. Cuando una persona percibe algo del exterior, está pasando eso por un filtro de experiencias propias. Entonces, la obra, cuando el artista la termina de hacer ?como muchas veces se ha dicho por ahí y es verdad? pertenece a los demás. Pertenece al que la mira. El que mira una obra la pasa por su filtro, está percibiendo algo diferente a lo que el artista quiso plasmar. Lo que sí podríamos decir que hay en común, corresponde, en el caso de mis ilustraciones, a lo que yo denomino la magia. O lo que yo llamo el otro lado, que nos es común a todos, no solamente a los artistas o a los músicos, que también canalizan cosas. Corresponde a todos. Porque yo creo que el mundo que nosotros vemos diariamente, no es único. No es la única dimensión en la que suceden cosas. Creo que hay muchas otras dimensiones y que todos estamos conscientes de ellas en alguna medida. Algunos por una vía, otros por otras vías. Algunos lo plasman en sus trabajos diarios, otros lo olvidan o tratan de olvidarlo. Creo que la mayoría trata de no hacer caso. En el caso de los artistas, al Agulha - Revista de Cultura contrario, escarbamos en esas percepciones e intentamos analizarlas y ver de dónde vienen, adónde van y qué quieren decirnos. Muchos de nosotros encontramos respuestas, otros nada, percibimos y solamente traducimos. Creo que tengo ese contacto con el público, el recordarles cosas que ellos ya sabían. SMM - Qué significa para un creador como tú el Periodo Medieval, sus mil años- la mitología Celta y el Mundo Virtual de hoy ¿No has entrado al mundo de la mitología maya o azteca como la pintora Leonora Carrington? CC - El periodo Medieval tiene un toque sobre mí muy importante, que es lo que te explicaba antes. Tengo memorias de cosas medievales, tengo mucha relación con la gente de ese período y no sé por qué motivo. Pero al mismo tiempo ?y esto es una coincidencia con tu pregunta, aunque esto lo dejo entrever en mi libro Luz, -que habrás visto? hay algo en mí que tira con una fuerza enorme, que es todo el mundo precolombino en América. En América Central sobre todo. La evolución de los pueblos olmeca, maya, tolteca, azteca, etc., incluso inca, generan en mí una inmensa atracción. Si bien hasta ahora estuve moviéndome más en lo que es el Fantasy nórdico, el Fantasy sajón, que tiene que ver con todo el mundo Celta, con todo el mundo elaborado por Tolken y que me fascina. Pero lo que quiero hacer ahora tiene mucho más que ver precisamente con la fantasía que aquellos pueblos también habían desarrollado. El mundo maya fue una civilización muy avanzada en muchos aspectos, y quizá en planos interdimensionales, como hablaba antes. Ellos han plasmado en toda la obra que vemos, su relación con otras dimensiones. O al menos, así lo puedo percibir, y al mismo tiempo, con una relación con otras entidades, otras cosas. Su desarrollo era menos tecnológico, porque enfocaban su atención mucho sobre el tema del espíritu y de las energías. También la estética manifiesta todo esto. Además que estéticamente, eran muy, muy evolucionados. Voy a elaborar una teoría del por qué el mundo de los aztecas y los mayas no está tan trabajado o popularizado en la literatura y en el arte fantástico hoy en día en el mundo entero. Y podría decir que por la misma diferencia que hay entre los latinos y los sajones. En Europa se ve mucho esto. Los sajones, parece ser que son los que llevaron adelante todo lo que es la ciencia, la literatura y el arte. Entonces su cultura y sus leyendas, las potenciaron tal como las conocemos ahora. Los mayas y los aztecas tienen una relación directa con lo latino, con los hispanos. Quizá por ese motivo no se desarrolló tanto en estos niveles, en literatura, artes, etc. Pero creo que va a haber un cambio muy grande hacia esta civilización. Porque tenemos mucho que aprender todavía de ellos y tenemos Agulha - Revista de Cultura mucho que descubrir; de hecho, cada día se están descubriendo más y más cosas que están devoradas por la jungla en Centroamérica y que hay debajo de esas ramas, y como decía antes, de esa naturaleza que recuperó su lugar, vamos a seguir encontrando una cantidad de información que nos va a ser crucial, para seguir evolucionando. Y espero estar involucrado en todo lo que signifique mi trabajo, que es un poco el de transmitir el aspecto fantástico que hay en todo esto. SMM - ¿En qué campos sensoriales entra la pintura a través de tu música? CC - Para mí es fundamental la música. Es nada más que otra vía diferente, pero igual, para transmitir lo mismo que transmito con la pintura o con los dibujos. La música para mí es una herramienta muy potente, muy poderosa. Si bien no le estoy dedicando tanto tiempo como quisiera y no la estoy haciendo para el público, la sigo haciendo para mí y en la medida en que lo puedo hacer, la seguiré haciendo por el resto de mi vida. La música me ayuda muchísimo a contactar con esas otras dimensiones, porque es un viaje hacia adentro. Y ahí es donde yace el contacto o la puerta con las otras dimensiones. Aunque esto suene demasiado profundo, pero bueno, es así. SMM - Nuestra lejanía me duele a través de tu creación. Siento la necesidad humana de tu gesto para entregarle a nuestros/as lectores/as virtuales la verdad de tu creación. Espero la respuesta a esto con el metal de tu voz y con las inflexiones de tus palabras. ¿No es fantástico, al mismo tiempo, la forma en que nos estamos conociendo y comunicando entre nosotros y los lectores/as virtuales? ¿Es una nueva mitología de lo cotidiano? CC - Esta manera de comunicarnos, realmente, me parece fantástica. Si bien yo estoy muy ligado ?como decía antes? a todo lo antiguo, estoy también fascinado por lo que vendrá y por lo moderno. Y esta manera de comunicarnos ahora, esta manera virtual que hay, para mí no tiene nada de nuevo. Tiene mucho que ver con la conciencia colectiva del mundo, solamente que la estamos recuperando por un medio más tecnológico. Pero la tecnología del ser humano, la electrónica de los átomos y de las células y de la mente, ya existió. Y existió siempre. Ya había gente que se comunicaba de manera virtual, miles de años atrás. En este momento uso la que hay, que es Internet, uso la tecnología digital Agulha - Revista de Cultura y estoy dispuesto a usar cualquier tecnología que el hombre desarrolle. Del mismo modo que estoy dispuesto a aprender la tecnología que los mayas utilizaban, por ejemplo. Para mí tiene la misma importancia o el mismo grado de desarrollo. SMM - ¿Cuándo nació el artista que hay en ti? ¿Es genético…? CC - Quizá ni nació. Nació conmigo, estuvo siempre. Es lo que decía antes: yo creo que todos somos artistas. El artista está en todos nosotros y todos tenemos la posibilidad de darnos cuenta de esto y de aplicarlo en nuestra vida diaria. Algunos lo hacen y otros no lo hacen; yo lo hago de una manera que la gente llama arte. Reconocí esto muchas veces en mucha gente, como carpinteros, panaderos o gente que labraba la tierra, la misma calidad de arte que tienen otros que se llaman artistas. Incluso, yo diría que los niños son todos artistas. Son todos fantásticamente canales perfectos que quizá a medida que van creciendo se van cerrando, por la sociedad, diría yo. SMM - Háblanos sobre tu técnica. CC - Hablando de técnica en concreto; yo estoy abierto a todo tipo de técnica, no me cierro de ninguna manera a nada. Y encuentro que hay muchos grupos y subdivisiones que se aferran y se autodenominan artistas de ciertas técnicas. No es mi caso. Yo trato de abrirme todo lo posible a diferentes maneras de expresarme, a diferentes materiales. Para mí lo más importante no es la técnica, es solamente un medio. Estoy siempre enfocado a lo que hay detrás, a la idea, al concepto, a la canalización, a la energía que fluye, así que para mí es lo mismo trabajar con un aerógrafo, con un pincel, con un lápiz, con una computadora, o con escultura, o con piedra, o lo que sea. Y voy a utilizar todo lo que se me cruce por delante , lo que sea para generar mi arte. SMM - ¿Cuál es tu meta en el arte ¿Cuál es tu mayor anhelo? CC - Mi mayor anhelo es estar cada vez más cerca!!!!! Yo lo llamaría la fuente, la conciencia colectiva, la naturaleza, el cosmos, la diversión a lo grande; que para mí significa realmente todo esto; no tiene nada de profundo, por así decirlo, como mucha gente puede pensar. No hace falta profundizar tanto. Para mí la grandeza del cosmos la vivo cada día y mi contacto espiritual con el todo, trato de convertirlo cada día en algo cotidiano. Básicamente se trata de eso, para mí, de un viaje interior y al mismo, tiempo tratar de dar lo mejor de mí. Esa es la función que cumple mi arte, o el motivo por el cual yo estoy haciendo esto. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo hacer. Si yo estuviera, por ejemplo, manejando un taxi, o si fuese un cirujano, quizá podría hacer mi trabajo bien, Agulha - Revista de Cultura pero no estaría haciendo lo mejor que puedo hacer. Y yo creo que dibujando y haciendo música, estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Aunque también hay otras cosas, como crecer como persona y tratar de ser lo mejor posible como ser humano, para mis amigos, mi familia, la gente que me rodea o por ejemplo, tratar de dejar la huella del ser humano lo menos dañinamente posible en el entorno. Y entonces, estoy trabajando a esos niveles también y mi preocupación va mucho por ahí. Pero bueno, eso son otras cosas. En cuanto a lo que corresponde a mi arte, trato de dar lo mejor que puedo de mí. Incluso, en el mensaje que doy, trato de dar aquello que me es más sincero, que me pertenece más a mí como realidad, aunque a veces es difícil cuando hago cosas comerciales y tengo que responder a expectativas externas de mis clientes, a pesar de que ahí también actúa la magia, porque normalmente tengo encargos que corresponden a lo que yo quiero hacer. También eso depende de una gran elección que yo hice en un momento de mi vida, que fue dejar de hacer cosas de publicidad, que era lo que yo hacía en su momento, porque me aburría bastante, aunque me dejaba mucho dinero. Empecé a hacer cosas que tenían más que ver con mis inquietudes propias, que era el fantasy; aunque no me dejaba nada de dinero al principio, y ahora me deja para vivir. Pero suficiente ya me da con tener libertad y tener el placer de crear día a día. La creatividad para mí es una actitud que tenemos que cultivar todas las personas. Cuando ejercitamos nuestra creatividad estamos teniendo contacto con algo muy verdadero dentro nuestro y generalmente nos conduce hacia cosas muy lindas. Por eso elegí el camino de la creatividad; es algo que en toda oportunidad que tengo lo dejo entrever. A los chicos que están empezando a dibujar y me preguntan, les digo "traten de ser lo más creativos posibles" o "trabajen con creatividad". Aparte que en todo hay posibilidad de ser creativos: desde una enfermera, hasta un vendedor de boletos en una estación de tren, se puede trabajar la creatividad. No es necesariamente una cuestión manejada por los artistas o los músicos. SMM - Estarás de acuerdo conmigo, que Angelo es tu mejor creación y la más perfecta… ¿verdad? CC - Y sí, coincido en lo que respecta a la palabra creación, éste sería el mejor ejemplo de canalización de un medio, para que otra cosa se manifieste. Otra cosa que ya tenía un comienzo de antes y tiene también un camino por delante y uno en un momento, es simplemente un canal, la vía para que eso se apoye y se manifieste a sí mismo. En este momento es precisamente cuando más evidente se hace para los padres, el hecho que esa personita, si bien fue generada desde cero, dentro de la madre, con ayuda del padre, tiene vida propia. Y cada día, en nuestro caso, estamos siendo conscientes de eso, minuto a minuto, y todavía nos parece increíble y mágico y fantástico. Agulha - Revista de Cultura Lo primero que dijo Daniela, la madre, cuando el bebé ni bien había salido de su vientre y se lo pusimos sobre el pecho y ella lo pudo abrazar fue: "pero ¿era esto lo que tenía adentro?". O sea, estaba reconociendo a un ser humano completo. Yo también ¿eh? A mí me pasó exactamente lo mismo. Era un ser humano completo e individual, que estaba adentro de la madre y es un acto muy mágico y que nos llevará mucho tiempo poder decodificar. Así es que bueno, con respecto a eso de la creación, sí es una creación, tal y como yo entiendo la palabra creación. Que tiene más que ver con canalización o interpretación de cosas y formar parte de las cosas. Yo estoy seguro que Angelo nos va a enseñar muchísimas cosas. Y yo voy a aprender artísticamente mucho, mucho, de toda su relación con el mundo material en los primeros años de su vida. Cuando él aprenda a manejarse en el mundo real, pero cuando todavía tenga mucha parte de su ser del otro lado. Y digo esto, porque siempre tuve una relación fantástica con los niños. Para mí, los niños son maestros. Y bueno, ahora que tengo el mío propio, estoy ansioso por aprender. Sonia M. Martín é crítica de arte, pertecente à Associação Internacional de Críticos de Arte, pela Venezuela. Entrevista originalmente publicada em revista por ela dirigida nos Estados Unidos, Daniela an Unboud Woman. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras de Ciruelo Cabral. retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 El Corno Emplumado e Eco Contemporáneo, grandes momentos da história da cultura ibero-americana: sergio mondragón e miguel grinberg Claudio Willer . No começo dos anos 60, entre as muitas e muitas coisas interessantes que se podia encontrar em livrarias de São Paulo, havia uma revista literária mexicana, El corno emplumado, bilíngüe, com uma evidente conexão com a geração Beat, e apresentando uma nova literatura mexicana, além de traduções dos grandes autores do século XX, do mundo todo. Tudo isso me pareceu suficientemente bom para que, passando alguns dias na Cidade do México, em julho de 1963, procurasse seus editores, Sergio Mondragón e Margaret Randall. Gentilíssimos, receberam-me em casa, e participei de uma reunião onde também estava a grande antropóloga Laurette Sejourné, outras figuras de destaque da vida cultural mexicana, e um jovem poeta equatoriano, Ulises Estrella. Sei que a partir dessa reunião, e da conseqüente troca de endereços, passei a receber publicações interessantíssimas de toda a América Latina - do Equador, o grupo Tzanticos ao qual pertencia o próprio Estrella, da Colombia os famosos nadaístas de Gonzalo Arango, mais revistas e manifestos do Paraguai, da Bolívia, de todo lugar. Duas nos atraíram, a mim e a meus amigos - Piva, Sérgio Lima, etc -, de modo especial. Uma, El Techo de la Ballena, venezuelana, afim ao surrealismo, de alta voltagem literária, o que resultou em correspondência e contatos pessoais com Juan Agulha - Revista de Cultura Calzadilla. Outra, o Eco Contemporáneo argentino, encabeçado por Miguel Grinberg, figura sob todos os aspectos esplêndida. O Eco cobria um arco bem grande: Gombrowicz, o polonês radicado na Argentina, autor de O Pornógrafo, era uma das figuras tutelares. Ginsberg publicou lá um manifesto importante. Havia novidades como, p. ex, Julio Cortázar. Porém, mais que um projeto literário, tratava-se de uma proposta política, ambientalista, pacifista, universalista, ou seja, bem precursora. Correspondemo-nos ativamente, Grinberg e eu, não sem divergências. Surrealista bravo, em resposta à boa apreciação do meu Anotações para um Apocalipse, reclamei de um extenso texto de Martin Luther King: como, onde já se viu, um sacerdote, um pastor protestante, o que é isso... Acontecimentos subseqüentes dariam razão ao foco de Grinberg e do Eco, tentando juntar rebelião e movimentos sociais. Todos esses grupos se dispersaram, pelo motivo básico de que movimentos culturais não têm vida eterna, mais ainda nas duras circunstâncias políticas daqueles anos. Com Grinberg, voltei a ter contato, entre outras ocasiões, quando lançou uma nova revista, Mutantia, por volta de 1980, para depois instalar-se por um tempo no Brasil. Acabou por fazer sair, nessa nova revista, a primeira tradução e publicação no exterior de um poema meu, um extenso poema erótico de Jardins da Provocação. Enfim, é meu amigo. Quanto a Mondragón, recuperei o contato recentemente, através de Felipe Ehrenberg. Não podia deixar de preparar algo com ambos, Grinberg e Mondragón, para Agulha. Não só por terem muito a dizer, mas por remeterem a momentos da história de nossas culturas que têm que ser, não apenas lembrados, porém recuperados no que tem de atual, e, digo mais, necessário. Como bem resume Grinberg, na frase final de seu depoimento a seguir: Que un mundo enfermo no preste atención no quiere decir que nosotros hayamos desistido. SERGIO MONDRAGÓN CW - Apresente-se, para os leitores que não o conhecem. De onde você surgiu, o que você fazia antes de iniciar a publicação de El corno emplumado? Quando foi isso? Já havia estado envolvido em algum projeto coletivo, alguma iniciativa editorial dessa natureza? Poderia relatar como se formou El corno emplumado? Agulha - Revista de Cultura SM - La aventura editorial del Corno emplumado comenzó de manera casi casual a fines del año 1961. Yo estaba terminando mis estudios en la escuela de periodismo y hacía reportajes para la publicación mexicana Revista de América. Era octubre y acababa de entrevistar en la cárcel al pintor David Alfaro Siqueiros, que era un preso político. Le había preguntado, entre otras cosas, acerca de su relación con el pintor norteamericano Jackson Pollock y la supuesta influencia del muralismo mexicano sobre la escuela de la que Pollock era pionero y que más tarde recibiría en los Estados Unidos el nombre general de "action painting". Me hallaba inmerso en la redacción y documentación de esa entrevista, consultando libros con reproducciones de pintura norteamericana, cuando mi compañero de pupitre en la escuela de periodismo, el poeta Homero Aridjis, que acababa de publicar su primer libro, me invitó a ir a conocer al poeta "beat" de San Francisco, Cal., Phillip Lamantia -era la primera vez que oía yo la palabra "beat"-, el cual había llegado a vivir a México hacía poco tiempo. Aquel encuentro fue una revelación. En el departamento de Lamantía -que, aunque beat, era un poeta con fuertes cargas surrealistas, un personaje poseedor de una sonrisa contagiosa y una energía creativa a flor de piel que era casi eléctrica- hicimos inmediatamente una lectura de poesía, en las respectivas lenguas. Siguieron las traducciones y, como se había corrido la voz, se acercaron otros poetas: los nicaragüenses Ernesto Cardenal y Ernesto Mejía Sánchez, que residían en esta ciudad, el mexicano Juan Martínez, el pintor Felipe Ehrenberg, el poeta Ray Bremser, que acababa de llegar a restañar aquí las heridas que le había dejado el sufrir prisión y enfrentar un juicio en Texas por posesión y uso de mariguana -del que salió airoso. Poco después Lamantía -todavía en octubre- me llama para decirme que deseaba que conociéramos a Margaret Randall, recién llegada de Nueva York. Esa misma noche estábamos todos leyéndonos nuevamente unos a otros nuestros poemas. El departamento de Margaret Randall estaba cubierto de pinturas que había traído con ella, obras abstracto-expresionistas, escuela que yo veía por primera vez en vivo y cuya estética ejerció luego cierto influjo sobre la revista. Todo aquello me ayudó a redondear mi reportaje sobre Siqueiros (que más tarde ilustró la edición que dedicamos al poeta Walter Lowenfels). Agulha - Revista de Cultura El resto sucedió vertiginosamente. En una de las sesiones, el grupo "descubrió" la necesidad, y "vio" en el azar que nos había reunido, la oportunidad de editar una revista que mostrara "los dos mundos" -el orbe de la poesía hispanoamericana y el de la poesía norteamericana: la poesía que se estaba escribiendo en ese momento. Rápidamente se bautizó a la revista con el nombre de el corno emplumado / the plumed horn (aludiendo al "horn" norteamericano del jazz, y a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, el dios tutelar de las culturas prehispánicas mesoamericanas). Aunque ninguno de los tres teníamos experiencia previa en la edición de revistas, se nombró encargados de la edición a Margaret Randall y Harve Wollin -otro poeta beat que nos visitaba- por la parte norteamericana, y a Sergio Mondragón por la de español. Los fondos para el primer número, que apareció en enero de 1962, se reunieron en el curso de aquellas sesiones de lectura de poemas. CW - Vejo, e não só pela participação de Margaret Randall e pela edição bilíngüe, em espanhol e em inglês, desde o início uma busca de expressão da moderna produção cultural mexicana somada a uma vocação cosmopolita, um olhar voltado para os continentes americanos. Era esse o projeto? SM - El corno era todo eso junto: por una parte, búsqueda -y encuentro- de una expresión de la moderna producción cultural mexicana e hispanoamericana: los nuevos poetas mexicanos ya no escribíamos como se había escrito aquí hasta entonces: profesando una devoción total a la perfección formal, al color gris, al tono discreto, al discurso lineal, a la pureza idiomática, a la transparencia anecdótica, etc. Entre nosotros, se trataba ahora de una ruptura con ese mundo y lo que representaba, y todo había comenzado un poco antes, con la poesía de Marco Antonio Montes de Oca y la prosa de Juan Rulfo y Carlos Fuentes (algo parecido a lo que estaba ocurriendo en la literatura del resto de nuestros países con respecto de su propia tradición); por otro lado, los poetas norteamericanos llevaban a cabo una labor semejante: ya no pensaban ni escribían como T.S. Eliot o Ezra Pound y negaban con un aullido tanto al pasado como a un presente que los asfixiaba: el sonriente mundo norteamericano que había soltado la Bomba sobre ciudades densamente pobladas y que emergía con la conciencia tranquila y el rostro afeitado de la guerra de Corea, mientras se involucraba en la de Vietnam, y que trituraba a todo aquel que no se entregara sin chistar al proyecto del "sueño americano". La propuesta de los beats era doble: un lenguaje verdaderamente liberado, y un ser humano también libre pero, además, sagrado, beatífico, con derecho a ser considerado y tratado con respeto, y con el potencial para construir y habitar un mundo nirvanizado: una idea que tomaban prestada del budismo; Agulha - Revista de Cultura un mundo intenso, calmo y positivo, no para ser globalizado sino para volverlo profundamente personal, aunque compartible. En ambos casos, la poesía de "los dos mundos" era el lenguaje de la rebelión, algo que se nutría sobre todo del legado que había dejado la vanguardia. La vocación cosmopolita, que más que formar parte de un proyecto del Corno fue el sentimiento que impregnó la época, fructificó de inmediato. Distribuimos la revista en México, Nueva York y San Francisco. Animados por el dinamismo de Margaret Randall -que además de unos hermosos ojos azules tenía un excepcional sentido de la organización-, y gracias a una lista de los lugares en que la editorial Fondo de Cultura Económica tenía colocados sus libros en América Latina, que nos fue proporcionada por su director, Don Arnaldo Orfila, quien había acogido nuestra revista con simpatía, el Corno estuvo en unas cuantas semanas en las librerías de Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, Lima, Santiago, Caracas, Quito, La Habana, Managua, Montevideo... La respuesta fue rápida. Pronto llegaron a nuestra casilla de correos las salutaciones, las señas de identidad y las colaboraciones. De los beats pasamos a otras vertientes de la poesía norteamericana: Creeley, Olson, Black Mountain. Los primeros en comunicarse con nosotros fueron Miguel Grinberg, Haroldo de Campos, Cecilia Vicuña, Raquel Jodorowsky, Pablo Antonio Cuadra, Gonzalo Arango, Alejandra Pizarnik, Edmundo Aray y los grupos Tzántzicos, Nadaístas, Poesía Concreta, Eco contemporáneo, Techo de la Ballena, City Lights Bookshop... Atraía ver en el Corno poesía fresca, tipografía novedosa, ideas y palabras que sonaban verdaderas, dibujos cuyas líneas eran delgadas incisiones en la piel de la época. Nos dimos cuenta, en ambas direcciones, de que en todas partes estaba sucediendo lo mismo: se despedía una época, se inauguraba otra, se experimentaba una vibración humana nueva. La revolución cubana aparecía en el horizonte como una aurora de esperanza (en un momento de feroces dictaduras militares latinoamericanas). El mundo entero se debatía en el parto. Era la energía de los ahora míticos, atroces y dorados años sesenta, que dividieron el siglo y nuestras literaturas en dos mitades -aunque ya antes había sido servido el aperitivo vanguardista en la vajilla deslumbrante del arte moderno. En el Corno le llamábamos a todo eso que pasaba ante nuestros ojos, "revolución espiritual" y hablábamos de un "hombre nuevo" que habitaba una "nueva era". Eco Contemporáneo convocaba a una "Nueva solidaridad". La antología de poesía mexicana que elaboraron en 1966 Octavio Agulha - Revista de Cultura Paz, Homero Aridjis, Alí Chumacero y José Emilio Pacheco, y que denominaron "poesía en movimiento", se configuró en más del cincuenta por ciento en su parte correspondiente a los nuevos poetas, con poemas tomados del Corno, así como de proyectos editoriales afines al nuestro como "Pájaro cascabel", "Cuadernos del viento", "Diálogos", "El rehilete", "La cultura en México", "Revista mexicana de literatura"... En el prólogo de ese libro, Paz se extendió sobre el concepto que llamó "tradición de la ruptura". No sólo nuestro correo se veía atestado: también nuestra casa y los hogares de otros poetas que dieron posada en muchas ocasiones a las migraciones de artistas que llegaban o pasaban por México: provenientes de los Estados Unidos (incluidos Kerouac, Ginsberg, Cassady, Ferlinghetti), los que escapaban del mundo desarrollado y deshumanizado y llegaban atraídos por el universo de los indios, las pirámides, los volcanes y los hongos alucinantes, un lugar equívocamente apasionado e idílico inventado en parte por libros como La serpiente emplumada, de D. H. Lawrence y Bajo el volcán, de Malcolm Lowry; los que venían del sur emigrando hacia el Norte (también mítico), buscando Nueva York. La contundencia de esos hechos y la fuerza de los poemas, las cartas que publicábamos, la obra gráfica y la notable red de comunicación que se estableció en una época que todavía no inventaba el internet -algo que Raquel Jodorowsky definió en ese momento como "una circulación sanguínea de poesía-, rebasaban inmensamente cualquier proyecto que pudo haber alentado el Corno desde el principio, que en todo caso compartió el privilegio de sentirse una parte de todo aquello. CW - Provavelmente por meu endereço haver sido passado por você para Miguel Grinberg, do Eco Contemporáneo, bem como para outras publicações e grupos, como o Techo de la Ballena venezuelano, os nadaístas colombianos etc. tive a impressão de que se formava naquele momento uma espécie de rede iberoamericana de poesia e cultura alternativa ou de resistência. Esse pan-americanismo do novo correspondia a um projeto consciente, proposital? SM - El panamericanismo, más que un proyecto deliberado, era un hecho del espíritu, un rasgo de cuyo lenguaje se apropiaron, como siempre, los políticos: aquellos fueron también los años en que se inventó la O.E.A., la Unión Panamericana, que fue en muchos sentidos un instrumento para hundir aún más en el subdesarrollo a la América Latina (los resultados están a la vista). Ernesto Cardenal vio pronto aquellas realidades y escribió en carta de tono mesiánico que publicamos en enero de 1963: "La verdadera Unión Panamericana es la de los poetas, no la otra... sigamos agitando hasta alcanzar toda la América Latina, ayudados ahora por los Agulha - Revista de Cultura poetas yanquis... esa es otra de las misiones que tiene el Corno...". CW - Vocês tinham consciência do que se preparava, do advento, pouco depois, da contracultura e das grandes rebeliões juvenis? SM - La llamada "contracultura" era y es, de hecho, la cultura misma: contraculturales eran Aureliano Buendía, Pedro Páramo y Artemio Cruz, aunque transpiraran tradición; también los versículos del "Kaddish" de Ginsberg y los acentos irregulares de "Piedra de sol", de Octavio Paz. Las grandes rebeliones juveniles que fueron la antesala del mundo de hoy, no eran sino expresión de la crisis. Nuestra generación poética vivió esos años tratando de alcanzar a los acontecimientos y hacerse consciente de ellos, intentando ponerse a la altura de las circunstancias y aprendiendo a ser críticos y a no tomar las cosas demasiado en serio. Los grandes artistas modernos habían ya presentido y anunciado todo aquello: el cubismo, resquebrajando los muros de lo real (y aún antes, el impresionismo, desdibujándolos). "Algo se prepara", había advertido también André Breton (¿o fue Benjamín Peret?). Los años sesenta y sus rebeliones juveniles y sus revistas y sus poetas fueron sólo un parpadeo en aquel siglo bárbaro y entrañable, que rezumó tanta abyección como humanidad y al que algunos estamos tratando de empezar a concientizarlo del todo como parte de nuestro pasado personal. Cabría aquí repetir lo que dice Gabriel García Márquez en su más reciente libro, Vivir para contarlo: "la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla". CW - Quais periódicos culturais que, na sua opinião, desempenham hoje uma função cultural relevante, no México e na América Latina? SM - Vivo medio desconectado del mundo de los periódicos literarios latinoamericanos y me sería difícil responder. La revista electrónica Agulha, la única de su tipo con la que tengo contacto (de manera deliberada uso muy limitadamente el correo electrónico), me parece un esfuerzo notable y sumamente valioso, de alto nivel intelectual, un signo esperanzador de los tiempos actuales. En México circulan varios periódicos culturales que realizan una labor importante. Yo frecuento cuatro: "La jornada semanal", "Letras libres", "Alforja" y "Periódico de poesía". CW - Quais são, neste momento, seus projetos, tanto no plano da Agulha - Revista de Cultura criação literária pessoal quanto da agitação cultural e do periodismo literário? SM - Actualmente me encuentro escribiendo un libro de poemas y otro de ensayos literarios. MIGUEL GRINBERG CW - De onde você surgiu? MG - Al producirse el golpe militar que derrocó a Perón en septiembre de 1955, yo cursaba el primer año de Medicina en la universidad de Buenos Aires. Venía caminando por una avenida de mi barrio, cerca del estadio del club de fútbol Ferrocarril Oeste, con flamantes 18 años y la Libreta de Enrolamiento recién retirada del Registro Civil. A lo lejos vi que avanzaba hacia donde yo estaba algo sorprendente: una columna de tanques "leales" que iba a atrincherarse en el estadio. Por televisión, vi que navíos de guerra bombardeaban depósitos de combustible en el puerto de Mar del Plata. Tres meses antes, tras un primer ataque fallido contra el gobierno, yo había caminado entre los destrozos causados por la metralla de la aviación naval en la Plaza de Mayo, durante su ataque a la Casa Rosada. Es así que nace un "pacifista". Al año siguiente, ya entronizada en el gobierno, la Junta de Comandantes decretó el fusilamiento del general Valle, jefe de un grupo de la resistencia peronista. Numerosos conspiradores civiles fueron arrestados durante la noche y fusilados en un descampado. Hoy ese episodio se conoce como Operación Masacre. Muchos años después visité en su casa al poeta y novelista Leopoldo Marechal, y me contó que fue en su sala de trabajo, y sentado en su propio sillón, que el general Valle había diseñado la intentona. "No sé por qué no me mataron a mí", comentaba. "Hubo una delación, y los arrestaron a todos antes de entrar en acción". Una hernia inguinal me eximió del servicio militar. En la facultad, la puja sectaria entre activistas de la derecha católica y del partido comunista (todos fervorosos anti-peronistas) me eyectó de la militancia política. Los mejores profesores fueron desplazados (fuesen o no adictos al régimen dictatorial depuesto) y la única manera de "aprender" bien era asistir a cursos laterales que ellos daban en los hospitales donde trabajaban. Leía con simpatía algunos periódicos anarquistas. En 1956, hubo en la Argentina una epidemia de poliomelitis. Recibí de la Asistencia Pública un diploma de agradecimiento como miembro de los primeros equipos de vacunadores voluntarios que aplicaron la vacuna Salk. Es así que nace un ecologista. Descubrí las novelas libertarias de Roberto Arlt: "El juguete rabioso", "Los siete locos", "Los lanzallamas". En esos días, la resistencia cultural se daba en infinitas salas de teatro independiente, y medida que me alejaba de la facultad, pasaba mi Agulha - Revista de Cultura tiempo entre los espectáculos de teatro y la programación de los cines de arte. Ingresé a la escuela de arte escénico de la Sociedad Hebraica en Buenos Aires y me convertí en actor. CW - Antes de Eco Contemporáneo, você havia estado envolvido em algum projeto coletivo, alguma iniciativa dessa natureza? MG - Comencé a escribir poesía bajo el impacto de la literatura de Albert Camus y de la poesía beat. En 1959, después de recibir Howl de Allen Ginsberg, enviado por un amigo que había ido a estudiar en el Actor’s Studio de Nueva York, comencé una correspondencia amistosa con el poeta norteamericano, que estaba en Marruecos. Y a traducirlo al español. Trabajé mucho para diversas compañías en pequeños teatros del circuito alternativo. Allí, a mediados de 1960, conocí a un joven escritor de mi generación, Antonio Dal Masetto, y cuando surgió la bossa-nova en Brasil, nos apasionó y ambos decidimos ir a Rio de Janeiro por tierra en el verano. Él regresó al mes porque trabajaba en un juzgado, yo me quedé tres meses y viví a fondo el Carnaval Carioca. Conocí a muchos jóvenes poetas. Y de regreso en Buenos Aires comencé a frecuentar los bares literarios y a los editores de revistas de poesía. Me escribía con mucha gente de América Latina y descubrí la nueva poesía del Perú y del movimiento Nadaísta de Colombia. Las revistas literarias de Buenos Aires, todas de izquierda, sólo se interesaban en la poesía cubana de la Revolución y no admitían la existencia de poetas libres en Estados Unidos. A Dal Masetto y a mí nos despreciaban. CW - Faz parte da historia, mas mesmo assim tente resumir o relato de como se formaram o Eco e o Equipo Mufado. MG - Después de fracasar durante 1961 en la ubicación en las revistas de Buenos Aires del material literario que teníamos, Dal Masetto, yo y un estudiante de filosofía llamado Juan Carlos de Brasi (cuyo hermano tenía una imprenta en la provincia de Buenos Aires) decidimos hacer nuestra propia revista. Nos reuníamos todas las noches en el pequeño Bar San Martín frente al Teatro Municipal (Avenida Corrientes). Estaba a mitad de la cuadra, los mayores cafés literarios estaban en las dos esquinas vecinas. Hacia una de ellas, el Café La Comedia; hacia la otra el Bar La Paz. Pensamos muchos nombres ridículos, hasta que De Brasi propuso otro peor que no recuerdo, pero que sería una revista del "eco contemporáneo". Quedamos de inmediato bautizados. Llevé los originales a una linotipia de mi barrio, compré el papel muy barato en una importadora que lo traía de Finlandia, y llevamos todo a la imprenta que estaba en el pueblo de San Andrés. El número 1 quedó fechado noviembre-diciembre de 1961. La encuadernamos nosotros, a mano. Y salimos a distribuirla por las librerías y los quioscos literarios del centro porteño. En ese tiempo se editaban nuevas revistas todos los días. Agulha - Revista de Cultura En 1962, el primer poeta que se incorporó al grupo fue Alejandro Vignati, desertor del grupo literario Agua Viva. Poco después aparecieron desde la ciudad de La Plata los escritores Jorge Rubén Vilela y Jorge Di Paola Levín, y el dibujante Mariano Betelú, amigos del gran novelista polaco Witold Gombrowicz, que vivía en Buenos Aires desde 1939. Y los poetas Gregorio Kohon y Juan Carlos Kreimer. Así nació el Equipo Mufado. Mis ensayos proféticos se titulaban Mufa y Revolución. Descubrimos que en todas las capitales latinoamericanas había movimientos de poetas y escritores como nosotros, entonces fundé el Movimiento Nueva Solidaridad (MNS). Le ofrecí la presidencia a gente famosa como Henry Miller y Thomas Merton (que había conocido por correo a través de Ernesto Cardenal de Nicaragua) y los dos aceptaron. Fue maravilloso. En esos días, llegaron a la librería Galatea de Buenos Aires los primeros ejemplares de la revista de México El Corno Emplumado, que había comenzado también en nov-dic 1961. Nos hermanamos con sus editores, Sergio Mondragón y Margaret Randall, de inmediato. CW - Tenho a impressão que naquele grupo havia gente que acabou tendo alguma atuação relevante destacando-se na vida cultural argentina e ibero-americana, não? Você pode dizer alguns que emergiram de Eco? MG - El principal, quien es hoy uno de los mayores novelistas de la Argentina, muy premiado, Antonio Dal Masetto, con obras adaptadas para el cine y la televisión, y escritor constante en el diario Página 12 de Buenos Aires. Alejandro Vignati vivió un tiempo en Rio de Janeiro, y emigró después a España donde se convirtió en autor best-seller sobre temas de realismo fantástico: falleció en Caracas en 1982. Tengo guardadas de él dos novelas apocalípticas inéditas y maravillosas: Mirando llover en el Infierno, y En la Trastienda del Lavadero Chino. Kohon es un importante terapeuta en Londres, y Kreimer es un exitoso editor en la Argentina. CW - Vocês tinham consciência de que estavam sendo precursores da contracultura e de uma grande rebelião juvenil? MG - Totalmente. El MNS organizó en febrero de 1964 en la capital de México un primer encuentro de la Nueva Solidaridad, y programó el segundo en Rio de Janeiro para junio (lo abortó el golpe militar brasileño de marzo). A México fueron poetas nuevos de las tres Américas, entre ellos la sensacional Raquel Jodorowsky Agulha - Revista de Cultura de Perú. Nos mandaron mensajes solidarios gente consagrada como Julio Cortázar y Salvatore Quasimodo. De allí, pasé casi todo el resto del año en Nueva York y San Francisco, con todos mis hermanos beats. Fui parte de la fundación del Underground Press Sindícate. - El impacto del encuentro mexicano fue tan grande que en febrero de 1965 la Casa de las Américas de La Habana nos invitó a Allen Ginsberg, al nadaísta colombiano Elmo Valencia, a Edmundo Aray del Techo de la Ballena de Venezuela y mí, a ser jurados de su gran Premio Literario. Los primeros discos de Bob Dylan que llegaron a Cuba los llevó Ginsberg, yo llevé los primeros discos de Los Beatles. En agosto de 1965 organicé en el vanguardista Instituto Di Tella de Buenos Aires la muestra New American Cinema de la Cinemateca de Nueva York que dirigía Jonas Mekas. Éramos la vanguardia y lo sabíamos muy bien. Cerré Eco en 1969 y en 1970 empecé a editar la revista Contracultura. CW - Provavelmente por meu endereço lhe haver sido passado por Sergio Mondragón do Corno Emplumado (ou vice-versa, seu endereço me haver sido passado), bem como de outras publicações e grupos, Techo de la Ballena, Nadaístas, etc. tive a impressão de que se formava uma espécie de rede ibero-americana naquele momento, de poesia y cultura alternativa ou underground. Era isso mesmo? Era um projeto consciente, proposital? MG - Era 100% consciente e intencional. Además de los ya mencionados de México, Colombia y Venezuela, estaba la revista El Pez y la Serpiente con Pablo Antonio Cuadra y Ernesto Cardenal en Nicaragua, los Tzántzicos (cazadores de cabezas) de Ecuador con Ulises Estrella, Claudio Willer y Roberto Piva en Sao Paulo, Nicanor Parra en Chile, y muchos más. Un día recibí un artículo tuyo que se refería a un ensayo histórico de Ginsberg, titulado El Artista y las Revoluciones, que yo había publicado en la Eco número 5. Lo interesante es que este movimiento no paró nunca, al punto que en 1990 Ginsberg organizó un encuentro panamericano en el Instituto Naropa de Boulder (Colorado, EUA) donde él y yo nos reunimos con Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti, Margaret Randall, Ed Sanders y muchos más de Estados Unidos y América Latina: redactamos una Declaración de Interdependencia (ecológica). Que un mundo enfermo no preste atención no quiere decir que nosotros hayamos desistido. Claudio Willer (São Paulo, 1940). Poeta, ensaísta e tradutor. É um dos editores da Agulha (http://www.revista.agulha.nom.br/ageditores.htm). Página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 El legado poético de José Hierro Miguel Ángel Muñoz . Hay poetas que, para desmenuzar y profundizar en su pasión por el mundo, necesitan la exaltación de la memoria, el espectador del paisaje, y la tradición de la cultura. José Hierro (Madrid, España, 19222002), fue uno de estos escritores; él , que trasmitió con simplicidad lingüística, como pocos poetas de su generación, ese lenguaje mediterráneo que se resiste a muchos. No es el único escritor español que, en el siglo pasado, se nutrió del paisaje, que con tanta claridad se abandona en el mar, y más allá, a otras tierras. En suma, es la aspiración hacia la unidad póética. Es un fundador. Cada poema de Hierro recupera la memoria, habita desnudo todos los espacios. Y construye rincones para que su diálogo interno pueda cumplir todo el ritual de la escritura. Ya Fray Luis de León no se encuentra solitario en su habitación. A la sombra tendido, de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce, acordado, del plectro sabiamente meneado. Indudablemente, en estos versos es por donde gravitó más la poesía de Hierro. Pero hay otro modo - dice José Olivio Jiménez- de realizar el prodigio. No invocándolo, no mencionando su posibilidad: haciéndolo, con la palabra, el poema mismo. Su poesía Agulha - Revista de Cultura lo separa del mundo, y esa misma realidad, lo lleva a descubrir otras: la suya y la de otros. Algunos poetas de la generación de Hierro, como José Ángel Valente, o más cercanos como Francisco Brines, han hecho del lenguaje materia prima. Pero en Hierro el lenguaje se compacta, rompe con su entorno, se convierte en un poeta solitario. Un caso semejante lo fue Valente, pero la poesía de este último es hermética, su discurso poético se centra en el ámbito del ser, de la muerte; la de Hierro se centró en la existencia del poeta en este mundo, en un tiempo y espacio determinado. Aunque en ambos, más que reflexión, hay meditación poética. La obra de Hierro ocupa ya un lugar clave en la poesía de lengua española del último medio siglo. En 1947 aparece su primer libro, Tierra sin nosotros, y gana el premio Adonáis de poesía con Alegría, en esos años Hier ya declaraba los síntomas de apagamiento de su voz. En el prólogo que encabeza su tercera entrega Con las piedras, con el viento... (1950), afirmaba que "la poesía es realmente esa llama que vive en quien sabe alimentarla durante toda una vida, y sospecho que en mí se va apagando". La aparición en 1964 del Libro de las alucinaciones, no sólo desdijo esa profecía, sino que abrió las esclusas de un tipo de escritura visionaria de escasas conexiones con el entorno. Su lenguaje a partir de ese momento es un continuo proceso de enriquecimiento lingüístico y densidad expresiva. Desde un principio, sin embargo, aunque cada vez transitado en su obra reciente, se le abre otro camino camino poético: el de las alucinaciones. Y entonces, como dice el mismo Hierro " todo aparece envuelto en niebla". Quizá el más claro ejemplo es su poemario Cuaderno de Nueva York (Editorial Hiperión,1998), en el cual establece un diálogo múltiple con la ciudad: personajes, calles, héroes, pesadillas que se entrelazan en un mismo espacio y tiempo. Cuando se editó este libro Hiero tiene 76 años, se dice que una edad de claudicante retirada para comenzar nuevas aventuras. El tópico de que la poesía se acopla mejor con las wxacerbaciones juveniles es detenido en la obra de poetas como T.S. Eliot, Juan Ramón Jiménez, Wallace Stevens, W.B. Yeats, y desde luego, en Hiero. Lo digo, porque Cuaderno de Nueva York, es después del Libro de las alucinaciones su mejor obra poética, pues ambas suponen una invención considerable a cuyos derroteros estéticos se ha plegado después en toda su poesía. En estos libros, se percibe palmariamente el universo mayor de un poeta también mayor que ahora, para desolación de sus amigos, se nos ha ido. José Hierro fue puente entre la primera generación de posguerra y la de los Cincuenta, obtuvo todos los premios posibles en el mundo de las letras: el Cervantes de Literatura, el Nacional de Poesía en España, el de las Letras Españolas, el Reina Sofía de Poesía y el Príncipe de Asturias, entre muchos otros. Hierro dio su voz, y ahora Agulha - Revista de Cultura como mínimo homenaje le doy la voz al poeta en este fragmento de entrevista, que es parte de las muchas que hicimos juntos durante más de cinco años en múltiples momentos. La idea de libertad es la de la poesía, y ahora la compartimos. [M.A.M.] MAM - ¿ Cómo dialoga con el lenguaje, de qué manera inventa formas y nos revela un mundo mágico? Lo pregunto pues está a punto de cumplur los 80 años de vida, y su poesía sigue igual de mágica que en un principio. JH - Bueno, uno dialoga siempre con el lenguaje, lo crea y en momentos lo renuea. El poeta es obra y artificie de su tiempo. El signo del nuestreo es colectivo y social. La poesóia es la búsqueda del conocimiento por la palabra; esto es un acto o método de iluminación interior. MAM - En su libro, Cuaderno de Nueva York - que tantos premios le ha merecido - se pregunta " quién soy, si soy, qué hago yo aquí", ¿ cuáles son los caminos poéticos de José Hierro ? JH - Camino siempre los mismos sitios. Nueva York es el fondo de ese libro que mencionas, pero no hay en él un descubrimiento o revelación, sino un pensamiento de país o de su cultura, y eso lo desarrollas. Hay una cosa estúpida que la gente siempre asocia y es el poeta de Nueva York de Lorca; pero lo mío es otra cosa muy diferente. Antes que Lorca lo hizo también Juan Ramón Jiménez. Pero bueno, esas son cosas que no importan, mi cuaderno busca lo que es afin, nunca viajé tratando de encontrar lo exótico, sino lo próximo. La poesíoa ve más que el poeta, aunque el poeta trata de fundirse con la naturaleza, de llegar a la esencia de los elementos. La poesía se pierde en los límites del tiempo y del espacio. Ambos son la misma cosa, pero en momentos nunca se encuentran y ese acto enriquece la idea del poeta y de la poesía. MAM -¿ Cuál es la meditación del lenguaje en su obra ? JH - Lo principal es poner la palabra en su sitio. Pero, ¿ cuál es su sitio?, un culo siempre tiene su definición, y no hay otra palabra que pueda sustituirla. El lenguaje es una labor de búsqueda, una unión de poeta y palabra que crea un puente entre instante y eternidad; siendo sin tiempo los dos, coinciden en un punto de llegada. Al igual que Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, la poesía es para mí lo que otros no pueden decir, que es una consecuencia expresiva de una realidad propia. Agulha - Revista de Cultura MAM -¿ Cree que la purificación del lenguaje perjudica o beneficia al acto poético ? JH - No creo mucho en la purificación del lenguaje como tal, sino en el enriquecimiento y precisión del mismo. Eso de purificar la lengua es una puñeta de los académicos y demás escritores que cuando escriben piensan que pulen nuestro idioma. El mestizaje es lo que nos enriquece, de lo contrario sería de una indolencia asquerosa. Cuando hablo de cierto desarrollo de mi poesía, me estoy refiriendo al enriquecimiento del lenguaje. Hablo de lo citidiano. La palabra poética es abierta frente a otras, como podría ser la ciencia, que es muy cerrada en su sentido lingüístico. Si nombro la palabra estación, se convierte en un signo cotidiano cerrado. Pero cuando la llevo al poema no es así, se transforma totalmente, adquiere otro sentido, y es ahí cuando el lenguaje se abre, se pule, se convierte en algo colectivo. No hay palabras puras o impuras, todas son lo mismo: un lenguaje universal. MAM - Entonces, ¿ la palabra es la búsqueda de otros significados? JH - Desde luego, es una expresión de multiplicar nuestras ideas. Yo lo he aprendido porque me lo enseñado mi experiencia poética. Nunca me lo he propuestob como tal. Juan Ramón Jiménez es un gran poeta, llega lejos, descubre y transforma el lenguaje de su tiempo. Eso es un acto de admiración total. Por esos caminos tiene que transitar uno, y experimentar la fusión con los signos o códigos poéticos, como dicen los críticos actuales. MAM -¿ Hay cambios de matices dentro del poema al encontrar muchas voces personales ? JH - La relectura te obliga a engrandecer el poema, es un acto de búsqueda creativa. Al reer el poema lo haces nacer de nuevo, le estás dando un nuevo sentido. Hay que encontrar la palabra precisa parta situarnos más cerca de una expresión única, que es la inmediatez de la realidad, tanto como el poeta dice su propia historia como cuando necesita comunicar su categoria verbal. MAM -¿ Se trata de recuperar la memoria en el instante preciso ? JH - Sí, y ello me lleva a una relación distinta con la poesía, plena en cierto sentido: las palabras serían la culminación de recuperar la Agulha - Revista de Cultura memoria. Todo esto coincide con el cambio personal en mi escritura. Estos procesos hay que entenderlos dentro de un marco evolutivo en dos sentidos: espiritual y escritural. En embos hay que guardar las distancias, pero también los dos son únicos y compartidos. Uno mismo observa cuando escribe y se pierde en recuperar lo perdido. Tal vez lo importante es darle corporeidad verbal al poema que es un modo de darle fijación a los awres transitorioas que te rodean y que te definen. MAM - En libros como Cuánto se de mí, Libro de las alucinaciones o Cuaderno de Nueva York el tiempo se erige en centro temático. ¿ Considera que ese hilo conductor de su poesía tiene carácter de enigma ? JH - No lo sé. Creo que detrás de cada texto el lector tiene que encontrar algo, de lo contrario mejor hay que dedicarse a puñetear por la vida. La poesía es una relación entre instante y realidad. Es un acto posbélico de los sentidos, es continuo de enriquecimiento artístico y densidad expresiva. MAM -¿ Es ese camino una búsqueda en sí misma o es luchar contra la creación ? JH - No creo que sea algo que uno busca, sino más bien es un hecho que llega solo. La obra tiene que gravitar sobre una tradición, que el lector atento puede ir observando al paso de los años. La experiencia poética no tiene límites. Sólo la palabra puede, en efecto, ofrecernos un alimento distinto en la actualidad y, con ella, escuchar la voz del propio lenguaje, la carne de las palabras. Cuando el poeta corrige, va encontrando la fuerza mágica del lenguaje. Hay que inventar palabras necesarias. MAM - Recuerdo todavía con sorpresa el discurso sw aceptación del Premio Cervantes, donde hablaba de un mito sin padre, ¿ cuál es el mito sin padre de El Quijote ? JH - La creación de El Quijote no entendió a su padre. Para Unamuno, siempre a contracorriente, provocador, Cervantes es una criatura de El Quijote. " Cada uno es hijo de sus obras", recordó alguna vez. Y al llegar a este punto creo que empiezo a comprender el papel que Azorín puede interpretar en esta disparatada comedia. Porque Azorín, buen lector por buen escritor, afirma que: " El Quijote no lo escribió Cervantes, sino la Agulha - Revista de Cultura posteridad". MAM - Pero en el sistema estético de esta obra hay muchas resonancias poéticas que hacen accesible su visión del mundo al lector. ¿ cree que El Quijote tiene una fuerza de impregnación popular única ? JH - El sistema del poema, recordé antes, consiste en hacer accesible a la razón lo que, en su origen, es la música errante que ha de encadenarse al pentagrama, lo que le permitirá ser interpretada y, en consecuencia, hacerse audible para todos, aunque no sepan nada acerca de la música, cómo podemos poner en marcha un coche sin conocer lo más elemental de mecánica. Eso mismo pasa con El Quijote. Sólo él ascendió a la categoría de mito, avanzando a tiendas, a golpes de digresión, buscando algo que no sé qué es, y que tal vez nunca sabré. MAM - Creo que entre José Hierro y El Quijote hay una similitud clave: ambos son artífices de su tiempo, ¿ cómo se siente usted ? JH - Bueno creo que me quieres demasiado. Pues, bueno... Pero tienes razón ambos trabajamos en un mismo tiempo que es la literatura, y creamos en un lenguaje universal: la poesía. Miguel Angel Muñoz (México, 1972). Poeta, historiador y crítico de arte. Es autor de los libros de ensayos: Yunque de sueños. Doce artistas contemporáneos; La imaginación del instante. Signos de José Luis Cuevas; Ricardo Martínez: una poética de la figura. Es director de la revista Tinta Seca. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Fabrício Carpinejar: contra a monarquia da poesia brasileira Floriano Martins . FM - Teu livro Terceira sede (2001), bem saudado pela crítica, encontra em Tarso de Melo uma de suas melhores leituras, ao mencionar que essa antecipação de uma consciência da velhice, em tua poética, não é senão uma afirmação da juventude da poesia. Por aqui começamos nosso diálogo: com três livros publicados, sendo cada um deles, em teu dizer, "capítulo de um grande romance versificado", o que tens buscado essencialmente através da poesia? FC - O poeta Tarso de Melo percebeu que Terceira sede, mesmo estando em 2045, falava de nossa própria época. Do futuro, o personagem percebe seu passado que é o nosso presente. Há um ilusionismo cronológico, uma bússola contorcida, um falso distanciamento que reforça a autenticidade das situações. Avanço para recuar. Com a poesia, busco nomear novamente a vida. Zerar as dívidas. A poesia brasileira mergulhou num egocentrismo atroz. Ao invés de transfigurar o mundo, passou a poetizar o poema. A poesia tornou-se um fim, não um instrumento, o que dificultou a vida dos leitores, que não estavam a fim de ficar papeando signos. Pretendo ser - um dia - um autor anônimo, ser invisível cada vez mais, a ponto de o interlocutor não notar que os poemas foram escritos, e ter a sensação de que eles são falados. Os poemas são conversas derramadas fora do corpo. Agulha - Revista de Cultura FM - O livro anterior, apesar do título, Um terno de pássaros ao sul (1999), teve sua estrutura confundida com a do hai-cai por vários críticos e um deles, Ricardo Corona, chegou a mencionar uma "tradição brasileira", a de haicais "infiéis". Talvez se considere no Brasil que a Santíssima Trindade não passa de um hai-cai infiel. O hai-cai não pode ser visto como uma ode ou um terno. É outra sua natureza, e a cultura brasileira lhe é completamente alheia. O que pensas a respeito? FC - Convenhamos: há realmente uma visada confusa sobre os haicais. Poemas recebem essa denominação em função da concisão e resolução imagética. Houve um relaxamento muscular dessa forma de poesia, o que permite a localização de hai-cais infiéis na produção brasileira, justa observação de Ricardo Corona. Mas os meus poemas estão mais perto dos epigramas gregos, da sentenças inconclusas, do abandono da imagem antes de sua explosão. O que verifico é que o humor brasileiro é diferente do temperamento oriental. Ocorreu uma mutação genética. A tradição japonesa - Bashô, as tankas de Takuboku Ishikawa, entre outros autores - provoca uma leve graça, um contentamento silencioso e inteligente, um leve balbuciar. Já a brasileira desanca para a risada, ao desbragamento de contrastes, seguindo influência de Oswald de Andrade e dos poemas-piadas dos modernistas. O risco é a poesia perder o poético e deslizar para a publicidade, ceder ao pitoresco. Misturam extravagância com poesia. O poema passa perigosamente a vender idéias. FM - Sigo anotando aspectos que me chamam a atenção nas resenhas de teus livros. O mais prosaico é o declarado espanto ao comparar consistência dos versos com a tua pouca idade, como se a afirmação de uma poética fosse um tento da maturidade. A poesia encontra-se ligada à ruptura, à ousadia, a um profundo questionamento de si. Afirma-se, portanto, no auge da juventude, alheia a todos os riscos. Talvez o que espante mesmo em teus livros é que, ao contrário do muito que se tem publicado neste país, tens algo a dizer. Indago então sobre as origens desse discurso. FC - Sou várias idades simultaneamente. Costumo ser a idade do interlocutor. Falo com uma criança e estou no mesmo nível de seu imaginário. Logo em seguida, converso com meus pais e novamente me adapto. Acredito que a faixa etária não servirá para qualificar ou desqualificar o juízo da obra. Se eu tivesse 72 anos, como o protagonista de Terceira sede, seria mais respeitado? Talvez sim, porque não se confia mais nos jovens . Como diz Althusser, o "futuro dura muito tempo". Se apreciam minha obra pela promessa, há um equívoco. Ela deve ser, independente do seu autor e de sua origem. Posso parar hoje e já estarei saciado. O tempo não é uma invenção humana. O homem é uma invenção do Agulha - Revista de Cultura tempo. Alimento uma crença absurda na palavra, desejando o próprio desejo. Tenho fé para escavar. Todos os meus livros já estavam em "As Solas do Sol". Como um palimpsesto, vou raspando as camadas e abrindo as metáforas. O poeta se enterra no primeiro livro - cabe ressuscitar depois. Minha vida é reerguer os destroços do naufrágio fundador. Encontrar as ossadas do oceano. Não sei se conseguirei ser mais rápido que o mar, mas não guardo fôlego para o regresso. Todo livro representa um capítulo de um romance versificado. Como um narrador oculto, teço um manto infindável de histórias, contrabandeadas de ouvido. Pretendo repassar uma visão de mundo, alcançar uma unidade perdida. FM - Ainda sobre as formas, tens uma adorável defesa da elegia, ao dizer dela que se trata do "jazz da poesia", por permitir "improvisações e solos mais fecundos". No entanto, te pergunto uma coisa: não é possível aprofundar-se e improvisar na ode, no salmo? Este sentido de liberdade que caracteriza o jazz não estaria além da forma, em seu espírito? E não vem justamente daí este "grande prazer e alegria em escrever" com que declaras tua aversão a uma "imagem masoquista do escritor"? FC - Sim, está além da forma, mas não vejo a forma como algo apartado do conteúdo. As improvisações das elegias não são as mesmas nas odes e nos salmos, que exigem uma maior regularidade do ritmo e menos rumor secreto. Elegias, assim como ficaram conhecidas com Rilke e Goethe, oferecem um andar mais arrastado, um fraseado solto, tenso, um lamento de metais, que provoca cisões com freqüência no discurso. As odes têm um alto grau de memorização, já as elegias valorizam a mensagem e a culminância da linguagem. Assim privilegio uma unidade fragmentada, feita de rompantes, lacerações e de uma conscientização gradual. O autor vai tomando consciência no decorrer do livro, amadurecendo a perspectiva durante o percurso. Não escrevo para dar uma lição. No máximo, para oferecer minhas perplexidades. Quando absorvemos os movimentos do outro, em total sincronia, não é submissão, mas liberdade. Todo domínio é liberdade. Quero que minha respiração seja sopro. Disciplino meu ritmo para ser espontâneo. A invenção precisa passar o mesmo grau de surpresa da descoberta. Ser espontâneo custa muito ensaio. Agulha - Revista de Cultura FM - Em uma entrevista observas que "há uma ligação grande e fecunda entre diversos autores no Brasil e que isso dará corpo a um movimento mais tarde". Me parece que saltamos do desgaste das vanguardas para o vazio dos modismos, e hoje nos encontramos inteiramente sem referenciais. Embora eu vislumbre essa ligação que mencionas não vejo como ela possa vir a tornarse em movimento. Daí que te peço que esclareças um pouco mais o assunto. FC - Não creio que será um movimento orquestrado, mas o pulsar de fortes individualidades. Muitas das novas vozes surgirão fora do eixo Rio de Janeiro/São Paulo, resgatando a travessia lírica de grandes metragens. A poesia brasileira ressentiu-se, nos últimos anos, com uma metalinguagem excessiva. Entende-se perfeitamente: uma forma de absorver fortes influências como Drummond, Bandeira e João Cabral. O poema foi questionado em interrogatório implacável e assustador e perdeu credibilidade de leitura. Os poetas realizaram uma espécie de suicídio coletivo, pensando que o poema era mais importante do que a vida. Poetizaram o poema até a exaustão. Retoma-se agora uma preocupação social. O ímpeto utilizado para a destruição será transferido para a criação. A poesia é uma língua não viciada, um dialeto e poderá prosperar como o idioma do bem comum. Na fala poética, não há filtros de mercado. Fala-se diretamente com a sociedade. FM - Nossa relação com a poesia hispano-americana é bastante precária, e seguimos todos lamentando e raramente fazendo algo a respeito. Embora seja maior a lista de autores brasileiros publicados em espanhol do que o contrário, a verdade é que também a América Hispânica desconhece nossa poesia. Há pouco li em uma revista argentina, Los rollos del mal muerto, uma excessiva consideração à importância de um poeta como Alvaro de Sá, brasileiro ligado ao Poema Processo. Por outro lado, a entrada de poetas hispano-americanos no Brasil vem estando mais vinculada a modismos editoriais do que propriamente a um entendimento da importância de uma obra. O que te parece que estamos perdendo com essa absoluta falta de diálogo? Agulha - Revista de Cultura FC - Nossa mudez é autismo antigo. Um dos maiores males da poética brasileira é que ela julga seu ciclo histórico diferente dos países vizinhos, quando há mais semelhanças do que impasses. O surrealismo é um exemplo. O Brasil é conhecido ainda pelos seus resíduos, não pelas fontes primárias. Uma teoria neorealista tentou soterrar as vigas e forçasmestras de nossa poesia. Trocaram os antepassados, podaram os ramos da árvore genealógica. É preciso rever o cânone, a tradição. Onde estão na história da literatura brasileira os aspectos visionários, subterrâneos, barrocos e místicos? Apressaram o velório de Jorge de Lima, Cecília Meireles e Murilo Mendes. Por exemplo, Murilo Mendes de Siciliana e Tempo espanhol não é abordado, prevalecendo o mais experimental e concretista de seus livros: Convergência. Nos últimos cinqüenta anos, procuramos nos esconder as próprias verdades, como queremos um reconhecimento internacional? Debaixo das aparências, estamos próximos de uma dicção ibérica. O que acaba sendo conhecido é um produto distorcido, de natureza extraliterária. O que agrava a situação é também uma idéia monárquica do gênero, o estabelecimento pela crítica de uma cota de autores. João Cabral morreu, procura-se de imediato um sucessor. Como se isso fosse possível? Nesta dança das cadeiras, poucos sentam. FM - Lembro aqui uma afirmação tua de que "a pluralidade no Brasil é esquecida em torno do monopólio de uns poucos", ou seja, ao invés de somarmos estamos sempre a diminuir, e já nos reduziremos a nada. O que me parece mais curioso observar é um princípio de conivência baseado na expectativa que todos parecem possuir de interesse em participar desse clube fechado. Daí o efeito de uma dinâmica estática, onde nada se questiona porque tudo pode ser usado contra essa velada afirmação de uma mesquinharia. Como tem sido teu convívio com teus pares? FC - Sou aberto às dissidências, diferenças e sei ler o outro sem uma finalidade autoral. Não me procuro no outro, procuro o outro em mim. Não faço parte de nenhum clube, nem estou escondido sob a efígie de tribos. Há escritores com medo de falar dos contemporâneos, pensando em apenas proteger a filatelia de versos e seus fornecedores. O que devemos entender é que fortalecendo a poesia, comentando e divulgando com franqueza vizinhos de vozes, estamos fortalecendo o gênero. Se entrarmos em brigas menores, de vaidades e egos, a poesia que já tem um espaço reduzido, perderá ainda mais seu terreno. A poesia é o despoder e não adianta que não nos dará serventia e status. Se prosseguirmos com cartas abertas e facções, mergulharemos no Agulha - Revista de Cultura colunismo social. FM - Em uma leitura panorâmica da poesia brasileira, recorrendo a uma metáfora futebolística, fizeste menção aos "grandes e raros, que são os técnicos/jogadores, conseguindo ter simultaneamente a visão do gramado e de fora dele". Na hora de citar nomes é que essa metáfora me pareceu intrigante: não temos ninguém assim na poesia brasileira? FC - Não temos mesmo. Prosseguimos com a visão de campo de excelentes jogadores, mas nenhum conseguiu como técnico criar uma teoria a partir de sua obra. No México, Octavio Paz e Carlos Fuentes seriam esses talentos simultâneos, inventores-críticos, capazes de pensar a cultura no todo e fomentar o diálogo com ancestralidades. Acredito que Mario Faustino teria sido esse craque, mas morreu cedo demais e levou a promessa junto. FM - Embora concordando contigo em termos de que "nosso lado místico, barroco, intuitivo e visionário acabou sendo posto de lado para prevalecer a razão e a técnica concretista", te pergunto o seguinte: particularidades como o concretismo e sucedâneos não seriam apenas a constatação de um cartesianismo imperativo em nossa cultura, um retrato dessa dissidência entre coroas portuguesa e espanhola? Como considerar ruptura o que não passa de uma confirmação da tradição? FC - A pergunta já é uma resposta. Por sinal, extremamente lúcida. Um dos problemas enfrentados é que movimentos provisórios no país se transformaram em governos permanentes. O que é visto como ruptura, na verdade é tentativa de consolidar um espírito autoral em função mais de uma teoria do que de uma criação. As bulas são vendidas sem o remédio. FM - O poeta argentino Juan José Ceselli, no livro Selva 4040 (1977), recorre a um tipo de anarquia temporal, saltando de uma época a outra, entrelaçando passado, presente e futuro. Em teu Biografia de uma árvore (2002), o que se faz é avançar no tempo, sem que isto se constitua em um desfiar de pressentimentos. Ceselli declarou que sua intenção era "desarticular o temporal". Qual seria então a tua intenção? FC – Minha intenção é a imanência, ser o próprio tempo Agulha - Revista de Cultura concentrado, diferentes épocas coexistindo. Não anseio pela transcendência, sair para voltar, mas ficar até que tudo seja uma incômoda ausência. Biografia de uma árvore transcorre em um único dia, de 23 a 24 de outubro de 2045. O personagem Avalor está prestes a completar 73 anos, extremamente desiludido com seu caminho. Acabou de perder a esposa, amigos, desligado de sua época. Decide brigar com Deus, até demiti-lo por justa causa, criando o Novíssimo testamento. Longe de ser um volume pessimista, representa uma narrativa lírica afirmativa, com muita irreverência, autocrítica e ironia. Avalor não fica enrolando, diz a verdade de cara. Não medita duas vezes, porque o cotidiano pensou por ele. Sofre pelo excesso de sinceridade consigo e com o mundo. FM - Percebo que a epígrafe deste livro pertence ao anterior Terceira sede (2001), sugerindo laços estéticos entre ambos. De que maneira um livro confirma o alcance poético do outro, como se completam e avançam em busca de uma expressão cada vez mais genuína? FC – Um livro nasce do outro. Há uma paternidade adotiva. Biografia de uma árvore estava soterrado na paisagem de Terceira sede. Foi aparecendo na medida em que cavava o verbo e procurava sobreviventes. Minha poesia funciona como "conficções", termo que criei para sintetizar algo como confissões inventadas. Se eu quisesse escrever sobre o que faço, nem publicava. O espelho já me diz o suficiente toda a manhã. Se optasse pela catarse, passaria a compor um diário Poema é o desejo insano de criar intimidade da estranheza. Daí procuro o conflito, a inquietação, caminhar no fogo, acentuar o contraste. É natural uma pessoa madura recordar da juventude e relatar esse período. Já um jovem se projetar velho é uma situação nova. Sou o sujeito do contrário, busco o avesso, desvirtuar o senso e o lugar-comum. Não vendo pílulas para dormir, quero acordar o leitor a tal ponto que ele vire um sonâmbulo. Nenhum livro que publiquei traz bula – é bom ter cuidado. Os efeitos colaterais mudam de acordo com a vontade e a fé de quem está lendo. Terceira Sede e Biografia de uma árvore oferecem um lado extremamente social, criticando a caricatura que aceitamos da velhice. Todas as propagandas mostram velhos andando de jet-ski, de balanço, em cenas exageradas. Parece dizer o seguinte: o velho só presta se imitar o jovem. Isso é ridículo, uma tremenda exclusão. Parece que esquecemos o essencial: o idoso é vida em aberto, em expansão. Não podemos olhá-lo como tempo perdido, cumprido, mas como tempo a ser ganho. Há o estigma equivocado de que com aposentadoria morremos socialmente. Não penso assim. Ninguém morre por antecipação. Precisamos jogar até o último minuto. É possível mudar o placar de qualquer partida em um simples lance. Agulha - Revista de Cultura FM - Tens uma prática admirável em busca de um diálogo com o que está à tua volta: resenhas, artigos, entrevistas. Este sentido de uma entrega, uma doação, contradiz uma época que se aperfeiçoa na eliminação da livre emoção. Por que entrevistas? O que elas revelam, a ti e à tua poesia? FC - Concordo: é doação. A intimidade descende do alheamento. Insisto no áspero diálogo, no escambo de experiências. Não sou um crítico, mas um poeta atuante, que não se finda na própria obra, que se dispersa e se recolhe nos demais autores. Ninguém é pai de um poema sem ter sido filho dele antes. Estou sempre nos dois lados, escrevendo e espiando, lendo e multiplicando a fome. Posso errar, porém não será um erro póstumo. É um erro vivo, assumindo a responsabilidade com o destino de meu imaginário. Abomino a omissão, espécie de covardia da verdade. Espero desaparecer. Da vida, a mais difícil alfabetização é lentamente desescrever. Renunciar o conhecimento como uma posse, uma herdade, perder a memória, ser unicamente o necessário, a roupa do corpo, poesia quase prosa, a pupila parada da música. Recuso a vaidade da autoria, faço o possível para não deixar rastros, marcas. Desconfio do meu talento. A terra se abre como um livro. Floriano Martins (Fortaleza, 1957). Poeta, ensaísta e tradutor. É um dos editores da Agulha (http://www.revista.agulha.nom.br/ageditores.htm). Entrevista realizada com o poeta brasileiro Fabrício Carpinejar (1972), por ocasião da publicação de Biografia de uma árvore (agosto de 2002). Página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Floriano Martins e o mergulho em todas as águas Rodrigo Petronio . RP - O segundo volume de O Começo da Busca vai ser uma continuidade do primeiro ou vai propor outras diretrizes poéticas e conceituais que convirjam para o Surrealismo? Fale um pouco do projeto como um todo. FM - A princípio não havia nenhuma idéia de segundo volume, por mais que o assunto não pudesse ser responsavelmente resolvido em 300 páginas. Confesso que já foi um obstáculo e tanto vir a editar este livro. A acolhida da Escrituras foi providencial e o objeto final me é bastante simpático. Ao vê-lo publicado é que comecei a pensar em lacunas que deveriam ser preenchidas, todas dentro da mesma perspectiva. Não há porque buscar uma ótica outra se estamos tratando de um tema de tamanha amplitude e ainda não de todo ambientado. Há uma pressa entre nós brasileiros de mudar de assunto ou diretriz que reflete apenas uma frivolidade. Somente agora é que começo a pensar no que chamas "do projeto como um todo". Em carta enviada, pouco antes de morrer, ao grupo surrealista de Chicago, escreveu Pierre Naville "que o mundo atual deverá conhecer uma explosão surrealista muito maior do que aquela que se deu em Paris, em 1924". Isto foi em 1992, e até então o Brasil não conhecia absolutamente nada do surrealismo em suas vertentes hispano-americanas. Mesmo hoje há ainda muito o que se revelar e bem sabes que sou uma voz praticamente isolada nesse processo. Na continuidade de meu trabalho vou chamar a atenção sobre outros poetas, frisar as relações entre vários deles em termos de ação e poética - e apresentar novas entrevistas. Agulha - Revista de Cultura Além disso estou escrevendo um volume apenas de ensaios, onde vão se revelando cronologicamente os dados essenciais para uma leitura dessa explosão a que se refere Naville, já em ambiente latino-americano. RP - Em O Começo da Busca você demonstra justamente que é possível traçar uma história da literatura latino-americana a partir do Surrealismo. Você defende um Surrealismo policêntrico, que emergiu por aqui em diversas etapas e sob diversas circunstâncias, ao contrário da idéia de um movimento epicêntrico, com sua origem datada nos manifestos de André Breton. Fale um pouco sobre isso. FM - Não havia idéia de epicentrismo nem mesmo naquele bando mesclado de ex-dadaístas que se reunia em torno de Breton. Acho que há algo em comum, o princípio libertário que norteia o Surrealismo, não resta dúvida. Mas a manifestação desse princípio na América Latina se deu investida de um otimismo, inclusive uma crença voluptuosa na linguagem e não apenas na ação. Não cabe falar em emancipação porque a relação entre os países latinoamericanos e a Europa possui vários matizes. Não há o que se possa chamar de "nossa história". Não temos uma história comum, no sentido em que jamais a percebemos sob tal ângulo. No caso brasileiro, nossa relação com a Europa estava mais acentuadamente ligada à França de Claudel, Verlaine, Valéry. Desnecessário dizer que me refiro a um mapa oficial dessa cultura. Tzara, Reverdy ou Breton eram nomes pouco mencionados por aqui. E uma imediata aproximação entre Surrealismo e marxismo, por exemplo, afastou de vez toda possibilidade de uma filiação do Brasil a essa corrente libertária que se anunciava. Nenhuma história corre independente, pois a história é uma mescla de fatores, e sequer pode ser tão levianamente lida como tardia ou antecipatória em relação a qualquer aspecto que se coloque. Quando se pretende um recorte isolado o que se está fazendo é falsear a história - a exemplo do que tivemos tanto na Semana de Arte Moderna quanto no Concretismo. RP - Como você situa algumas vozes fortes como César Vallejo e Vicente Huidobro nesse panorama? FM - Grande dilema o de atestar vínculos. O Surrealismo procurou romper com a idéia de clubismo, e mesmo assim muitos se aproximaram dele como se buscassem apenas uma carteira. Essa ambigüidade - se cabe o termo - gerou rejeições famosas, manifestas de várias maneiras. Vallejo e Huidobro são dois casos paradigmáticos. O chileno é apontado pelo romeno Stefan Baciu como um dos precursores do Surrealismo na América Latina. Já o espanhol Ángel Pariente situa o livro Trilce, de Vallejo, como sendo de recorte surrealista. Huidobro tinha um ego assombroso e jamais Agulha - Revista de Cultura admitiria influência de quem quer que seja, o mundo começava nele. Creio que foi o poeta que mais redigiu manifestos - há um largo volume que recolhe todos eles -, manifestos de um homem só. Já o peruano estava tão impregnado de comunismo que a própria ruptura de linguagem que alcança em Trilce seria posteriormente enfraquecida em outros livros. De qualquer maneira, creio que a desconstrução neste livro do Vallejo tende mais ao dadaísmo - embora não tão nítida como no caso de En la masmédula, de Girondo - do que ao Surrealismo. E Huidobro estava, como o sabemos, demasiado impregnado de Cubismo. RP - No Brasil, nosso conhecimento da literatura latino-americana se restringe à trinca Borges, Paz e Neruda. Quanto a Lezama Lima, há ainda o agravante de ter penetrado aqui por intermédio do Concretismo, que importou a imagem deformada e afetada que o Neobarroso de Nestor Perlonguer fez dele. Fale de outros poetas e poéticas americanos. FM - Talvez seja melhor começarmos falando dos prejuízos advindos da limitação e sobretudo do falseamento dentro desse âmbito restrito. É precário aceitar a presença de Borges, Paz e Neruda como grandes poetas, ainda mais sob o crivo de fundadores da modernidade na poesia hispano-americana. Borges era um fabulista, mestre imbatível na arte de tornar a si mesmo o grande personagem de sua obra e, por conseqüência, da tradição literária moderna. Gerardo Deniz está completamente correto ao dizer que se trata de um poeta de imagens e recursos previsíveis, enfadonhos. Paz possuía uma aguda percepção da realidade à sua volta - soube ser inicialmente o crítico dessa realidade mas acabou por converter-se em cúmplice dela. Poeticamente cristalizou-se muito cedo. Neruda jamais buscou outra coisa que não fosse tocar a imensidão do ego, e não reside em outro aspecto a máscara cosmogônica com que revestiu sua poética nos incontáveis experimentos estéticos a que a submeteu. Já o caso de Lezama possui uma graça particular: há algo de enciclopédico na visão de mundo do cubano que o aproxima de figuras como Peter Greenaway ou Haroldo de Campos. A verdade é que todos querem ser Deus. E cada vez me parece que a grande tradição poética é consubstanciada por quem se recusa a sê-lo. O venezuelano José Antonio Ramos Sucre, por exemplo, matou-se por não suportar mais a presença de visões que lhe assombravam a existência. Não vivia em um plano literário, mas sim na mesma dimensão excessiva de um Artaud. Após o suicídio, em 1940, não foi mais lembrado de maneira consistente. O Chile possui uma vertente múltipla que encontra em Pablo de Rokha, Rosamel del Valle e Humberto Díaz-Casanueva uma fonte de renovação que não desconsidera o autóctone e se manifesta no diálogo com a Europa. No colombiano León de Greiff encontramos o mais surpreendente caso de polifonia na tradição poética latino-americana. O guatemalteco Luiz Cardoza y Aragón soube buscar na algazarra da Agulha - Revista de Cultura modernidade uma voz que fosse a soma de todas; uma nova relação com o mito proposta pelo nicaragüense Pablo Antonio Cuadra etc. O que me pedes não é fácil, toma um livro. Sobretudo quando no Brasil desconhecemos toda essa tradição. Acho que a todo momento atestamos a infelicidade de nossa ausência de mundo. Toda a sociedade brasileira desmonta-se por esse desconhecimento de si mesmo, um mínimo estalo que nos leve à relação com o outro. Sem ele, não há nada. RP - Você é dos poucos poetas brasileiros que se preocupam com a dimensão política da arte, o que é, mais do que louvável, necessário, em um momento em que intelectuais, escritores e artistas oscilam entre uma burocracia mental aviltante e um espírito gregário cada vez mais acentuado, ou, na pior das hipóteses, em seu idiotismo, mal sabem o que vem a ser a dimensão política de uma poética. Como você vê a articulação entre essas duas esferas? FM - Se não me falha a memória certa vez o Augusto de Campos referiu-se ao afazer poético como uma afasia. Isto é curioso porque carece de autocrítica, ou seja, a quem exatamente ele estava se referindo? Por aqui começamos nosso curso de idiotismo. Este é um formoso termo de alheamento da realidade, de criação de uma linguagem isolada, que não se relaciona com nada. O idiotismo é a anti-poesia, mas tem sido a tônica da poesia que se pratica no Brasil de algumas décadas para cá. É curioso observar as maneiras distintas do ser idiota no poeta brasileiro. Há os que se tornam reféns da pós-modernidade, que fazem questão de serem reconhecidos como contemporâneos, por mais desarticulada ou retrógrada que seja essa pós-modernidade. Na outra ponta estão aqueles que detestam a atualidade, os passadistas de carteira e louvor, que pousam em bando como uma equipe de resgate da história. Evidente que em um cenário desses, reforçado por uma tradição positivista, brigadas da TFP, política cartorial, amiguismos, uma relação responsável de complementaridade entre poética e política está fadada ao ideário das charges. Não te parece que o mais importante na vida dos brasileiros é que algo te faça rir? Rir da própria miséria pode ser uma tática de resistência, mas ser levado a isto é aceitar-se como instrumento de uma perversão, com o qual somos todos coniventes. A chamada arte tornou-se mecanismo de idiotização de uma sociedade carente de si mesma. O pão convertido em circo e vice-versa. Somos todos absolutamente responsáveis por esse crime em larga escala. A maneira como tocadores de violão são aceitos como músicos, Agulha - Revista de Cultura modelos fotográficas como atrizes, músicos como romancistas, jornalistas e redatores publicitários como poetas ou roteiristas de cinema, enfim, a forma espúria como a mediocridade ascende ao poder cultural em nosso país já tornou-se um caso de polícia. RP - Você diz que o Surrealismo teve pouca penetração no Brasil exatamente por causa de nossa tradição positivista, o que eu considero uma análise agudíssima e correta. O que é curioso é essa estética ter se imiscuído entre nós pelas mãos de dois poetas católicos e com interesses místicos: Murilo Mendes e Jorge de Lima. Ao mesmo tempo, você tece algumas críticas a esses poetas e sugere outros nomes. Isso está relacionado às eternas idiossincrasias brasileiras? Como você analisa esse fato? FM - O Surrealismo estava na pauta de rejeições de todas as culturas que buscavam uma identidade em meio àquela eclosão destemperada de ismos das primeiras décadas do século XX. Basta pensar que Lezama Lima ou Gaitán Durán possuíam articulações essenciais com o Surrealismo, mas que não as admitiam em circunstância alguma, imbuídos que se sentiam da necessidade de fundar algo em Cuba e Colômbia, respectivamente. É possível que o mesmo tenha se dado com o Mário de Andrade, conhecedor que era dos vislumbres anunciados ao mesmo tempo em que não lhes correspondiam - nem ele nem Oswald - em termos estéticos. Então nos pegamos com réstias ou pequenos sinais de vida. Basta ler manifestos assinados por ambos. Já em relação a Jorge de Lima e Murilo Mendes, façamos o seguinte: troquemos catolicismo por cristianismo e misticismo por ocultismo, por exemplo, e já teremos aí um novo ambiente conceitual onde o assunto começa a ganhar clareza. Vincule-se cristianismo a comunismo e ressalte-se o interesse do Surrealismo pelas ciências ocultas e ganhamos ainda mais em nitidez nessa relação por ti sugerida. O que chamas de "idiossincrasias brasileiras", é sempre o mesmo fruto podre de nosso desconhecimento de causa. Eu não tenho nenhuma rejeição aos dois poetas. Acho impressionante que se mencione tão amiúde o Drummond como nosso grande poeta, este sim tão católico, tão conservador, tão transigente, tão acomodado às circunstâncias, sob quaisquer aspectos que se mencione. O que digo em meu livro é que nossa crítica literária necessita sair do lugar comum de tratar o Murilo como único surrealista no Brasil. Isto não passa de um refúgio para evitar referir-se à questão como ela merece. Murilo foi um grande transgressor, e mesmo naquele ambiente interiorano de uma Jandira, por exemplo, já se ressaltava uma visão mais profunda de mundo, com um recorte filosófico que não tínhamos em nós nem mesmo de maneira caricatural. É leviano - quando não criminoso de vez - reduzir a poética de ambos ao que se chama de "poesia em Cristo". Como esperar que se manifestasse a explosão do ser em poetas marcados por uma exasperada chaga católica que tanto define a história brasileira? Diante da irrelevante obra poética de nomes como Mario e Oswald de Andrade, por exemplo, Agulha - Revista de Cultura tento buscar outra explicação, que não de ordem estética, para que poetas como Jorge de Lima e Murilo Mendes não tenham sido até hoje lidos com a isenção que a obra de ambos cobra de nossa crítica. RP - Falando em idiossincrasia, há uma curiosa. Enquanto na América do Norte o fenômeno Walt Whitman já tinha acontecido há décadas e na Europa tínhamos uma plêiade composta por Rilke, Valéry, Eliot, Pound, Apollinaire, Joyce, Lorca, Breton e Proust (desconto Kafka e Pessoa por causa do seu anonimato incipiente), Mário de Andrade resolve se agarrar a uma estrela cadente, e importa a tagarelice de um italiano cuja fortuna mental e o talento irrisórios deixaram para a posteridade um manifesto e algumas frases tão ridículas quanto ele próprio: Tommaso Marinetti. Sabemos que o futurismo estava no front de toda a proposta modernista, e que esse mesmo Modernismo, por razões muitas vezes meramente ideológicas, é a cartilha sobre a qual reza a maior parte da arte que se fez e faz até hoje. À parte o valor inquestionável da obra de Mario e Oswald de Andrade, há um legado bastante negativo da Semana de 22, não? Como você avalia isso? FM - O legado da Semana de 22 equivale à leitura de curso das águas em uma lagoa. É nossa principal metáfora da permanência, com a ambígua leitura de que é nossa entrada na modernidade. Mário estava menos interessado nela do que em um projeto pessoal de afirmação de leitura dessa modernidade. Os nomes ligados à Semana eram os do rebanho possível. Como Alberto Nepomuceno morrera dois anos antes, embora deixando volumosa pesquisa sobre cantos populares em todo o Brasil, e mesmo tendo posto o pescoço a prêmio ao colocar a Sinfônica brasileira a tocar com Catulo da Paixão Cearense, por exemplo, inúmeros fatos foram apagados e hoje cabe ao modernismo e em especial a Villa-Lobos essa aproximação entre o popular e o erudito em nossa música. Também nas artes plásticas teríamos muito a conversar sobre o injustamente reduzido prestígio de um artista como Vicente do Rego Monteiro. Não se trata de "legado negativo", mas sim de falseamento da história e com a larga conivência de toda uma casta intelectual envolvida. O mais curioso é quando escuto dizer do nacionalismo exacerbado do Nepomuceno, por exemplo. Ora, ninguém fala em tal coisa quando se trata dessa íntima relação que o Mário assumiu com o Futurismo, nitidamente de ordem nacionalista. Nacionalismo, ressalte-se, no sentido de preparação para regime de exceção. Agulha - Revista de Cultura PR - Fale um pouco mais desse falseamento da história e desse regime de exceção. É ele que endeusa o Fernand Léger de saia (Tarsila do Amaral) e praticamente risca do mapa um artista excepcional como Ismael Nery? Que devolve o Concretismo ao centro do seu próprio umbigo cósmico e torna opaca uma série de coisas em volta? Que eclipsa Augusto dos Anjos e confere qualidade à versalhada de Mario de Andrade? Tenho a impressão que se Augusto dos Anjos tivesse escrito em alemão haveria uma miríade de pedantes usando-o como epígrafe em seus estudos sobre o expressionismo. FM - Acho que podemos rir um pouco. Em uma das edições de dezembro de 2002, a revista Época publica um artigo de Antonio Gonçalves Filho onde menciona a decorrência ingênua da pintura de Anita Malfatti, o realismo socialista para onde escorreu a obra de Tarsila do Amaral, a decadência suburbana de Di Cavalcanti e o exílio no academicismo em Brecheret. A princípio este é um atestado de que a Semana de Arte Moderna não manteve a chama acesa nem mesmo enquanto o bolo do primeiro aniversário era cortado. Ora, mas de que nos servia o cubismo de Fernando Léger e a concisão de Brancusi, se não sabíamos o que propor, a partir deles, em termos de um Brasil aclamado como bandeira da (nossa) modernidade? Trocar xenofobia por xenofilia? Ismael Nery sabia o caminho. Mas ia de encontro à pretensa ousadia nacionalista de nossos modernistas. O mesmo vale para Cícero Dias. Uma coisa que tenho observado nessas leituras comemorativas de nossa entrada na modernidade é que uma crítica de arte se manifesta de maneira mais efetiva do que o correspondente, por exemplo, na música ou na literatura. Nem falar em Niemeyer, que tornou-se um mito intocável de nossa arquitetura, uma curiosidade na perspectiva de uma arquitetura funcional esse encantamento por um declarado comunista que planejou espaços onde é bastante dificultado o encontro entre duas almas. Bom, no caso da música o lobby de Mário de Andrade em favor de Villa-Lobos foi decisivo. Agora, por que aceitamos tão passivamente a importância de Mário e Oswald como poetas se não atendem, em circunstância alguma, a uma perspectiva estética em que deveriam quando menos apontar certos traços renovadores? O falseamento da história é exercido por um corte abrupto em relação ao passado. Nossa modernidade parte do nada. O mesmo se repetiria no plano-piloto do Concretismo, décadas depois. O regime de exceção é decorrente desse comportamento. Basta cotejar cronologia artística e política como se fossem entidades inconciliáveis! - e veremos que a Semana de Arte Moderna é precursora do Estado Novo e que o Concretismo e o Golpe de 64 são consangüíneos. RP - A propósito, temos no Brasil duas correntes que se desenvolvem paralelamente e que parecem formar a esquizofrenia Agulha - Revista de Cultura fundamental de nossa intelligentsia. De um lado, uma forte tradição dialética advinda do Idealismo Alemão, mais especificamente de Hegel, busca o Bildung, o caráter formativo da nossa nacionalidade por intermédio da análise da literatura. De outro, há uma via que finca raízes na lingüística, na semiologia in nuce, na ciência positiva do século XIX e mais tarde no Estruturalismo, que se preocupa com os aspectos imanentes da arte, e que nos deu os jogos florais e formais de toda essa poesia de véu e grinalda feita nas últimas décadas. Em decorrência disso, ora fazemos da literatura um mero instrumento que expressa uma hipotética essência (a nacionalidade), ora a tomamos nela mesma e reduzimos seu sentido a um enunciado discursivo (a linguagem), em contraste com o "mundo", que confesso francamente não ter a mínima idéia do que venha a ser. Isso demonstra que as duas grandes diretrizes do pensamento e da produção poética estão concentradas na dualidade Forma versus Conteúdo. No seu livro Fogo nas Cartas, você diz que a poesia, mesmo sendo intransitiva, é filha da alteridade. Essa definição, além de ser muito bonita, parece negar de saída essas ambigüidades falazes. Como você se posiciona diante dessas questões? FM - Tua leitura é cristalina e incontestável. Quem primeiro me chamou a atenção para isso foi o Roberto Piva. Não podemos nos tornar reféns ou cúmplices dos crimes de lesa pátria ou língua. A rigor, a poesia é a contestação desses conceitos. Há um aspecto aparentemente negativista na poesia, o de recusa essencial. Mesmo a afirmação é uma negação, e isto porque ela parte do princípio de que algo deve ser contestado. Condição ambígua? Não se trata propriamente de um sofisma. Não posso me pôr dentro da linguagem se não estou dentro de mim mesmo, com as implicações naturais do cidadão que sou. Mesmo que vivesse isolado do mundo, essa seria uma forma de relacionar-me com o mesmo. Então não tenho como fugir de mim e de minha circunstância - por mais que o deseje. É por isso que me refiro a muitos de nossos poetas como autistas. A pretensa autonomia - ou voz própria, seja lá que nome se queira dar - é fruto não de isolamento mas de mergulho em todas as águas. A rigor não escolhemos o inferno onde queremos ser Dante. Mas jamais chegaremos a gare alguma pela via inexpressiva de nossos poetas incultos. RP - Você defende a união indissolúvel entre a vida e a arte. Isso não pode gerar algumas dificuldades de avaliação da obra artística e seu valor objetivo, na medida em que a liga de maneira muito Agulha - Revista de Cultura direta a seu criador e à sua biografia? FM - Não creio nisto. A biografia de um poeta está intrinsecamente ligada a uma perspectiva de errância, do matutar em peregrinação, de maneira que não vejo como dar à vida ou à obra uma dimensão inquestionável. Os valores objetivos são um encargo da sociedade de consumo. A criação artística possui um valor intrínseco, soma do objetivo e do subjetivo. É o retrato falado de quem a cria. Prova maior do que falo obtemos quando do encontro com o autor de qualquer um desses versos anódinos que se publicam a rodo. Qual a biografia possível dos poetas brasileiros, por exemplo, da minha geração? RP - Boa parte da nossa miséria econômica deita raízes na e coroa a nossa dependência cultural. Mesmo assim, parece que há cada vez menos debate artístico em âmbito civil, ou seja, motivado por projetos impessoais e coletivos sobre a arte. Qual o seu diagnóstico da poesia brasileira atual, com o perdão da amplitude do tema e da questão? FM - Não há perdão para a amplitude. Não padecemos propriamente de uma dependência cultural nos moldes de uma invasão, se cabe o termo. Há cultura suficiente no país para tornálo uma grande nação. Eu sempre penso no caso da música e me indago como é possível que o choro tenha se convertido em algo de quase nenhuma percepção em nossa tradição musical. Ora, o choro praticamente funda um legado essencialmente brasileiro. A bossa nova vem depois. Mas claro, é música de branco universitário. Eu acho um absurdo que não se consiga conversar com poetas brasileiros sobre música ou teatro ou cinema, por exemplo. Que espécie de mundo à parte estão construindo? E mesmo sobre a matéria queimante da poesia, raros cruzam os cercados dos lugares comuns, e alguns ostentam ainda com peculiar parvoíce sintomas de obsessão enciclopédica. Ora, vivemos em um país onde a miséria intelectual determina a miséria social. Bem podemos compreender todo o despejar de preconceitos ou rejeições em torno de qualquer maneira distinta de tratar do assunto. Para que fosse possível um diagnóstico teríamos que evocar toda uma tradição fraudada, o que significaria revolver túmulos, reconsiderar decretos de genialidade, rever diários de bordo etc., pois de outra maneira não alcançaríamos uma justa relação entre passado e presente. Teríamos, enfim, que enfrentar um largo processo de desmi(s)tificação. Acontece que os novos talentos são dados à luz dessa deformação cultural, gerando um círculo vicioso que a ninguém interessa romper. Não quero dizer com isto que padecemos de um mal incurável. Cabe, no entanto, lembrar que somente através da revolta, da negação, da insubmissão, em relação a quaisquer cânones é que encontramos uma razão de ser da poesia. Agulha - Revista de Cultura RP - Pela primeira vez, desde a instituição da República, vamos ter um governo de esquerda gerido pelo maior partido de esquerda do mundo. No que isso pode mudar o curso do Brasil e dos países dependentes? Você arriscaria alguma opinião sobre a América Latina? FM - Tenho a impressão de uma dádiva queimante. Um grande dilema da América Latina tem sido a recusa a entender que a solução encontra-se em casa. Este é nosso maior desafio. Não vejo isoladamente o assunto como de ordem política. Caberá ao novo presidente o que sempre coube a seus antecessores: buscar vínculos substanciosos, que não sejam regidos apenas por uma falácia de crise. Não arrisco opinião alguma. Afirmo um caminho que já trilho com meu trabalho. Mínimo sinal, mas que considera uma relação continental até então inexistente. O mundo deixou-se tragar pela falácia econômica, sempre cartorial, onde a ameaça terrorista possui até um dado positivo, que é o de nos despertar dessa hipnose estatística. Mas não cabe apelar a uma antevisão agora. Há muito o que ser inicialmente conversado. Lula naturalmente tem suas prioridades. É aguardá-lo, antes de qualquer outra coisa. Rodrigo Petronio é poeta e ensaísta, autor de História Natural e Transversal do Tempo. Entrevista realizada em dezembro de 2002. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Lars von Trier: a estética pós-Dogma Antonio Júnior . Não é fácil entrevistar o dinamarquês Lars von Trier (Copenhague, 1956), considerado por muitos como o mais importante diretor europeu atual. Ele não gosta de entrevistas enquanto filma e, quando as concede, brinca com as palavras. É um criador que não perde a originalidade, adotou o vídeo digital e está entre os poucos cineastas vivos que podem ser definidos como autor. Pouco atraente, alto, afobado, inteligente e excêntrico, tem um rosto tipicamente nórdico, grande, com um nariz proeminente e olhos azuis vivíssimos que brilham ironicamente quando sorri. É também cortês e divertido. Uma barba rala dá o toque rebelde. Desde seu debut no cinema, em 1976, com o curta Orchidégartneren, rodou mais quatro curtas, duas minisséries e um filme para a tevê, e seis longas. Chamou a atenção com Europa (1991), uma obra difícil e bela, protagonizada por Barbara Sukowa e Jean-Marc Barr, que ganhou o Grande Prêmio do Júri em Cannes. O sucesso definitivo chegou com o sensível Ondas do Destino (Breaking the Waves, 1996), com Emily Watson rompendo corações como uma ingênua garota enamorada. Ganhou o Félix da Academia Européia de melhor direção e atriz. Seu filme seguinte, Os Idiotas (Idioterne, 1998) é de um cinismo exagerado, nada mais. Lançou o movimento Dogma 95, inventando uma série de mandamentos para resgatar "a verdade, espontaneidade e invenção do meio cinematográfico": ausência de luz artificial e de cenários, inexistência de trilha sonora, negação dos filmes do gênero etc. Foi mais um truque publicitário que um movimento Agulha - Revista de Cultura inovador como a Nouvelle Vague francesa ou o Cinema Novo brasileiro, e dos diretores que aderiram ao Dogma, apenas Thomas Vinterberg destacou-se com Festa de Família (Festen, 1998). Em 2000, o próprio von Trier quebraria as regras do Dogma 95, com Dançando no Escuro (Dancer in the Dark), uma criação comovente, luxuosa, cheia de recursos (trabalhou com 100 câmaras fixas nas cenas de canto e dança), onde a música é fundamental. A cantora pop islandesa Bjork faz uma imigrante checa, mãe solteira, que trabalha numa fábrica em uma cidadezinha nos Estados Unidos. Quase cega, procura economizar para a operação do filho que sofre do mesmo mal. Suas únicas alegrias são os musicais clássicos de Hollywood. Roubada, mata o ladrão e é condenada a cadeira elétrica. O elenco conta também com a presença ilustre de Catherine Deneuve. As filmagens foram conturbadas, diretor e atriz central se desentenderam furiosamente, e a roupa suja lavou-se na mídia. Mesmo assim, resultou em um filme bacana, com uma conexão entre melodrama e comédia musical de uma sutileza sábia. A traição aos mandamentos do Dogma foi válida, e von Trier levou a Palma de Ouro em Cannes. Agora filma Dogville, na Suécia, em inglês e com uma história passada em um povoado norte-americano dos anos 30 do século passado. A gélida Nicole Kidman é a estrela, acompanhada do ator sueco Stellan Skarsgard. A mítica Lauren Bacall, lançada por Howard Hawks há mais de meio século, tem participação importante. O diretor recusase a dar qualquer detalhe sobre o enredo, que começou a ser filmado no início deste ano. Quando chego para a entrevista vejo vários jornalistas esperando e me uno a eles. Em seguida, chamam-me e sou conduzido a uma sala simples, onde um homem de 45 anos, sentado numa poltrona, aponta onde eu devo sentar-me, um pouco distante. Estás bebendo algo que não consigo identificar, e ao verme jovem e com pouca pinta de crítico malévolo relaxa visivelmente. Eu também simpatizo com ele. Chega o tradutor, nos apresenta e começa a entrevista. AJ - Eu não vejo clara a definição de gênio empregada em muitos criadores. Seria capaz de contar nos dedos os cineastas verdadeiramente aptos a receber tal honraria. Dreyer, por exemplo, que influi muito no seu cinema. O que pensa quando alguns críticos dizem que é um gênio? LvT - Penso que sou um diretor que acrescenta alguma coisa para o cinema. Sou autêntico. Eu procuro fazer um cinema com Agulha - Revista de Cultura novidades, não como reprodução do que já está aí. Sou discípulo de Carl T. Dreyer, ele era um diretor fantástico, mas não o copio. O importante é buscar algo diferente, fugir do cinema certinho que muitos diretores fazem. Eu faço um cinema com personalidade. AJ - O movimento Dogma 95 seria essa marca de "personalidade"? LvT - O Dogma é cheio de bons propósitos. Nasceu para provar que qualquer pessoa pode pegar uma câmara e fazer um filme. Não é preciso tanto dinheiro como se pensa. A idéia do cinema como superprodução é para ser superada, é uma bobagem, é antiquada. É preciso acabar com essa idéia. É uma mentira dizer que é necessário um mundo de dinheiro para fazer um filme. AJ - Dançando no Escuro é um filme caro. Recorde de orçamento para a Escandinávia... glamour típico. LvT - Claro que é um filme onde se gastou dinheiro. Mas com Os Idiotas o orçamento foi bastante reduzido, irrisório. Não estou dizendo que nunca fiz ou nunca farei filmes caros, o que digo é que com pouco dinheiro pode-se fazer bons filmes. Dançando no Escuro necessitava de recursos para tornar-se um musical atípico, diferentes daqueles clássicos de Hollywood com luzes douradas ou azuladas e câmara lenta. Era preciso deixar evidente os níveis diferentes dentro do filme, sem o AJ - A idéia original era fazer Bjork cantar ao vivo? LvT - Sim. Queria cada número musical completamente natural, como uma performance ao vivo. Infelizmente não podíamos resolver isto tecnicamente. AJ - Catherine Deneuve foi convidada para o papel da generosa Kathy, a amiga de Selma, devido aos musicais que fez com Jacques Demy nos anos 60? LvT - Não. Ela mesma convidou-se. Escreveu-me uma carta perguntando se podia tomar parte no filme e eu respondi, "Claro que sim!". Gostei da idéia de vê-la ao lado de Bjork. Agora é evidente que eu conhecia os musicais em que Catherine havia participado. Agulha - Revista de Cultura AJ - Tudo o que disseram publicamente sobre o seu relacionamento tempestuoso com Bjork durante as filmagens foi sincero? LvT - Evidentemente que não, mas muita coisa sim. Bjork se identificou de tal maneira com a personagem Selma que teve problemas ao assumi-la com tanta intensidade. Ela sofria. Ela não interpretava, ela era a própria Selma. Eu não concordei. Os nossos egos se chocaram. Ela é tão perfeccionista, e talvez esse seja o seu problema. Mas sou fã de Bjork, gosto de sua música e ela foi fundamental para o bom resultado do filme. AJ - Por que um musical? LvT - Parecia fácil fazer um musical. Era uma idéia que sempre tive. Desde menino, na beira da televisão, ficava encantado com os filmes de Gene Kelly ou o fantástico West Side Story – Amor, Sublime Amor, de Robert Wise. Se fosse no início de minha carreira, teria feito uma coisa tradicional, com gruas e travellings, mas agora procuro desafiar as regras e fazer tudo de maneira completamente diferente. AJ - Como está a produção de Dogville, seu novo filme? LvT - Estamos filmando em Trolhaettan, ao sudoeste da Suécia. Será falado em inglês e a história se passa numa pequena vila dos Estados Unidos, nos anos 30. Usarei um mínimo de cenários. Os protagonistas são Nicole Kidman, Stellan Skarsgard, que já trabalhou comigo em Ondas do Destino, Chloé Sevigny e Lauren Bacall. AJ - Divulgou-se que o filme teve dificuldades de financiamento e por pouco Nicole Kidman não foi contratada... LvT - Tudo foi resolvido. Mas não gostaria de continuar falando sobre Dogville. AJ - Poderia dizer porque não está sendo filmado nos EUA, já que será falado em inglês e a história se passa nesse país? LvT - Não gosto de viajar de avião, e na Suécia pode-se facilmente encontrar lugares parecidos com a América do Norte. Dançando no Escuro foi filmado lá. Também não tenho interesse em visitar os Estados Unidos de hoje, me parece uma espécie de país mitológico. Agulha - Revista de Cultura Antonio Júnior (1970). Escritor. Autor de livros como O aprendiz do amor (1993), Caprichos (1998) e Artepalavra - Conversas no velho mundo (2003). Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Los poemas-objeto de Franklin Fernández: dos visiones críticas Carlos Yusti y Ramón Hernández . 1 CUERPO Y TEXTURA DE LA POESÍA Carlos Yusti El poema-objeto trata de encontrar una imagen que se puede leer desde la creatividad sensible. El lector visual del poema-objeto es un creador activo, su lectura (o su manera de mirar) no sólo se limita a encontrar la belleza simbólica y metafórica del objeto intervenido, sino que a su vez participa con su sensibilidad al darle una lectura inusitada a dicho objeto; el cual, por otra parte, pierde sus contornos reales y cotidianos para devenir en una propuesta estética renovada, en un mensaje que desarticula el discurso. Expresar una poética con instrumentos distintos de las palabras, propone una lectura del mundo cotidiano que nos rodea. El espectador crea a su vez el objeto desde su lectura personal, le da nuevos significados y la poesia adquiere de igual modo una plataforma expresiva inusual. Algunos poemas-objeto de André Bretón, combinaban palabras y objetos en una simbiosis más o menos armónica. Sin tanta parafernalia retórica Octavio Paz, lo definió como una criatura anfibia que vive entre dos elementos a saber: el signo y la imagen. Agulha - Revista de Cultura Con el poeta catalán Joan Brossa, el poema objeto se fue decantando. Adquirió visos de simplificada estructura. Franklin Fernández retoma desde la pasión el poema-objeto, busca nuevos derroteros y lo concibe desde una óptica constructivista a saltos entre la escultura y los objetos esculturas propuestos por Marcel Duchamp. Este poeta, pintor y escritor lo define así: "El poemaobjeto (aquello que se podría escribir, pero por suerte no todo hay que decirlo con palabras), nos dice algo. Posee sentido y significación. Es un lenguaje: emite poesia. Son esculturas moldeadas, apenas modificadas. Mitad escritura, mitad pintura. Mitad escultura, mitad imagen: una especie de centauro mitológico y, a la vez, moderno. El poema-objeto o poema-corpóreo, incorpora una serie de elementos ajenos a los cánones de la poesia tradicional y propios de otras formas de expresión. No se limita solo a lo verbal y, en este sentido, representa una ruptura, un desafío que provoca alteraciones cruciales en los códigos de emisión y recepción del poema. Se caracteriza por su necesaria independencia de la palabra tanto como su lucha por trascenderla." Los poemas-objetos de Franklin Fernández arañan lo estético sin prurito alguno y en cada uno de ellos visualizamos/leemos el ritual del artesano. Sus poemas-objetos son exploraciones simbióticas de gran exquisitez, son tratamientos anárquicos del ensamblaje. Para explicarlo de alguna manera, participan del síndrome Frankestein; es decir que utiliza objetos comunes que se van acomodando a otros objetos, especie de injertos, y van creando una estructura discordante como si se tratara de un rompecabezas. El resultado es un objeto extravagante, nuevo y cuya característica primordial es su sentido antiutilitario. Lo peculiar de estos objetos es lo que enuncian, lo que trasmiten al espectador. Su combinación abrupta encierra una metáfora, comprende un sin número de significados que pueden leerse de muchas maneras posibles. ¿Y este no es también el secreto del poema?, que tiene tanto significados posibles como lectores tiene. En estos poemas es significativo lo lúdico, el puzzle como esencia plástica. Un juego que trata de reordenar el objeto, que intenta reorientar la imagen que se tiene de dicho objeto, para presentarlo desde una perspectiva inusitada e incluso sublevada. Johan Huizinga escribió: "Lo que el lenguaje poético hace con las imágenes es juego. Las ordena en series estilizadas, encierra un secreto en ellas, de suerte que cada imagen ofrece, jugando, una respuesta a un enigma". Franklin explora los objetos y los combina tratando de examinar todas las posibilidades plásticas o como el mismo lo ha escrito: "La yuxtaposición de elementos contrapuestos ensancha nuestro concepto de poesía. Nos brinda, en última instancia, esa otra visión poética de las cosas". Así mismo poseen estos poemas-objetos de Franklin un humor sutil, una ironía barajada con sentenciosa sensibilidad. Agulha - Revista de Cultura La combinación de objetos disímiles es lo que más llama mi intención en esta poesía objetual. Este ensamblaje quimérico, y en muchos casos desbordado de creatividad delirante, me parece un trabajo límite, borde, y, que induce a su creador en sus roles de pintor / escritor a combinarse también, a yuxtaponerse y así ensayar desde la palabra y desde el objeto una estética que coloca al espectador / lector del lado del asombro. Franklin en su poesía escrita (con sus palabras, puntos, comas y ritmos) de igual forma busca violentar el lenguaje, darle un viraje vehemente a las palabras y en las que muchas veces, agrandadas al máximo, pierden su sentido literario para devenir en un objeto estampado en el papel. El mundo actual pertenece a la imagen. Estamos rodeados por infinidad de imágenes las cuales nos bombardean de trivialidades y donde lo sexual parece subrayar cualquier postulado publicitario o cultural. Estos poemas se replantean la imagen desde una noción ética y estética menos trillada. Una imagen que no descarta la visión atroz del mundo, pero que destaca lo metafórico como el elemento comunicacional sin concesiones. Lo poético en función de ofrecer un puente sólido con la belleza de la imagen y de los objetos más allá de las palabras, más acá del silencio que palpita en los objetos. Los poemas-objetos son caricaturas tanto de la poesía como del objeto, no obstante esta caricatura posee un ritmo, una modulación especial, una música callada. Poseen una metáfora que no necesita palabras. Los objetos hablan en silencio y escuchan eso que no escribimos ni hablamos. 2 FRANKLIN FERNÁNDEZ: PALPAR LA POESÍA HASTA EL CANSANCIO (entrevista) Agulha - Revista de Cultura Ramón Hernández RH - "Mi voz se agrega a todo y se apega a todo, como la voz de las cosas que no tienen voz, y las cosas me hablan". FF - Me gusta mucho contemplar las cosas. Respirarlas, palparlas y hablar con ellas; porque las cosas hablan, te contestan, te dicen algo... yo he leído unos cuántos libros de poesía. Muchos de ellos no me dicen nada. A veces pienso que los diccionarios, son verdaderos libros de poemas. Mira, la poesía venezolana es muy buena, pero le falta algo. Está falta de libertad. Siempre he creído que la imagen es el alma de la poesía, la esencia del poema. No la palabra. Una hoja en blanco lo confirma. Un silencio unánime. Siento una gran admiración por la obra de Juan Calzadilla y Ramón Ordaz, quienes se han atrevido a transgredir los límites impuestos. RH - ¿A qué límites te refieres? FF - A los de la literatura plana. La poesía va más allá de las palabras. Más allá de los libros. La escritura es fundamental para expresarla, pero no es el único medio. La escritura es un vehículo. La plástica otro. Soy poeta. Entonces, si no me sale por ese lado, lo busco por el otro. Me refiero a que muchas veces un poema, si no lo puedes escribir; tienes que darle la vuelta. Girar la llave. Dibujarlo, por ejemplo; como lo hace Juan Calzadilla. O pintarlo, como lo hacia Magritte con sus pinturas. No me lo impongo. Es un cambio de código simplemente. La poesía es un acto de creación. Transformación y transmutación de signos. Ya Brossa lo decía: "La poesía es un transformismo, el arte una metamorfosis". El poema no exige nada, es simplemente lo que es. Escribir y describir son dos cosas distintas. La metáfora es indispensable. Esa necesidad por expresar un poema, sea cual sea el medio utilizado, está siempre latente... RH - Pero en muchos de tus poemas, como en este caso, no has abandonado la palabra. Agulha - Revista de Cultura FF - No la he abandonado, la he perdido. Lo que pasa es que a los poetas nos basta la erudición, pero yo pienso que nos falta también crear. En mi caso, creo que el problema no está en acoger o abandonar la palabra, sino en transgredirla. Es decir; yo siempre voy un poco más allá. RH - Además de Juan Calzadilla y Ramón Ordaz ¿qué otros poetas venezolanos han influenciado tu obra?. FF - Te soy sincero. A mí me han influenciado más poetas extranjeros que venezolanos. Claro, comencé a leer poesía venezolana hace 4 o 5 años aproximadamente. Fue lo primero. Participé, por suerte, en el taller de poesía del C.E.L.A.R.G. Allí comencé a ampliar mi panorama. Pero te repito, había una falta de algo, un no sé qué. Luego, en ese mismo taller, vino la poesía extranjera. Incluso encuentros personales con poetas venezolanos y extranjeros de la talla de Eugenio Montejo, Luis Enrique Pérez Oramas, Pedro Lastra, Oscar Hahn, Darío Jaramillo Agudelo y otros tantos. Debo agregar, que también han sido fundamentales mis experiencias con artistas plásticos. En la universidad fui asistente de Victor Hugo Irazabal, en un taller extraordinario que llevaba por título "La palabra como textura". Victor me ayudó a ampliar mis conocimientos. Por otra parte, descubrir por mi cuenta la poesía experimental latinoamericana, fue primordial para mi trabajo. Aunque no es lo nuestro, también este tipo de poesía es necesaria. Es una ruptura. La poesía tiene que ser siempre una ruptura, porque sino todo poeta se repite. La lectura de los poemas de Rafael Cadenas me estremecieron. La excelente "Antología" editada por Monte Avila, "Realidad y literatura" y "Anotaciones". Para mí, Cadenas es principalmente un pensador. Por otro lado, está la obra de Julio Miranda. De éste último me conmovió mucho un librito de él llamado "Anotaciones de otoño". En este poemario expresa un amor y una humildad casi palpables, incluso hasta visual. De hecho, comienza con minúsculas la primera palabra de cada poema. Además de "El poeta invisible", un libro experimental excepcional y fundamental para nosotros. RH - ¿Y más allá de nuestras fronteras?. FF - Los padres del poema-objeto. Aquellos que se han atrevido a materializar el verbo, la palabra. André Bretón, Jiri Kolar y Joan Brossa. Brossa, fundamentalmente. Recientemente Gloria Bordons (amiga y ensayista de Brossa) con quién me escribo casi a diario, Agulha - Revista de Cultura me respondió en uno de sus e-mails una inquietud mía con respecto a mis poemas-objetos y a mis similitudes con los objetos de Brossa. Ella me contestó lo siguiente: "Trabaja, trabaja, siempre hay un resquicio para la originalidad en este mundo de los objetos. Y las similitudes, cuando se trabaja con el mismo espíritu, son lógicas". En Latinoamérica, el chileno Nicanor Parra ha sido uno de los poetas primordiales, uno de los grandes creadores del género. Tres veces postulado al Nobel. Sus "Artefactos Visuales" no son más que un conjunto de poemas corpóreos, poesía en tercera dimensión. Objetos y palabras parlantes, engendros verbales que se funden bajo el sentido unánime de la poesía. Por otro lado, están los argentinos Antonio Porchia y Roberto Juarroz; por su percepción poliédrica y caleidoscópica de la realidad. Buscarle el revés a las cosas. El otro lado. No en vano, otro de mis textos breve dice: El revés, no es el inverso, es lo real. RH - ¿Crees que ha existido o existe una poesía de vanguardia en Venezuela? FF - No lo sé. Si de poesía experimental se trata, creo que ha existido un pequeño grupo de poetas. Sé que tuvimos a Dámaso Ogáz y Andrés Athilano, aunque no he profundizado mucho en sus obras por falta de documentación. Más recientemente Juan Calzadilla y Ramón Ordaz. Ahora, desde un punto de vista literario, Victor Valera Mora. Actualmente me gusta mucho la obra de Alfredo Herrera Salas. Es una excepción para mí. Una ruptura con lo cotidiano. Algo diferente. Su voz, su poderosa voz, cada vez que la escucho me conmueve. RH - Háblanos un poco de tus poemas-objetos ¿Cómo nace la necesidad de buscarle una dimensión al poema?. FF - Ya te lo dije. Creo que a la poesía venezolana le hace falta algo. Hay un hueco hondo que hay que llenar. Me encantan los Agulha - Revista de Cultura encuentros fortuitos. Acercar realidades distantes. Yo no busqué la poesía, ella ya estaba en mí. Ya he dicho que el poema-objeto es una especie de centauro: la unión del arte visual y el arte verbal. El resto lo hace la imagen. Dos objetos opuestos no se repelen, sino que se abrazan. ¡El trueque perfecto!. Dos elementos reales crean el imaginado. Creo que ese es el encuentro más hermoso que ha existido entre el arte y la poesía. RH - El humor y el amor están muy presentes en muchas de tus obras. Como por ejemplo, en una obra titulada Chupón (1998). Un chupón al que se le ha sustituido la mamila por un anzuelo. Objeto que al contemplarlo, casi duele en la boca... FF - Es una realidad ¿no?. El dolor, el humor y el amor son las grandes tentativas de nuestras vidas. Tanto hay amor, hay más dolor. Tanto hay humor, hay más llanto. ¿Quién comprende?. RH - ¿Cuál es tu definición de la poesía? FF - Aquello que limita con la eternidad. RH - ¿Y de poema? FF - Con respecto a esta pregunta, Alfredo Herrera Salas tiene en uno de sus poemas, una línea muy bella que dice: "Mi poema es una piedra que metí en tu casa". Entonces el poema es una piedra, como también puede ser un lápiz o un rollo de papel toalet. Un rollo de papel toalet nos puede decir más que un libro de poemas. (Risas). RH - ¿Qué recomendarías a los poetas emergentes, a las voces nuevas de nuestro país?. FF - Nada. Yo también soy un poeta emergente. ¿No lo has notado? Aprendo, aprendo, no creas. Pero si de algo sirve: que no se ahoguen de tanta literatura. Más importante que leerlo es vivirlo, convivirlo. Palpar la poesía hasta el cansancio. RH - Una última pregunta para despedirnos. ¿Es verdad que los poetas mienten porque no saben absolutamente nada de poesía?. FF - Es cierto. Ya te he mentido. Agulha - Revista de Cultura Carlos Yusti (Valencia, 1959). Escritor y pintor. Dirige conjuntamente con José Vicente Mariño la revista tanto en papel como por Internet Rasmia Literaria. Contato: [email protected]. Ramón Hernández. Poeta y artista plástico. Ha sido co-redactor de revistas de arte y literatura, así como colaborador de otras publicaciones de Caracas y el interior de Venezuela. Contato: [email protected]. Entrevista realizada en diciembre de 2002. Página ilustrada com obras de Franklin Fernández. retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Maria João Cantinho: os abismos selvagens da escrita Floriano Martins . FM - Em tua galeria de entranháveis identificações mencionas a Dostoievsky, Mann, Conrad, mas principalmente a Hesse e Borges. De que maneira hoje se pode detectar essa identificação, qual a singularidade do diálogo que tua narrativa consegue para si a partir da leitura desses autores? E por onde principia uma consciência estética em teus escritos? Como surge, enfim, a contista Maria João Cantinho? MJC - Sim, de Hesse fui buscar a limpidez da prosa, de uma aparente simplicidade. Onde as questões metafísicas essenciais humanas aparecem em toda a sua pujança, como o tema do duplo, a busca do ideal e do conhecimento, de Deus. Mas o que sempre me fascinou nele é justamente o modo como a prosa aparece depurada e despojada, entrelaçando admiravelmente forma e conteúdo. Essa proximidade encontro-a também, de forma notável, em Kafka, mas o caminho é outro, a ironia de Kafka é totalmente outra. Em Borges, o que me fascinou e me deixou a angústia bloomiana da influência, da qual dificilmente consegui libertar-me, foi o recurso inesgotável ao maravilhoso, a abertura para um universo místico e insuperável, a possibilidade de converter a literatura em acesso ao infinito, algo que nenhum outro escritor me permitiu ainda. Essa fusão entre onirismo, literatura e metafísica, toda a pujança desse movimento barroco que existe na literatura de Borges e que nos conduz ao mais profundo conhecimento do homem e do pensamento, o aspecto lúdico e subtil herdado por ele da literatura inglesa e a capacidade alegórica de representação que Agulha - Revista de Cultura a sua literatura contém é o que considero o que de mais perfeito se faz e que está intimamente relacionado com a concepção de literatura que possuo: uma via para o conhecimento. A literatura é um compromisso com a vida. Tanto ético como estético. Claro que há nesta minha afirmação um anacronismo, se compararmos com o que se faz actualmente na literatura portuguesa, mas essa seria uma outra questão. Quanto à última parte da questão: como é que surge a contista? É simples e respondo de alguma forma ironicamente: a partir de uma certa altura comecei a achar que também tinha alguma coisa a contar e que podia contar algumas histórias interessantes… pura pretensão… a necessidade foi-se tornando muito forte a partir do final da adolescência, a literatura confundia-se com a vida ou o inverso, como se a literatura fosse um plano da realidade que me mantém, justamente, em ligação com a vida. Não saberia estar de outro modo na vida, acho. Por isso, ao falar de consciência estética, torna-se obrigatório falar de condição existencial, já que não separo vida e literatura. Se o faço, isso não é senão artificial, para que possa viver o quotidiano. FM - E na literatura portuguesa, em qual correlato se poderia pensar? Acaso um Manuel de Oliveira teria aí algum papel a ser destacado? MJC - Sim, na literatura portuguesa, na minha opinião e sem querer ser injusta para ninguém, há autores e artistas plásticos que me marcaram intensamente, mas nunca caberia aí um Manuel de Oliveira, consagradíssimo na Europa, mas que me deixa inteiramente indiferente, a não ser unicamente nos primeiros filmes como Aniki Bóbó, em que a realidade portuguesa se deixava captar por uma inocência e uma alegria que não existe nos filmes posteriores desse realizador. Não gosto do cinema que se toma como pose, onde a formalidade pura se transformou no único alimento do olhar… onde o cinema se toma como contemplação e tão só isso… de uma forma geral, seria de falar numa série de jovens realizadores portugueses que, ultimamente têm feito por alterar o modelo "oliveiriano" do cinema, retratando uma realidade mais próxima e viva, não sendo por isso menos meritório, mas o cinema novo português procura abandonar essa excessiva intelectualização do cinema e visa a comunicabilidade do cinema. Aí, torna-se possível falar de um correlato. O que faz a literatura senão contar uma história? Contando-a da melhor forma que o escritor sabe? Essa parece-me a questão essencial e remete para a questão da comunicabilidade da obra de arte: mais do que comunicar algo, ela comunica-se em si e a si própria como atitude. FM - Mencionas a "angústia bloomiana", o que me leva a citar uma reflexão de Antonio Cícero: "a teoria da angústia da influência sofre Agulha - Revista de Cultura do mesmo problema da psicanálise em que se baseia. Se alguém reconhece ter a angústia da influência, isso mostra que a teoria está certa; se o nega, é porque a denega, e se a denega, isso também mostra que a teoria está certa. Ora, esse tipo de imunidade à falsificação é, como mostrou o filósofo Karl Popper, característico das pseudo-ciências." O que pensas a respeito? MJC - É evidentemente um paradoxo inquietante, e de nada adianta ficar remetendo para as suas inúmeras consequências, que, de uma forma ou de outra, se tornam tão intimidatórias para o autor como para o crítico, que se vê assim impossibilitado de classificar o autor sem as tais "balizas referenciais". Imagino o que terá sido para os críticos da época lerem Ulysses de James Joyce… No entanto, a questão epistemológica e crítica persiste e faz todo o sentido: porquê o medo de se expôr à falsificabilidade? Desse modo, ao temer expor-se à falsificabilidade, qualquer teoria acaba cedendo às suas próprias armadilhas, julgando encontrar a sua força num solipsismo estéril. Não creio que haja aí ingenuidade, ao proceder-se desse modo, mas uma obstinação dogmática, sabendo o dogmático que a teoria só pode resistir nesse fechamento. E todos sabemos como os dogmatismos são os mais extremados exemplos de "pseudo-ciências". Inúmeros são os exemplos dessas "pseudo-ciências" - mostro aqui o meu total acordo com Popper -, a começar nos grandes sistemas filosóficos que impediam qualquer confronto crítico. Isso leva-me imediatamente a uma questão que me interessa directamente, incómoda, e que é a tendência natural das várias escolas da teoria da literatura se fecharem entre si e evitarem o diálogo, criando nos meios académicos e críticos uma separação artificial e dogmática. Como se não houvesse espaço para a mais completa diversidade na literatura… FM - De que maneira, em Portugal, essa postura acadêmica interfere, por exemplo, na recepção de novas obras literárias? MJC - Como sempre acontece, por muita abertura que haja, o academismo define cânones literários, o que dificulta a classificação de obras que não se encaixem no sistema dominante. Mas isso não é uma questão que apenas se refira à literatura, mas também em relação à arte e a formas de anti-cultura e contra-cultura isso ainda se aplica mais. A questão é a impotência que o crítico, educado a partir de cânones convencionais, sente diante daquilo que não compreende. Logo a seguir, surge uma outra questão: mesmo que ele se sinta tentado à disponibilidade para aceitar essa obra de arte ou literária ou outra qualquer, musical, por exemplo, como vai lidar com o que não conhece? Como vai identificar o que possui qualidade e o que não possui? Todas esses problemas são subjacentes à recepção da obra de arte em geral, daí que surja a mais intensa confusão entre o que é bom e contém essa dimensão Agulha - Revista de Cultura de contra-cultura, subvertendo códigos e fundando novos (que nesse justo momento são imediatamente destruídos, como o diriam Walter Benjamin ou Baudelaire, que o novo e original deixam de o ser imediatamente no momento em que aparece) e o que é o mais puro oportunismo falsário, que se pretende como subversivo, não passando de pura gratuitidade. Daí a maior das confusões, operada no meio académico actual, que erra no momento em que se pretende democrático. Do outro lado desse ecletismo acrítico, encontramos a atitude inversa, ainda pior (pois a democracia é corrigida naturalmente com a passagem do tempo sobre as obras), que é a exclusão de tudo o que não é clássico e não provém directamente do meio académico. Isso acontece sobretudo com a poesia portuguesa, mais do que com o romance, já que a mescla entre crítico de poesia e poeta é muito vulgar em Portugal e o crítico de poesia possui a legitimidade do academismo, na maior parte das vezes. A partir destas duas atitudes possíveis, é fácil prever o que acontece na recepção de novas obras literárias. Aceita-se com demasiada facilidade tudo o que é contra-corrente, mesmo não se sabendo se isso vale grande coisa, o paradigma do vanguardismo é ainda muito forte na crítica literária (caberia uma reflexão séria sobre o que é a inovação), mas rejeita-se com demasiada facilidade o que discreta e solidamente se impõe na literatura. Com isto, falo evidentemente dos grandes escritores como João Aguiar, João de Melo, Almeida Faria, Mário de Carvalho, Mário Cláudio, que tão facilmente são esquecidos por não se integrarem nem no gratuito nem no previamente estabelecido. Já para não falar das imensas escritoras mulheres (a ficção em Portugal é sobretudo domínio das mulheres) que possuímos e que são totalmente ignoradas ou lidas em círculos cultuais. São tantos os exemplos disso que não caberia aqui citá-los. E o problema que persiste, também, é essa esquizofrenia entre a consagração definitiva dos grandes autores e a aceitação imediata e acrítica de jovens escritores que, na maior parte das vezes, não possui essa qualidade que a todo o momento vemos sobrevalorizada pela crítica. Seria ainda muito importante falar num outro aspecto que cria a maior das confusões e que é o equívoco entre o mercado da literatura e a literatura em si, coisa que em muito se assemelha ao que se passa na questão da arte. São as grandes editoras, as que sabem fazer um bom marketing, que "fazem" os autores, questão que tende a sufocar cada vez mais a literatura. Agulha - Revista de Cultura FM - É interessante observar que já em 1965 o francês Jean Schuster dizia que "a finalidade imediata da publicidade é a destruição massiva, contínua e racional dos produtos pelos produtores, alienados esta Segunda vez como consumidores", caberia discutir, a partir dessa ótica, o ardil a que são levados esses autores que se deixam fazer pelo marketing. Mas me interessa aqui evidenciar essa tradição de vozes feminina na ficção portuguesa. Como identificas essa tendência e quais os obstáculos encontrados por essas escritoras e que as deixam restringidas aos círculos cultuais, como dizes? MJC - Não quero que haja qualquer conotação pró-feminista ou antichauvinista no que digo, pois a coisa é puramente factual. O que parece ter vindo a afirmar-se é essa vantagem que as vozes femininas têm conquistado na ficção portuguesa. Creio que a situação não pode apenas justificar-se pelo acesso ao meio literário, pois esse acesso é extensivo à poesia, igualmente. Mas, sobretudo com uma arte da paciência que o romance parece conter, um hábito, por excelência, feminino (hábito não meu, certamente), em que a escrita vale sobretudo pelo pormenor, pelo reescrever, por uma construção sistemática e hábil que exige a lentidão, um tempo de espera/gestação, se é que é possível falar assim. Nesse sentido, acho que não faz sentido de falar de uma escrita feminina ou distinguir masculino/feminino, pois essa discussão estéril já foi levada longe de mais, mas acho que é natural esse ritmo do romance e da ficção à mulher, enquanto que a poesia, mais descontínua (não obstante a presença do longo poema, como em alguns casos), revela essa impaciência masculina que se revela no dizer. Apesar disso e da forte presença da mulher portuguesa na ficção, não esquecer que as vozes dominantes do romance português são as masculinas, ainda. Cito dois para arrumar o assunto: José Saramago e Lobo Antunes…isso não significa, todavia, que o universo masculino tenda a abafar o universo feminino, creio que isso foi há muito ultrapassado. O que acaba por acontecer é que a escrita dessas mulheres, citando casos como Gabriela Llansol, Hélia Correia, Ana Teresa Pereira, Cristina Victória, é difícil, hermética, daí que o acesso seja restrito. O romance, não masculino, mas escrito por homens, tem um pendor mais realista e social, o acesso torna-se assim mais fácil ao leitor, à excepção, talvez, de um Rui Nunes. Por isso, há que distinguir esse cultualismo que se relaciona directamente com o carácter da obra de uma ou outra ambiguidade política e marginalizante. As mulheres atravessam um período muito bom, de repente todos os meios universitários e editoriais foram "tomados" por elas, em virtude da desproporção e isso não pode senão traduzir-se em vantagem, em todos os níveis. As escritoras que mais vendem, nesse modelo copiado dos EUA e britânico, são ainda mulheres, ainda que essa não seja literatura. Mas não defendo a sua extinção, como muito boa gente. Não acho mal que uma Margarida Rebelo Pinto facture milhões e reedite continuamente, acho que Agulha - Revista de Cultura isso é óptimo (sobretudo para ela e para idênticos modelos mediáticos) e não diminui em nada a qualidade da literatura portuguesa. Creio que os bons escritores não seriam mais lidos se ela deixasse de publicar, acho que eles continuariam a não ser lidos, tão só isso. E não acho que ser lido em círculos cultuais seja demérito… FM - E como tens sido considerada dentro deste universo? O fato de seres mulher implica em algum obstáculo, na sociedade portuguesa, à recepção de teu trabalho, incluindo a intensa atividade jornalística que vens realizado? MJC - Não creio que ser mulher seja impeditivo, nesse sentido em que muitas vezes se coloca a questão. Acho que fui discretamente, mas muito bem recebida, por duas razões. O meu primeiro livro foi divulgado em círculos restritos, pelo facto de a editora não estar consolidada no mercado, um pouco marginalizada até. Como nunca havia pensado em publicar, o livro foi para mim um pouco uma surpresa, não cheguei a procurar editoras, mas nasceu de um convite do editor. Creio que o facto de ser uma editora pequena foi um dos obstáculos à divulgação do livro, num ano em que os livros publicados eram muito bons e foram muito bem lançados pelas editoras que os haviam editado. Apesar disso, furei o "bloqueio" que havia e a obra chegou muito bem onde devia chegar, chamando a atenção de críticos cuja opinião me é extremamente importante e que muito contribuiu para o reconhecimento das fragilidades de uma primeira obra. O livro foi alvo de atenção apaixonada, por parte de leitores que me escreviam, intensamente impressionados, o que me tocou particularmente. Porque, mais importante do que chegar ao mercado, é chegar ao leitor e tocá-lo, essa a função da literatura, por muito que ouça alguns escritores dizerem que não escrevem para o leitor. Sem querer ser simplista, escreve-se porquê e para quem?…É evidente que uma coisa é escrever a pensar naquele que nos vai ler, o que nunca me parece válido, a não ser aplicado ao jornalismo e à escrita de carácter informativo, outra é transformar a literatura num acontecimento da linguagem, um transfiguração do real e, ao mesmo tempo, um lugar de fundação do real. Agulha - Revista de Cultura Por outro lado, posso dizer que devi, em grande parte, o "furo do bloqueio" pelo facto de (algumas pessoas ligadas ao jornalismo não gostam de ouvir dizer isto e acham que as coisas não devem ser misturadas e eu própria acho que elas não devem ser misturadas), paralelamente ter iniciado e desenvolvido uma actividade ligada ao jornalismo, escrevendo em publicações como a Crítica, revista on-line, tal como a StormMagazine, onde trabalho agora, bem como em publicações como a revista Livros e o jornal de poesia Hablar/Falar de Poesia. Digo que isso ajudou a "furar o bloqueio", mas não que me consolide nenhuma carreira literária, porque disso só o tempo falará e, por enquanto, não tenho muitos livros publicados, como sabes. Conto fazê-lo, futuramente…Por outro, a actividade jornalística intensa, como dizes, é também impeditiva, pela dispersão que causa. Tenho um romance empatado porque não páro de escrever recensões e ensaios. Por último, é-me difícil dizer se fui melhor recebida aqui ou ali. Creio que uma certa popularidade resulta da segunda, mas isso também se traduz num acréscimo de responsabilidade, como bem sabes…tens os olhos postos em ti, de cada vez que sai algo. Se fizeres disparate, ficas mais exposto, claro. E o inverso também vale. FM - Observei algumas críticas a respeito de teu livro de estréia, A Garça (2001), e ali encontro menções ao fantástico, a contos infantis ou fábulas metafísicas, ou seja, um emaranhado de conceitos que em nada ajudam a compreender a poética de um autor. Decerto tens tua própria idéia de abrangência estética deste livro. Poderias nos falar a respeito? MJC - O conto fantástico, em Portugal, é visto como uma modalidade literária ultrapassada. Ouvi um crítico dizer isso há algum tempo. Há excelentes contistas fantásticos, lembro dois ou três mais conhecidos, sem querer cometer injustiças, como Mário de Carvalho, Hélia Correia e Ana Teresa Pereira. Houve sempre uma resistência, por exemplo, à introdução do fantástico, fosse o gótico ou o surrealista. Tende a predominar uma literatura de pendor mais realista, de forte tradição herdada do neo-realismo, com um pendor social bem acentuado, também em virtude da experiência social e política em que vivemos durante tanto tempo. Primeiro uma literatura mais amarfanhada e castrada pela censura e depois mais livre, mas ainda arreigada a esses modelos. Actualmente, creio que, mesmo os jovens autores, à excepção de Cristina Victória, se encontram ligados a esse "realismo", termo que utilizo cuidadosamente para designar essa mescla de correntes pós-modernas que existem, que vão desde um realismo mágico Agulha - Revista de Cultura (como por exemplo em José Luís Peixoto), a um romance de carácter desencantado e cínico. Já sem falar num realismo social despojado, que se destrói por autofagia, reduzindo a literatura a esquemas e tipos de análises sociológicas e antropológicas desinteressantes. Com isto, dizia-te que quando se aborda o fantástico, as categorias ou cânones de avaliação se tornam bem confusos (talvez pelo próprio fantástico português ser confuso e ter assimilado vários autores, misturando-os indiferenciadamente…). Quanto a essa recensão de que falas, e que acho a melhor de todas, creio que a de Rui Magalhães, ela é a mais justa para com a minha obra, onde me senti mais reconhecida. Creio que ela se confunde com uma análise hermenêutica que é mais alargada do que uma simples análise literária. O que pode tornar-se difícil aos olhos de um leitor vulgar que fica indeciso se deve ou não ler uma coisa tão complexa. No entanto, não creio ser capaz de definir melhor A Garça do que o próprio crítico o fez. Posso é explicitar como se cruzam os vários caminhos e, sobretudo, falar de um acento melancólico que o próprio crítico compreendeu e bem. Como o livro reúne vários contos que foram escritos ao longo da minha vida (e que lhe empresta uma certa heterogeneidade que pode ser vista como uma das fragilidades do livro), o tom oscila entre vários registos que foram importantes, marcando as minhas experiências literárias e vivenciais, já que não consigo separar vida e arte, tenho uma grande dificuldade em fazer essa distinção, levantando-me mesmo um problema de coerência. Jamais fui capaz de escrever um conto e sair para ir beber uns copos a seguir. Mergulho num estado de densidade existencial que me complica a vida…e me torna incompatível com ela. Como todas essas fases constituiram um tecido de maturação existencial, de formação, é difícil dizer que o livro não seja uma "obra de formação". Creio que todas essas personagens que aí habitam, nesse espaço ou escuridão literária, são uma espécie de fantasmas que lutaram pela sua libertação. Daí que o registo vá desde o conto infantil, porque muito influenciado por autores que me dominaram ainda a adolescência e ainda hoje me impressionam, como Rudyard Kipling, Conrad, Jack London, entre muitos outros, estabelecendo passagens com o mundo da minha infância, com essa aura incrível de uma infância passada em África, entre as caçadas do meu pai, as fugas de casa e a minha paixão intensa por um mundo onde a leitura, o silêncio e a escuta solitária se transformaram em aspectos fundamentais. A minha obsessão por aves e por cavalos também vem daí, penso que muita coisa é facilmente explicável, mesmo que a presença não seja senão fantasmática. Mais tarde, a influência forte de Hesse, Poe, Blake, Chesterton, Borges, Calvino, de Walter Benjamin e de Platão, de Niteszche, haveriam de tecer o "pano de fundo" de outros contos, aí claramente tomando o aspecto de "fábula metafísica", como nos contos "A Garça", "O Animal que sonhou ser deus", "Uma Estranha Aventura", "O pintor chinês" e o final "Requiem para uma pequena garça", esse condensando a mais Agulha - Revista de Cultura estranha de todas as fábulas. Se estiveres com atenção, verás ainda, não apenas a literatura, mas a forte influência do cinema e da pintura. Kurosawa, num certo período da minha vida foi uma doença do olhar, juntamente com, Bergman, e Wenders, entre outros. Creio que os ambientes e o modo como procuro situar as personagens obedecem claramente (mesmo que inconscientemente) à lógica do cinema, numa procura de, pela economia das palavras, fazer ressaltar as imagens, dando à imagem uma força que as palavras e a literatura muitas vezes obscurecem. A par dessa obsessão claramente remetendo para a infância, há o outro aspecto que se prende com uma dificuldade. Como fazer com que as questões metafísicas ali estivessem sem que as personagens se tornassem insuportáveis de ouvir? Como falar de Deus, da origem da linguagem, das palavras e das imagens, da morte, da liberdade, sem que uma engraçada personagem aparecesse por ali a desafiar o leitor? Foi assim que nasceu o primeiro conto, "A Garça", que acabou por dar o título ao livro. A garça é personagem, mas é simultaneamente a autora/actriz, a dramatis persona que me faltava para encaixar o puzzlle, fazendo encadear os contos uns nos outros, dar-lhes uma continuidade que lhes é conferida pelo questionamento filosófico, que aparece nas suas múltiplas formas, desdobrando-se. Ela não se deve ao acaso, creio hoje, mas nasceu da necessidade de resolver um problema e por essa mesma razão, a sua morte aparece no final do livro, a fechar o círculo. Dizer mais do que isto, complicar com as heranças e as correntes estético/literárias que pulsam na obra é estragar o prazer da sua leitura, pois o que me motivou sempre a escrever foi esse questionamento filosófico, a escrita como processo de autoconhecimento, numa aprendizagem por vezes muito dolorosa da vida. Isso transparece em alguns contos, o medo do crescimento, a obsessão do tornar-se sempre um outro, a metamorfose como reconhecimento da passagem do tempo e a ameaça do devir constante, o envelhecimento e a descoberta de uma sabedoria interior que é ofuscada pelas aparências…bem, mas isto já não é literatura e sim filosofia…Houve um crítico que disse (e muito bem) que eu usava a literatura como um expediente para a filosofia. Tenho de ter cuidado com isso, certamente… FM - Como tens publicado também um livro de poemas, indago se tua relação com o conto e a poesia está mediada por alguma circunstância hierárquica? Agulha - Revista de Cultura MJC - Hierarquicamente, a coisa é simples. Considero que, na prosa, sou claramente superior à poesia. Na poesia ainda estou muito presa a coisas que detesto em outros poetas e foi uma experiência difícil, a publicação do livro. O facto de ser crítica de poesia dá-me uma consciência muito lúcida do fazer poético. Sou uma leitora apaixonadíssima de poesia, sobretudo dos contemporâneos. Além de que muitos dos meus melhores amigos são excelentes poetas, daí que eu sinta claramente essa desvantagem na pele. Como um amigo poeta disse, este é um livro inspirado e sincero, mas é de fazer a questão: o que é isso na poesia? No entanto, gosto de escrever poesia, é uma das facetas da minha obra que, provavelmente, não repetirei de forma tão ingénua. Digo isto pelo seguinte: o livro recebeu uma menção honrosa de um prémio nacional. Daí que o salto para a publicação tivesse sido dado logo no momento da divulgação dos prémios. Acho que devia ter sido mais trabalhado, devia ter esperado mais pela decantação dos poemas. É um facto que me precipitei. Gostaria de repetir a experiência de um outro modo, sem precipitações. A poesia é uma ars moriendi, por excelência. Não há que ter pressa. Há que saber esperar, muito mais do que no conto, quase sempre escritos de rajada, num ritmo insano, perseguindo ideias como um caçador seguindo o rastro da presa. São ritmos inteiramente diferentes e sei que ainda não atingi essa arte da paciência tão necessária à poesia. FM - Abro ao acaso (gosto de fazê-lo) uma página do livro De segunda a um ano, de John Cage, e ali encontro: "A má política produz boa arte. Mas para que serve a boa arte?" Creio que a resposta nos leva a qual tipo de relação um artista mantém com o próprio tempo. De que maneira tua experiência de vida é determinante no que escreves e como se dão as relações entre arte e política em Portugal neste princípio de século? MJC - Essa deliciosa frase suscita um paradoxo que permanece como uma sombra de indecisão sobre a arte em geral e sobre a literatura em particular. O tema do compromisso ético, ainda que esteticamente pouco recomendável nos dias que correm, é-me caro. Posso comprovar o que Cage disse, recorrendo à literatura portuguesa e, em especial, à poesia portuguesa, nos duros anos do regime fascista. Sabes, certamente, que a excelente poesia portuguesa nasceu dessa necessidade de romper o círculo da censura, criando a possibilidade da multiplicidade de poéticas tão diferenciadas, que resultavam do esforço de um "querer dizer" o que não podia ser dito. Assim como autores portugueses como Saramago, Cardoso Pires, etc., dando conta de um painel político Agulha - Revista de Cultura sufocado e decadente. Já não quero falar, obviamente dos casos poéticos extremos de compromisso como Paul Celan e tantos outros. Nenhum artista é indiferente ao seu tempo, acho, mesmo que o pareça, mesmo que ao lermos muitas obras, hoje em dia, elas nos pareçam absolutamente descomprometidas, "irresponsáveis", sobretudo no caso dos autores mais jovens. Mesmo que nos pareçam alheios, há uma relação directa, não com a política, mas com a época. Nos dias que correm, em Portugal, vemos precisamente uma tendência para um cinismo na literatura dos jovens, contrariamente aos autores mais velhos (que também não deixam de o ser, à sua maneira, mas sentem-se mais responsáveis), que se traduz numa literatura que muitas vezes resvala para o facilitismo. Viver em democracia traz uma certa desresponsabilização política e a atestá-lo, estão as elevadíssimas taxas de absentismo. Não é necessário fazer da literatura, como o fazia claramente o neo-realismo português e a poesia da década de 70, um instrumento de crítica contundente da sociedade e dos valores. Cai-se, por reacção, na atitude típica do pós-moderno e epígonos, a atitude do "tanto faz", da sobrevalorização do mediático e da imagem, das imagens de sucesso e bem-estar, tão propagadas pelos media, procura-se a todo instante expurgar a dor, a melancolia, o mal-estar (citando um ensaísta português que admiro imensamente, João Barrento), remetendo-a para o domínio das patologias mentais. Todavia, a escrita é na maioria dos casos e também no meu, uma forma de responsabilização, não directamente política, mas ética. O meu livro foi criticado justamente por isso e tal fez-me rir. Foi criticado por se encontrar cheio de boas-intenções, ou seja, por um questionamento filosófico dos valores que lhe é intrínseco. Logo a seguir, sai a recensão de Rui Magalhães, a dizer exactamente o contrário: que o meu livro não era um livro de boas-intenções, mas justamente o inverso. É, e eu concordo inteiramente, uma escrita habitada por uma preocupação existencial constante, o que não faz dele um livro de boas-intenções. É uma obra desencantada e melancólica, o primeiro conto começa com um homem à beira de suicidar-se, que procura firmar-se numa réstea de esperança. A questão é justamente a de saber se ela é possível e se a linguagem cumpre ou não o desígnio da salvação. Floriano Martins (Fortaleza, 1957). Poeta, ensaísta e tradutor. É um dos editores da Agulha (http://www.revista.agulha.nom.br/ageditores.htm). Entrevista realizada com a filósofa e ficcionista portuguesa, Maria João Cantinho (1963), por ocasião da publicação de O Anjo Melancólico (dezembro de 2002), substancioso estudo da obra de Walter Benjamin. Página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Numerologia nAs Minas de Salomão Maria Estela Guedes . A tradução portuguesa de As Minas de Salomão foi revista por Eça de Queiroz primeira edição em 1891. Usei a oitava, Livraria Chardron, de Lello & Irmãos, L.da, Porto, 1928. Empreendi a leitura na expectativa de matéria enriquecedora de quanto já tenho escrito sobre naturalistasexploradores em África, em particular Francisco Newton (muita matéria em linha na TriploV). E consciente de que a fronteira entre literatura científica e Literatura não é tanto de meios como de fins. A questa das Minas de Salomão decorre algures no interior do sul de África, e tem como ponto de partida o facto de o primeiro explorador a penetrar nelas ter sido um português, D. Pedro da Silveira, no século XVI. Esse conhecimento transitou para um parente, José da Silveira, fazendeiro de Lourenço Marques (actual Maputo, Moçambique), sob a forma de um mapa riscado num pano de linho com o próprio sangue do seu antepassado. Graças ao mapa, foi possível aos ingleses alcançar, três séculos mais tarde, as fabulosas minas de diamantes que decerto permitiram a Salomão construir o Templo. Delas sobrariam construções em pedra, como a Estrada de Salomão que a elas conduzia, e uma caverna cheia de tesouros, que os ingleses redescobem com o íntimo gáudio de terem assim passado à frente dos portugueses. Iniciada a leitura, comecei a verificar que uma das bases arquitectónicas d'"As Minas de Salomão" é a aritmética, o que Agulha - Revista de Cultura porventura lhe confere carácter científico:-). A tal ponto os números se apresentam em quantidade e qualidade, que dei por mim, sempre que surgiam à tona das letras, a surpreender-me: "Então e o 7, não aparece?" Ora, não sendo a matemática uma das minhas sequer mínimas aptidões, não vou envolver-me em cálculos, ainda que passíveis de conduzir aos diamantes salomónicos. E também não pretendo mergulhar nas volubilidades mercuriais da exegese cabalística. Apenas mostrar, a quantos fecham os olhos a esta capacidade de um texto acumular várias linguagens, entre elas um código secreto, como se ele não existisse, quando é os alicerces da criação, que ele está lá, e não só está como constitui o principal vector de sentido da obra - o login para aceder à informação. Por conseguinte, vamos acompanhar alguns passos do livro e ficar pelo sentido literal deles, se tal é possível - sim, o sentido literal, essa miragem dos racionalistas. O TRÊS, CORRELATOS & OUTROS ALGARISMOS Por correlatos do 3 entendam-se o 6, o 9, o 12, o 18, o 30, o 300, etc., e também o triângulo, a pirâmide, o trio e a tripeça. Vejamos como se comportam eles ao longo da narrativa. D. Pedro da Silveira alcançara as Minas de Salomão 300 anos antes dos protagonistas desta história, que o narrador diz serem 3, apesar de nunca serem só 3, pois vão acompanhados por outros caçadores do tesouro, como o zulu que virá a tornar-se rei do país dos kakouanas, região onde se localizam as Minas de Salomão. Não vejo na circunstância nenhuma exclusão racial, essa exclusão tem o mesmo valor que a do 14, 25 ou qualquer um entre infinitos números. Quando se trata de referir numericamente os elementos da equipa, o narrador diz "três": ele mesmo, Allan Quatermain, que na tradução portuguesa é Quatermar, o barão Henry Curtis e um marinheiro, o capitão John Good. São três porque o três é por si uma pessoa, a Trindade. Quando os 3 tomam conhecimento da existência das minas, o informador declara que ouvira falar delas pela primeira vez 30 anos antes. Justificando a sua vontade de partir à descoberta apesar dos perigos da viagem, Quartelmar afirma: "...estou velho, já vivi três vezes mais do que costuma viver na Africa um caçador de elephantes" (p. 41). Logo no primeiro troço de viagem: "sahimos de Durban no fim de janeiro, e andadas quasi as trezentas leguas que vão d'aqui ao sitio em que se juntam os rios Lukanga e Kalukue..." (p. 51). Nessa jornada, dos vinte bois que puxavam o carrão "só doze restavam" (p. 51). Agulha - Revista de Cultura Quando as horas não são certas, apesar de terem relógio, diz-se "quase nove" (p. 57). Quando se trata de dezena imprecisa de factos ou objectos, escreve-se "dez ou doze", ou um "rebanho todo, vinte a trinta elephantes", dos quais matam 9, passando dois dias a serrar-lhes os dentes (p. 58). O que os viajantes levam na bagagem traduz-se em quantidades: três revólveres, cinco mantas, etc., e algo mais extraordinário: um compasso e uma enxó. Para quê uma enxó, instrumento de carpinteiro que serve para desbastar madeira? O compasso, sim, serve ao risco de mapas. O que serve para cortar madeira é o machado, a enxó, o mais que podia, era ser útil ao afeiçoamento da madeira de Acacia mimosa, árvore que ficamos a saber faz parte da flora do reino dos zulus, introduzida talvez por D. Pedro da Silveira. A enxó deve ser um instrumento que está para a madeira como a trolha para a pedra, e só por isso faz parte da bagagem de exploradores que vão atravessar o deserto. Para persuadir três negros a segui-los, os 3 aventureiros têm de lhes dar três facas de mato e uma manta (p. 74). Quando a lua nasce, é pelas 9 horas (p. 75). Após uma pausa de 30 minutos (p. 79), seguem caminho, sonhando acordados com o paraíso de quem tem sede: água. E pelas 6, "já o sol ardia" (p. 79). Novo descanso, porém às 3 horas acordam (p.79). Já quase morto, Quartelmar cai no chão e cerra os olhos. Mas Umbopa desperta-o: "à distancia de oito ou nove milhas" via-se um outeiro que devia ser um dos Seios de Sabá (p. 83). Chegam então ao pé de um cômoro estranho, "especie de duna d'areia, escura, lisa, atarracada, da altura d'uns trinta metros..." (p.84). "De sorte que, descobrindo a umas trezentas jardas..." (p. 93) algo que não interessa à matemática, perguntemos: e então o número 7, que todos sabemos ser o número da Criação, não aparece? Algo começa agora a ganhar volume na mente do leitor: entre mil e um números que anunciam sofrimento ou presidem à torturante travessia do deserto, o 3 e correlatos anunciam a água, isto é, a porta para sair do lance dramático, que pode ser água mesmo, ou qualquer outro facto ou elemento que lhes possibilita a sobrevivência e o avanço no percurso. É assim que os trinta metros do cômoro na página 93 anunciam a descoberta de quantidade imensa de melões na página 95. Os moribundos dessedentam-se e tornam à vida, depois de terem comido/bebido quantos melões? Trinta, exactamente. Agulha - Revista de Cultura Bem, seria maçador dar mais exemplos, por isso avancemos sobre os três mil homens que viviam na povoação kakouana, dos quais "Nenhum media menos de seis pés de altura" "e todos veteranos de quarenta anos" (p. 135), guerreiros munidos de azagaia e "três facas (uma no cinto, duas em presilhas no escudo)" (p.136). Estes guerreiros saudavam o chefe com três gritos "krum! krum! krum!" (p. 136). Sim, avancemos sobre a circunstância de a maior festividade kakouana ser em Junho, como o S. João, sobre as cubatas de chão coberto com ervas aromáticas, que reencontraremos mais longe, avancemos sobre este facto singular: John, cujo nome se traduz por João, de santo não tem nada, mas lembra Jano, o deus das portas, o que abre o ano pela janela de Janeiro. O capitão John andava sempre de colarinho engomado, dentes postiços e monóculo, todo aperaltado, nestas aventuras. Certa vez o grupo foi surpreendido pelos kakouanas junto de um regato onde John se banhava, lavava os colarinhos engomados, mais as calças. Tentava barbear-se mas ainda só rapara a cara de um lado. Surpreendidos, foram obrigados a acompanhar os kakouanas. O capitão John assim seguiu, sem calças, de cara rapada só de um lado, tal como Jano, o deus das duas caras. Saltando tudo isto, chegamos à cidade de Lú (sob o signo da Lua, numa colina em forma de ferradura ou meia lua, aquática como a Atlântida, apesar de situada no interior africano e a dois passos do deserto) - "Para cidade d'Africa era enorme, - com seis milhas talvez de circumferencia, toda ella defendida por estacadas, e rodeada de pomares e de vastas aringas onde se aquartelavam tropas. Pelo centro corria um largo e claro rio, vadeado por pontes. Para o norte, a duas milhas, erguia-se uma collina, que offerecia a fórma singular d'uma ferradura; e, mais longe, a umas sessenta milhas, surgiam bruscamente da planicie, em triangulo, tres serras isoladas, escarpadas, todas cobertas de neve." (p. 141-142). Os heróis são muito bem recebidos na cidade, com direito cada um a sua cubata, feitos os leitos de peles estendidas sobre colchões de ervas aromáticas. "Tripeças pintadas alternavam com frescas vasilhas de água" (p. 144). Agulha - Revista de Cultura Eles hão-de chegar às Minas de Salomão, e aí John revela-se um homem de têmpera ao recusar diamantes, porque um inglês não se vende por isso, e vê-losemos nós enfrentar ainda enormes perigos, um deles a 3 de Julho, quase 4 e por um triz não era o 14, porém a 3 de Julho é necessário demonstrar que os três são homens das estrelas, fazendo qualquer milagre. Ora não se é marinheiro em vão: John traz com ele um almanaque marítimo que anuncia um eclipse total do Sol a 4 de Julho, data tão memorável como o 14 de Julho, de modo que se valem da ciência para enganar os negros, o que aliás não parece próprio dos ingleses. Datas memoráveis porque em qualquer delas a História ergueu ao alto um conjunto de princípios democráticos que os três implantarão no reino dos kakouanas, a saber "a nobre instituição do jury" (p. 185), os Direitos do Homem. Estes factos de linguagem ficcional têm um espelho na passagem do diário de Padre Duparquet (veja "Viagens na Cimbebásia", no TriploV) relativa à morte do explorador Anderson nas margens do Rio Cunene: os dados biográficos estão errados apenas para em vez deles aparecerem as datas das revoluções americana e francesa: 4 e 14 de Julho, ambas caras à Maçonaria, tal como o 3, triângulo e correlatos, seus símbolos mais comuns. Por isso a garantia do novo rei dos kakouanas, convertido ao republicanismo, de que sob a sua legislatura nunca mais haveria: "matanças de festa nem execuções sem julgamento". Essas matanças de festa rematavam cerimónias com danças durante as quais as donzelas agitavam nas mãos "uma palma verde e um lírio branco" (p. 187). Por falar em "branco", é extraordinário como nesses confins africanos um rei negro que poucos brancos devia ter visto injurie os ingleses à castelhana, a menos que se trate de uma forma queiroziana de ironia: "E quem és tu, perro branco, para vir latir contra o leão na sua caverna?" (p. 193). Entretanto afastámo-nos algum tanto dos números, mas anote-se em como o 3 prenunciou de facto uma saída airosa para o que parece um rol de provas misteriosas que os três precisam de passar antes de amadurecerem o bastante para entenderem a moral da história. E de passagem diga-se que os kakouanas usam em combate a táctica do quadrado de três lados, o que não deixa de ser vanguarda, e que uma das suas armas é o machado de guerra. O machado lembra a enxó, apesar de esta pertencer às artes da paz : "Meia hora depois os regimentos (a flôr do exercito dos Kakouanas) estavam em formatura nos tres lados d'um Agulha - Revista de Cultura immenso quadrado"(p. 200); "Ignosi então recuou um passo erguendo no ar o seu formidavel machado de guerra" (p. 202). Já numa evocação do regimento dos Pardos da revolução baiana, escreve-se, a pp. 209: "Este regimento tinha por nome os Pardos, porque usava plumas pardas na cabeça. Era composto por tres mil praças", e outro algarismo não seria de esperar, pelo que o capítulo IX remata com esta consideração de alto teor estratégico: "- Bom, murmurou Infandós, vamos ser atacados por tres lados" (p. 210). Neste ponto do meu ensaio, já o leitor certamente se interrogou: "Então e o 7, esse número mágico entre todos os números mágicos, não aparece?" O que aparece, logo à boca do capítulo X é o 3: "Devagar, em perfeita ordem, as tres columnas avançaram." (p. 211). Estamos num cenário de guerra, os ingleses suspiram por uma metralhadora e eis que: "O pobre commandante de pelle de leopardo avançára das fileiras uns trinta passos" (p. 212). Menos do que isso só podiam ser três e mais de trezentos ficava fora do alcance das carabinas. No capítulo da descida aos infernos, isto é, da entrada na caverna do tesouro, deparam com "tres pequenas torres ou tres marcos colossaes". E é nesse momento que Quartelmar desvela o mistério do três, ao analisar o que poderiam ser aqueles ídolos ocultos no país dos zulus: Eu por mim, das minhas reminiscencias da Biblia, colligia que deviam ser talvez os falsos Deuses que adorou Salomão - "Asthoreth deusa dos Sidonios, Chemosh deus dos Moabitas, e Milcolm deus dos filhos de Amnon". Assim diz o Livro Santo (p. 241). Os antepassados de Indiana Jones encontram os diamantes de Salomão, o problema é sair da caverna e levá-los para o mundo civilizado. Antes de isso acontecer, morrerão de fome e sede. E essa é a moral da história, a lição que aprendem e a velha feiticeira Gagula lhes ensina: os diamantes não se comem nem se bebem. Mas encontram os diamantes, sim, guardados em três cofres de pedra, dois selados e um aberto (p. 258). Algo de registar ainda, embora em princípio não se relacione com a matemática, é a pedreira ou amontoado de pedras ainda não afeiçoadas que encontram nos labirintos da gruta: "E com effeito havia alli como umas obras interrompidas - pedras serradas e esquadradas, um monte de cimento, e uma picareta e uma trolha, semelhantes ás que ainda hoje usam os pedreiros. Contemplei com reverencia estas antiquissimas ferramentas" (p. 256-257). As Agulha - Revista de Cultura aventuras na caverna são perigosas e envolvem mais números, entre eles o das terríveis trinta toneladas da porta de pedra que de repente baixa, deixando-os presos lá dentro (p. 262). Vão morrer de fome e frio os heróis, nas entranhas da terra, e nem palavras mágicas como "Sésamo" ou "Vitriol" dali os poderão arrancar. Não, não há milagres em tal agonia. Porém eis que à morrente luz da candeia o barão Curtis se lembra das horas e pergunta por elas, ao que Quartelmar responde que "Eram seis horas" (p. 266). Com uma tal palavra de passe, a seguir só poderiam aparecer trinta melões ou algo melhor ainda que os salvasse da morte certa, mas não. Não, vão sofrer muito nas entranhas da terra até que finalmente, por misericórdia dos deuses, no capítulo XV, "Nas entranhas da terra", Quartelmar se lembra de olhar para o relógio e pasme-se: "Eram sete horas!". O desaparecido número da tabuada chega com a sua grinalda e plumas de pavão, imponente e orgulhoso, pronto a rematar a história com um formidável happy end. E assim foi. Um fio de ar guiou-os através das galerias da velha mina até ao exterior da montanha, e justamente lá fora Infandós interpretou correctamente o lance: "- Oh meus senhores! Sois vós! Sois vós! Voltaes do fundo dos mortos!... Voltaes do fundo dos mortos!..." Do fundo dos mortos, anote-se, e não do mundo dos mortos. Voltam dos abismos da sua interioridade e não do espaço físico - esse é o sentido da fórmula V.I.T.R.I.O.L. dos ritos iniciáticos da maçonaria, que se traduz por "Mergulha nas entranhas da terra e aí encontrarás a oculta Pedra". Concluindo, não será talvez correcto afirmar-se que a presença de Eça de Queiroz neste livro o tornou melhor do que o original. Os fragmentos que lemos não são da ordem do retoque verbal, tratase de algo essencial à narrativa em que um tradutor não pode interferir. E também não parece correcto apoucar a obra como sendo fruto de inspiração recebida de "A Ilha do Tesouro", de Stevenson. "As Minas de Salomão" são uma utopia que pertence à linhagem de "A Nova Atlântida" de Francis Bacon ou de "Erewon" de Samuel Butler, com forte componente esotérica e maçónica, integrada num género de grande sucesso como é o romance de aventuras. Com a vantagem de o esoterismo se revestir de ironia, quando nos apercebemos da máscara de comédia que vela a face da numerologia. Maria Estela Guedes (Portugal, 1947). Criou e dirige a revista TriploV (www.triplov.com). Publicou, juntamente com Nuno Marques Peiriço, o livro Carbonários. Operação Salamandra (1998). Contato: [email protected]. página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Reflexos expressionistas na poesia italiana Tiziano Salari . No conceito abrangente de Expressionismo literário fazem parte, para Gianfranco Contini (em Ultimi esercizi ed elzeviri), poetas e escritores italianos do período vociano (Rebora, Pea, Onofri, Boine), além do posterior Expressionismo de Gadda (gaddiano). Numa acepção ao mesmo tempo mais larga (centrada mais que sobre os aspectos lingüísticos, sobre o drama da relação entre o Eu e o Mundo) e mais restritiva, ou seja limitada aos anos ao redor do 1910 (ano da emancipação da dissonância e do nascimento de obras fundamentais do expressionismo histórico), a meu ver, a Boine e a Rebora têm que ser acrescentados Campana, Sbarbaro e, sobretudo, Michelstaedter. O DESPERTAR OU DO TRÁGICO A cidade futurista e a cidade expressionista se sobrepõem uma à outra, mas se a primeira é evocada ao provocar uma intensa e prazerosa excitação dos sentidos, a segunda altera e deforma a mesma realidade até transformá-la numa fonte de horror. A origem poética comum fica nos Tableaux parisiens de Baudelaire. Neles, a sugestão da vida da metrópole e a angústia se misturavam numa dosagem perfeita. Paris se tornou o mito do século XIX. Toda a província poética italiana roda ao redor deste mito, da scapigliatura até o futurismo. Viajar para Paris – fantasiar sobre os prazeres de Paris, se misturar culturalmente e sensualmente com o turvo do Agulha - Revista de Cultura Sena – se torna uma sorte de batismo artístico. Unicamente através de Paris e de seu mito podemos ser desmamados das tetas dos bons sentimentos, se abrem novos horizontes de poesia e de vida. Mas é um mito crepuscular. Enquanto isso, emergiram no imaginário literário outras gigantescas metrópoles espectrais como Berlim e São Petersburgo, e Londres, do L’uomo della folla de Poe aos romances de Dickens, é desde sempre, junto com Paris, uma têmpera de peripécias romanescas. Na Itália não aparece uma cidade símbolo da vida noturna, de casualidade, na qual todas as ligações tradicionais se dissolvem numa crise de identidade e de certezas. Longe a Berlim de Heym e a Viena de Trakl, a Petersburgo de Blok e de Mandelstam. No entanto, atrás da esbórnia futurista, se percebe – nos espíritos mais pensativos – a mesma angústia do estranhamento com respeito a uma realidade que de repente se contrapõe ao sujeito como monstruosa e incompreensível. Os pequenos refúgios, nichos do crepuscolarismo, a apologia futurista do modernismo, se revelam na sua superficialidade "naturalista" com respeito a um sentimento poético e filosófico que desnuda a essência íntima da Realidade (Michelstaedter, Campana, Rebora, Boine, Slapater, Sbarbaro). Nada poderia nos fazer compreender o cataclisma acontecido nas consciências mais atentas, no primeiro decênio do Século XX, de um confronto entre os poucos poemas que nos deixou Michelstaedter e a poesia crepuscular. Entre o sujeito poético e a Realidade se abriu um abismo, ou melhor, o sujeito poético fica agarrado nas margens da Realidade como nas orlas de um abismo. Não tem realmente nada para lamentar ou para salvar. Michelstaedter participa do novo espírito expressionista que sopra sobre a Europa, nutrido pelas filosofias de Schopenhauer e de Nietzsche, e, na arte, pela superação do naturalismo. O mesmo estranhamento no que diz respeito ao Real, que induz a um contragolpe interiorizante no qual o Real se quebra ou se regenera em novas formas, é a mesma atitude, levada à exasperação, à base da lírica de Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. Mas o que aconteceu, nestes primeiros anos do Século XX, é uma revolta ainda mais totalizante, que definiria como a da insatisfação da poesia pura, do esteticismo, na qual se consumiram as experiências poéticas e literárias do final do século. Já não a pacificação e a ascese kantiana e schopenhaueriana da contemplação estética como purificação das paixões, teorizada na Itália por Angelo Conti em La beata riva – Trattato dell’obblio. Já não a arte ou a poesia como pura intuição sensível, incapaz de atingir o universal do conceito, da Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale de Benedetto Croce. Michelstaedter ironizará os "lindos versos" de Petrarca e Leopardi aceitos por todos, enquanto a amarga filosofia deles é recusada por todos. Também a poesia, assim como a filosofia, precisa se direcionar para a revelação da essência profunda da vida. Risveglio representa um dos momentos mais altos da filosofia trágica de Michelstaedter. O espaço no qual Agulha - Revista de Cultura se manifesta o evento é aquele mais usual, familiar e querido ao sujeito poético. Como a colina do Infinito leopardiano, o São Valentim é uma colina, nas proximidades de Gorizia, de muitas excursões da juventude do jovem filósofo em companhia dos amigos. No entanto, é ali, naquela realidade familiar e amada, que acontece uma explosão inaudita na interioridade do sujeito poético e aquele mundo cai em pedaços. Essa é a situação: uma idílica pausa após um passeio, as costas no gramado, o corpo jovem que sente os seus sentidos se abrirem à plenitude da vida da natureza do verão. O olhar está dirigido para o céu, lá no alto, além do círculo do vôo das andorinhas, em direção às regiões mais amplas onde se movem os falcões. O corpo é atravessado ao mesmo tempo por uma onda de bem-estar (beijado pelo sol, acariciado pelo vento, a cabeça em contato com o áspero perfume das flores e da erva) e por uma sensação de esmagamento, causada pelo abismar-se do olhar nas regiões mais azuis e mais insondáveis do céu, o reino dos pássaros de rapina. É essa a vida, este enredo entre as pulsões subjetivas e a vida da natureza, ou melhor, essa íntima fusão de ervas, terra, insetos, pássaros, sol e vento e eu? E ao redor deste eu se insinua a dúvida, a incerteza, se poderia dizer, sobre sua consistência empírica e sensorial, com respeito a um eu (transcendental? Ideal? Outro?), tanto quanto inalcançável, não possuído. O sujeito corpo/eu, levado ao alto pelo vôo dos falcões, mas prostrado no chão pela força de gravidade, vive uma dissociação entre aquela languidez dos sentidos ao qual se abandonou e o impulso ideal, místico para um mundo superior, de pura liberdade e beleza inteligível. Mas é um impulso quebrado, uma espera de vida de um sujeito despido da sua consistência de sujeito e suspenso na espera de um acontecimento que não acontece, como se tivesse sido preparado um cenário para um drama e a cena ficasse desoladamente vazia. E tudo se apaga. De repente o véu de Maya (o enredo de pesadelos) se quebra e o sujeito inteligível se descobre refém na natureza inimiga, os aspectos comuns das coisas se lhe revelam sinistros. O afastamento é total, a cisão irreparável. Qual vida desejava? De qual acontecimento ficou à espera? De qual plenitude foi furtado? Um arrepio crepuscular dissolve o encantamento da hora passando da natureza para o sujeito corpo/eu, que adverte mais fundamente a ligação da necessidade nas próprias carnes, e se sacode. O que é que faço eu aqui, inerte, estendido na erva, de qual milagre estou à espera? E é esse o despertar, a volta do inteligível para o sensível, da transcendência vazia à dor da existência, ao látego da necessidade Agulha - Revista de Cultura (frio e fome) que mantém vivo o sujeito – na medida que seja removido o triste saber do horrível vazio atrás da superfície das coisas. Carlo Michelstaedter de Poesie: Estou deitado na relva no dorso do monte, e bebe o sol o meu corpo que o vento acaricia e roçam a minha cabeça e flores e as ervas que o vento agita e o zumbido do enxame dos insetos. Das andorinhas o vôo azafamado marca de curvas rotas o céu azul e traz no alto vastos círculos o largo vôo dos falcões... Vida?! Vida?! Aqui a relva, aqui a terra, aqui o vento, aqui os insetos, aqui os pássaros, e mesmo assim entre eles sente vê goza fica debaixo do vento fazendo-se beliscar fica debaixo do sol para sugar o calor fica debaixo do céu sobre a boa terra esse que eu chamo "eu", mas que não sou eu. Não, não sou esse corpo, esses membros prostrados aqui na relva sobre a terra, mais do que eu possa ser os insetos ou a relva ou as flores ou os falcões lá no ar ou o vento ou o sol. Eu apenas sou, distante, eu sou diferente – outro sol, outro vento e mais soberbo vôo para outros céus é a minha vida... Mas agora aqui o que espero, e a minha vida por que não vive, por que não acontece? O que é essa luz, o que é esse calor, esse zumbir confuso, essa terra, esse céu que ameaça? Me é estrangeiro o aspecto de cada coisa, me é inimiga essa natureza! Chega! Quero sair desta trama de pesadelos! A vida! A minha vida! O meu sol! Mas pelo céu sobem as nuvens desde o horizonte, já roçam o sol, já à terra invejam a luz e o calor. Um arrepio percorre a natureza e rígido me corre pelos membros ao soprar o vento. Mas o que faço comprimido sobre a terra aqui na relva? Agora me levanto, agora tenho fome, agora me apresso, agora sei a minha vida, já que conheço a mesma ignorância – Agulha - Revista de Cultura a natureza inimiga agora me é querida que me dará abrigo e nutrição agora vou zumbir como os insetos. A NOITE OU DA ALEGRIA TRÁGICA Dino Campana é o único poeta italiano que diz sim à vida seguindo os passos de Nietzsche. É isso, a livro fechado, o sabor dos Canti orfici (1913). Campana é o único poeta do século XX ao qual pode ser aplicado o conceito de "alegria trágica". O mundo como fenômeno trágico, alegre, afirmativo. É essa a música secreta que percorre o livro. Não o prelúdio de Tristão e Isolda, com suas ondas de morte. Naquela música se inspira D’Annunzio no Triunfo da morte, que mistura Schopenhauer e Zaratustra, Wagner e Nietzsche. Música funérea e negadora. Nunca sendo possessivo, o Eros de Campana não conhece o seu lado escuro, Thanatos. E no entanto a alegria é trágica. Por quê? Os Canti orfici desenham a trajetória de uma subjetividade alheia à férrea necessidade à qual é sujeitada à vida individual (Michelstaedter a chamou de "retórica" e a negou através do suicídio). Campana tenta a evasão da "retórica" mantendo-se à margem das leis da "monstruosa absurda razão" (L’incontro di Regolo). A poesia para ele não nasce no interior do círculo protetor duma profissão reconhecida ou de uma segurança social que a garanta e que a delimite como um suspiro da alma ou um acompanhamento em surdina do acontecer cotidiano e tranqüilo da existência. Isso é Saba, com o Canzoniere composto por vários livros que marcam as diferentes idades da vida, o romance das relações com a cidade e os amores, a juventude, a maturidade, a velhice. Em Campana é a existência mesma que vive poeticamente a própria exclusão. Não há desenvolvimento psicológico, escansão temporal, luta, projeção afetiva. É uma poesia sem rede, uma poesia à qual faz falta o "eu". É difícil pensar que Campana pudera escrever outros livros, delinear uma careira poética, um roteiro em diferentes fases de concepção e de etapas subjetivas (como Ungaretti, Montale, Luzi ou Zanzotto). O tempo dos Canti orfici é absoluto, único, estático. Uma vez que o curso do tempo é suspenso, e na memória se desprende a visão, ocorre uma dissociação entre a subjetividade Agulha - Revista de Cultura empírica e a subjetividade poética, portanto, a esta última é impedido o retorno. A subjetividade poética infunde no real (até o mais sórdido) uma profundidade mítica, que realiza uma fusão entre inconsciente histórico, coletivo, e interioridade do poeta, que morre no puro desdobrar-se da visão. O eu desaparece: no seu lugar se superpõe a onda emocional que investe a memória e para a qual o poeta tenta encontrar um equivalente na linguagem. "Inconscientemente". Todos os Canti orfici acontecem sob o sinal da memória involuntária, pois foi a vida mesma do poeta a se transcender, no ato mesmo de ser vivida, como uma indenização pela infinita perda de si, a continua deriva do Dino Campana anagráfico perseguido pelas pastas clínicas e fugindo de si mesmo, da família, do seu tempo, da literatura e da química. A poesia de Campana nasce deste sentido de existir ao fundo, além de qualquer "retórica" existencial, na qual de golpe o mundo se ilumina como um espaço cavo e femíneo que se abre à pura sensualidade da visão. A paisagem com a qual se abre La notte é impressionante. A lembrança evoca e de golpe transfigura as imagens da visão. Como num quadro. Ler essa abertura é como se nos colocássemos frente à pintura dum grande artista e tentássemos descobrir o seu enigma. O tempo é abolido, aquela hora, aquele momento, aquela cor, aquele "refrigério de colinas verdes e brandas no fundo" da "velha cidade, vermelha de muros e turrígera, ardida sobre a planície interminável no Agosto tórrido" estão fixados uma vez para sempre, pela eternidade. Agora a relação entre tempo e eternidade, onde a eternidade tem que ser pensada como tempo imóvel, sem transformação, assume em Campana um valor bastante complexo. Note-se o cruzamento entre o final do primeiro parágrafo ("e do tempo o curso foi suspendido") e o começo do segundo ("Inconscientemente levantei os olhos para torre bárbara que dominava a avenida longuíssima dos plátanos"). O inconsciente, como já teorizou Freud, está por definição afora do tempo, ou sem tempo, ou sem desenvolvimento temporal, como a "vontade" de Schopenhauer ou a "substância" de Spinoza. A visão de Campana (ou o estupor, como se escreveu, que acompanha as suas visões) acontece então sub specie aeternitatis e o poeta é plenamente (filosoficamente) consciente disso. Somente sub specie aeternitatis a realidade miserável se exalta na sua unicidade, se impõe como presença que não pode ser transcendida e também afundada no mito, como A tempestade de Giorgione ou a Veduta di Delft de Vermeer ou a Noite estrelada de Van Gogh. A iniciação à sexualidade e à poesia é devolvida pela memória como um evento, onde o eu se desdobra, por um lado em um eu que contempla, por outro, em um eu que se move "sem consciência" no interior da visão. Percepções e imagens se juntam Agulha - Revista de Cultura num evento puro, absoluto, afirmativo, ao qual foi negada a raiz psicológica e com ela a imersão no tempo. Não existe um antes e um depois na presença das coisas, um sujeito que as ordene no interior duma experiência pessoal de mundo e procure atribuir-lhes um sentido. A procura dum sentido nas coisas pertence "à monstruosa absurda razão" (L’incontro di Regolo), à qual Campana sempre se recusou de se dobrar e de se "sacrificar". Também não estamos na reviravolta nietzschiana dos valores, numa contraposição (como alguns críticos leram a aventura campaniana) ao filiteismo da normalidade e da saúde mental. Campana não é um "poeta maldito" no sentido francês da categoria (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine) e por conseqüência também não é vidente (como, de resto, havia decretado Contini). A escuta pedida pelo seu poema é mais aquela que é preciso reservar ao místico. "Realmente há do inefável. Ele mostra a si mesmo, é o místico" (Wittgenstein). Realmente há do inefável nos Canti orfici. As palavras abrem ao redor de si um halo de silêncio. A adjetivação indeterminada – "planície interminável", "distante refrigério de colinas verdes e brandas .....", "arcos enormemente vazios de pontes" – faz nascer o poético desde a maravilha da visão que "revela a si mesma". O sujeito poético é incorporado inconscientemente à visão. A paisagem é como se fosse cava, uma imensa cavidade feminina, como se a vulva de Furibondo tivesse se transformado no mundo inteiro e cegamente envolvesse o poeta num abraço de amor e de morte. Mas esse abraço está cheio de alegria e de gratidão. Não há uma única invectiva nos Canti orfici, nem contra o seu tempo nem contra a sua sorte, da qual os poetas não são poupados (desde Dante até Rimbaud). O olhar de Campana é duma virgindade absoluta. Não é uma desordem programática dos sentidos que alimenta a sua poética. Existe, porém, um estranhamento do ato de perambular e o abandonar-se totalmente a este estranhamento. Campana é um artista trágico, no sentido esboçado por Niezsche na Visão dionisíaca do mundo. "Devoção, extraordinária máscara do impulso vital! Abandono a um mundo feito de sonho, que dará a mais elevada sabedoria ética!". Dino Campana, dos "Canti Órfici" De La notte: Lembro uma velha cidade, vermelha de muros e turrígera, queimada sobre a planície interminável no agosto tórrido, com o afastado refrigério das colinas verdes e brandas no fundo. Arcos enormemente vazios de pontes sobre o rio pantanoso em magras estagnações plúmbeas: perfis negros de ciganos móveis e Agulha - Revista de Cultura silenciosos sobre a margem: entre o deslumbramento afastado dum canavial afastadas formas nuas de adolescentes e o perfil e a barba judia dum velho: e de repente no meio da água morta as ciganas e um canto, do pântano áfono uma nênia primordial monótona e irritante: e do tempo o curso foi suspendido. * Inconscientemente levantei os olhos para a torre bárbara que dominava a alameda longuíssima dos plátanos. Sobre o silêncio feito intenso ele vivia outra vez o mito antigo e selvagem: enquanto por visões afastadas, por sensações obscuras e violentas, outro mito, também místico e selvagem, me voltava às vezes à memória. Ali embaixo tinham retirado as largas vestes brandamente em direção ao vago esplendor da porta as passeantes, as antigas: o campo entorpecia então na rede dos canais: moças com ágeis penteados, com perfis de medalha, desapareciam às vezes sobre as carroças atrás as colinas verdes. Um toque de sino argênteo e doce na distância: a Noite: na igrejinha solitária, na sombra das discretas naves, eu a apertava, ela, das carnes cor-de-rosa e dos olhos incendiados e fugitivos: anos e anos e anos fundiam na doçura triunfal da lembrança. Inconscientemente aquele que eu fui se encontrava encaminhado em direção à torre bárbara, a mística guarda dos sonhos da adolescência... De L’incontro di Regolo: Queria partir. Nunca tínhamos nos sacrificado frente à monstruosa absurda razão e nos deixamos apertando-nos simplesmente a mão: naquele breve gesto nos deixamos, sem perceber, nos deixamos: tão puros como dois deuses nós livres livremente nos abandonamos ao irreparável. FRAGMENTO LÍRICO XLV OU DA CIDADE EXPRESSIONISTA Agulha - Revista de Cultura Apenas refugiando-se na marginalização, logo na loucura, então se subtraindo ao ímpeto da Necessidade, numa espécie de amoral impulso poético além do bem e do mal, foi possível para Campana achar no canto a alegria trágica dum abandono místico-sensual à vida. É uma solução, essa, impossível para Clemente Rebora. A crise de identidade que ele vive, e que se transforma nos Frammenti lirici, é a crise da época, que já levou ao suicídio Michelstaedter, da impotência e fragmentação do sujeito com relação à objetividade perigosa de um Real ameaçador, que se revela acima de tudo no estranhamento da vida metropolitana. "De todos os objetos que Baudelaire primeiro abriu à expressão lírica, um prevalece: o mau tempo"(Walter Benjamin). E o "mau tempo" na sujeira de uma Milão metropolitana, é uma das contribuições poéticas do jovem Rebora, numa poesia de tremebundo caráter expressionista, o fragmento XLV. O sujeito poético está voltando para casa, no tardio crepúsculo de um dia cinzento, sob uma chuva cortante. O ar está atravessado por presságios desconhecidos, enquanto a noite cai sobre a cidade, abrindo-se como uma tampa sobre uma tumba. Atrás do véu da chuva, ao final de um dia cego, sem impulsos espirituais além do horizonte fechado, poeta, chuva e cidade se fundem num imobilismo alegórico de sepultura. Mas essa escuridão da hora, esse esvaziamento de sentido, percebidos com angústia pelo sujeito poético, não parecem tocar a vida frenética da multidão que invade as ruas da cidade, junto com as luzes dos faróis que se acendem. A multidão anônima da metrópole faz a sua entrada oficial na poesia italiana. E é tudo um espumejar de sopros, de olhares, de desejos que se cruzam, um fluir de vida ignara e de sensualidade incendiada e gasta em ligeiros olhares, entre os barulhos atroadores do trânsito. Todo o desejo de amor criado na espera de uma execução, de repente, se queima em olhares sem futuro, como no encontro de Baudelaire com a passante, e mais a fundo o sujeito poético percebe a solidão e a separação e o extravio e o abismo que o separa dos seus semelhantes. Um relâmpago – e depois, a noite, escreveu Baudelaire. Enorme ânsia/e brevidade do resultado, escreve Rebora. Por um instante, no cruzamento dos olhares, brilhou o relâmpago de uma reciprocidade do desejo, que logo se apagou pela impossibilidade de ser comunicado. Mas a distinção entre o poeta e a multidão é só aparente, ele mesmo é multidão, pois nada distingue ou privilegia o seu estar-no-mundo daquele dos Agulha - Revista de Cultura outros. A apinhada solidão avizinha o destino de todos na cidade moderna, num magma escuro e indiferente de comportamentos. Enquanto a primeira, longuíssima estrofe, termina com um pedido para cessar, em alguma certeza, o fluido decorrer da vida e do desejo (Vida miserável e grande/dá enfim um lugar onde ficar;/quando ser nossa não pode,/porque você nos obriga a te amar), a segunda e mais breve estrofe leva ao extremo a crise de identidade, unificando o aspecto ontológico àquele psicológico da desorientação do sujeito poético que se descobre a explorar as milhares de sombras vagantes e incertas sob a chuva. Como Baudelaire se move entre a multidão crispé comme un extravagant, assim Rebora hesita delirando entre a multidão como um bêbado, e vendo correr a sua sombra através das vitrines, a sente desprendida de si e estranha e assimilada às muitas outras sombras, naquela febre de vida e de flutuantes desejos inconclusos. Mas ele, o sujeito poético, teve a revelação do Vazio – ou melhor, do afanar-se cego do Mundo – aberto atrás do cenário usual dos corredores, das casas, das ruas e dos afetos mais caros. E o terror é que chegue o amanhã, sem levar algum esclarecimento de Verdade – dum lugar onde ficar, dum bem estável. Clemente Rebora, de Frammenti lirici (XLV) Comigo em perdidos indizíveis motos é a chuva que pinga oblíqua, enquanto sem eco de cor ignotos presságios o ar noturno distende e a tarde cega imóvel desce, quase eterna tampa sobre uma alma. Mas a hora que admoestadora a ansiosa cidade não adverte: vai emperlando de faróis os seus sulcos entre silvos ruídos estrondos, e parda se tece em um vaporar de alentos às lojas luminosas, onde furtivas nos olhos esbeltezas de mulheres e homens desejosos acendem o sangue. *** Choco-me nos breves desvios, e pelas entradas hesito delirando; Agulha - Revista de Cultura às vitrines pergunto o que sou eu, até que de rua em rua onde há menos luz dobrando entre negras formas forma negra tenho espaço; e tudo é usual pelos recônditos e as casas, e afora sou um que anda com a sombrinha ao passante com o pé atento aos vaus, e o uso igual à modelo; a ansiedade dentro emaranha o que mais se parece comigo, e onde bem tentei é um nada e os caros afetos me são vãos. Ressoa em mim: como virá amanhã? E enquanto isso vem. COMO UM SONÂMBULO OU DA STIMMUNG MINIMALISTA Baudelairiana é também a cidade de Camillo Sbarbaro. Uma cidade mais apagada, descuidada, para um sujeito poético frustrado e quase esvaziado da vontade de viver (Pianissimo, 1914). Baudelaire se movia entre a multidão crispé comme un extravagant, Rebora delirante, Sbarbaro como um sonâmbulo. É a mesma situação, o mesmo afastamento do sujeito poético do quotidiano da vida. A cidade na qual caminha Sbarbaro não é Paris, a fourmillante cité de Baudelaire, em cujas ruas acontece o choque do encontro inesperado. As ruas da cidade de Sbarbaro são moídas, atravessadas cada dia pelo enjôo e pela pobreza da própria vida, o tédio, a dor, o desespero de quem sabe que eventos memoráveis nunca se abrirão entre aquelas fachadas de casas. No entanto, aqui também se verifica um encontro com uma passante, mas não é frontal, não é através do encontro de olhares, mas detrás, o passo duma mulher visto por trás. A passante de Baudelaire também havia impresso no rosto une douleur majestueuse e levantava a orla da saia d’une main fastueuse, todos comportamentos reais, que Sbarbaro resume diretamente atribuindo à desconhecida o título de rainha. Mas, logo, repare-se numa diferença essencial. Agulha - Revista de Cultura Baudelaire é fulminado pelo olhar da passante (moi, je buvais, crispé comme un extravagant/dans son oeil) e vacila entontecido, como se o encontro não tivesse acontecido com um corpo, mas com um espírito fraterno. Sbarbaro, ao contrário, naquele mesmo momento acorda da sua vida de sonâmbulo e segue a desconhecida. O seu torpor cotidiano é sacudido pelo acordar repentino da sensualidade, da sábia música sensual que se desprende do passo da desconhecida. É um despertar de sensualidade que o poeta quer manter vivo quanto mais tempo possível. A relação instituída entre amor e glória – um amor puramente sensual, uma glória relacionada ao próprio reconhecimento como poeta – é, no mínimo, singular e relacionado apenas casualmente com aquele corpo feminino que balanceia frente a ele, mesmo que a mulher seja chamada com o "você" familiar duma familiaridade toda interiorizada, quase onanista. E sobretudo não é única, mas intercambiável com outros corpos de mulher encontrados casualmente pela rua e fixados na memória por algum detalhe fetichista. (A satisfação da sensualidade acontece, para Sbarbaro, no lupanar, que ele chama de luxuria, onde, de acordo com os dados de Pianissimo, ele vai procurar uma saída para os seus engarrafamentos de tristeza, saindo de lá ainda mais desesperado). Un éclair... puis la nuit! Esse é Baudelaire, o relâmpago de um encontro absoluto que, sumindo, deixa o poeta na nostalgia do milagre de uma execução absoluta do amor. Para Sbarbaro também se acendeu uma luz na sonolenta existência cotidiana, um éclair que, harmonizando o seu passo com aquele da desconhecida, se transforma numa espera de amor para ser carregada, dia após dia, atrás de corpos anônimos, cabelos encaracolados, asas de chapéu, lampejo de nucas em meio à multidão, uma espécie de stimmung minimalista da insatisfação e do reenvio. Mas é o que basta ao poeta para estar contente e sobreviver. Camillo Sbarbaro, de Pianíssimo (Eu que como um sonâmbulo caminho) Eu que como um sonâmbulo caminho pelas minhas ruas cotidianas, moídas, vendo-te frente a mim estremeço. Você caminha à minha frente lenta como uma rainha. Regulo o meu passo eu pronto acordado do meu sono sobre o teu que é como uma sábia música. Agulha - Revista de Cultura E possibilidade de amor e glória debruçam-se ao meu coração e o enchem. Pelos caracoizinhos loucos duma nuca pela asa de um chapéu eu ainda posso aliviar-me da minha tristeza. Eu ainda sou jovem, inocente com o coração pronto para todas as loucuras. Uma luz se faz na sonolência. Tudo está suspenso como numa espera. Já não penso. Estou feliz e mudo. Bate o meu coração ao ritmo do teu passo. FRAGMENTOS OU DA CRISE DA IDENTIDADE Giovanni Boine, de Frantumi. Frammenti. Cidade provincial. Entre gente e prédios conhecidos. Mas o extravio é da época. O poetafilósofo sai para passear cansado, na Avenida onde não há ninguém – o vazio é sublinhado duas vezes -, num vazio que aqui tem o sentido de poucos e afastados passantes. Um conhecido de repente o surpreende e o chama a si com uma saudação. É uma espécie de choque. A realidade exterior é aquela de ontem, e também o sujeito poético se exterioriza aos olhos alheios, se tornando uma coisa com nome. Coisa entre coisas. Existe um "afora" e um "adentro", uma exterioridade e uma interioridade. O nome é a casca exterior da alma. Na alma se abriu um desmoronamento que arrasta o sujeito para dentro de um abismo, do fundo do qual a Realidade se dissocia em partes não comunicantes entre elas. O ontem e o hoje – o tempo dos relógios, da linearidade, da lógica – permanecem afastados e estranhos um ao outro. Ao conhecido que o reunifica, retomando o discurso no ponto no qual fora interrompido no dia anterior, só pode ser dada a simulação (a convenção) da continuidade. Se chocam então uma subjetividade empírica, fenomênica, social, anagráfica e uma subjetividade transcendental, inteligível, afundada em si mesma, num conflito doloroso entre o finito da individualidade exposta e certificada pelo olhar dos outros e uma consciência que tende a se abrir ao infinito como uma ferida que já não pode fechar-se. No terceiro e quarto fragmento a interrogação se concentra sobre o nome, que antes é definido como um espectro através do qual são costurados juntos, numa "imóvel tumba", vários pedaços separados do tempo, e logo depois: "Morna cama do nome!", "Navio sobre o mar. Jangada de náufragos". Então o nome, a aparência, a certificação de si mesmo através "do Cartório de Anágrafe" (13) é também salvação pelo mergulho na indeterminação, no nada, na duração bergsoniana, aceitação e resignação e sujeição ao tempo do calendário. Agulha - Revista de Cultura O próprio nome, pronunciado pela mãe, é quase o anúncio de um novo nascimento quotidiano. O nome tem que ser usado como um escudo contra o medo e a desorientação. É a "mais certa riqueza" que ele tem (13). Isso lhe confirma que sempre cumpriu o seu dever, do ponto de vista da moralidade e do respeito das leis (8,11,15). Ele se protege com o dever e o Universal, mas a dissociação permanece aberta. A inquietude da alma não se acalma (25). "Meu nome é hoje, e a minha rua se chama perdida". O cenário poético-filosófico que Boine apresenta nesses Frantumi é o mesmo que se reproduz na obra narrativa do autor (O pecado) e nos ensaios. Em A ferida não fechada, título emblemático para toda sua obra, ocupando-se do Monólogo de Santo Anselmo, escreve:" O homem comum é pressionado, forçado pela cega passividade do mundo; o homem religioso pela atividade extra-vencedora de Deus. O Determinismo e a Graça. Que não são os dois pólos opostos da alegria perfeita e do terror brutal; que são um e o outro a servidão. A vida humana é um lutar, uma fuga afanosa entre dois infinitos redemoinhos obscuros". Essa "fuga entre dois infinitos vórtices escuros", entre esses "dois pólos opostos", nos quais se guarda o eterno contraste Ser e vir-a-ser, Dever e Prazer, Passado e Presente, funda uma subjetividade instável, mas servil ao jogo de dois patrões (38). "Sou desesperadamente alegre e estou sem esperança triste, Acredito com violência no Inferno e estou de fato seguro de um Paraíso". O Amor da mulher, com a sua promessa de felicidade, o leva para a concentração em um ponto de todo o ser. Desse abalo entre imperativo categórico (qualquer que seja a forma que assuma a moralidade que o fetichismo crítico sucessivo definiu como vociana) e o abandono, que foi o símbolo da geração do anteguerra, se subtraíram apenas Michelstaedter com o suicídio e Campana com uma vida de marginal, terminada na loucura. Giovanni Boine, de Frantumi Fragmentos Às vezes quando ao anoitecer passeio cansado pelo Avenida (que está vazia), um que cruzo diz, alto, o meu nome e diz:"boa noite!" Então de repente, ali na Avenida que está vazia, me dou assombrado com as coisas de ontem e sou eu também uma coisa com nome... 4) Morna cama do nome, segura casa do ontem! Macia lã das sofridas dores, parada umbrosa das distantes alegrias. Navio no mar. Jangada de náufragos. Mas o hoje é, longe, como uma catarata aberta. Nuvens cambiantes no abismal cavo do céu. Agulha - Revista de Cultura Meu nome é Giovanni e se você me chamar logo respondo. Agora e na hora da minha morte. Apenas, de manhã, me levanto da vária nuvem do sonho, minha mãe diz em voz baixa "Giovanni" pela porta entreaberta, e, quase, eu sou de novo. 17) Estudei as múltiplas ligações do meu ontem com o ontem de todos e reconheci a necessária Sociedade. Tracei nitidamente o mapa da sociedade, sobre o mapa-múndi do Universal o qual é o ontem de Deus. Agora eu consulto a cada respiro o astrolábio do universal, navegante que pega a altura do sol. 25) Meu nome é hoje, e a minha vida se chama perdida. Não tem emblemas na encruzilhada do andar e não sei se eu emboquei à direita 39) Porque minha vida não se fabrica sob projeto, pedaço por pedaço, como os prédios de pedra e não corro para um alvo cavalo em direção à meta. Não tenho futuro porque não tenho passado. Não tendo lembrança, nem esperança. 40) Chama de fornalha o meu desejo; e como o abismo da noite o meu aniquilamento. Eu não sei o que gozar, eu não sei o que sofrer. Não tenho abrigo para a dor, nem fortaleço, com reflexões, a alegria. 42) E como poderei renunciar à mulher que amo se eu não sou a não ser amor da mulher que amo! Como você quer que eu não arda para o corpo da mulher que amo se eu não tenho outro corpo a não ser o dela? 50) Ó doçura do ser a braços, lentos pela rua! Ó no sono deleite do teu corpo brando-enlaçado ao meu! Mas ai que bastou o virar de um dia. 53) E não fomos a feliz corrente de duas águas confluídas?- Mas o eterno foi um instante – E bastou o breve giro de um dia. Cada um foi no seu hoje como em fechada prisão [Novembro de 1914] Tiziano Salari (Itália, 1938). Filósofo e poeta. Autor de Grosseteste e altro (1984), Stazione (1988) e Strategie Mobili (2000). Contato: [email protected]. Ensaio traduzido por Prisca Agustoni. Página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Surrealismo & poéticas do apocalipse Contador Borges . De todas as utopias modernas, o surrealismo talvez empreendeu a mais radical em nome de uma exigência considerável: estabelecer conexão a todo custo com aquilo que de alguma forma permanece ao mesmo tempo no homem, mas inacessível a ele, esse substrato do real que a realidade esconde e que só o inconsciente, seu depositário, poderia revelar. Na esteira da revolução operada pelo pensamento psicanalítico e sua clínica, o surrealismo creditou-se a incumbência de realizar o salto seguinte, ao julgar que a razão imperiosa esconde o homem do homem e o impede de realizar-se potencialmente, urgindo, pois, recuperá-lo para si mesmo e para o mundo. Freud nos fez ver que o homem é dividido. E se a civilização ergueu tal fronteira faz-se necessário derrubá-la, o que não se faz sem o sentimento de revolta já introduzido pelas poéticas que o antecederam. Eis uma das motivações de Breton proposta no Segundo manifesto de 29: "a idéia do surrealismo tende, simplesmente, à recuperação total de nossa força psíquica por um meio que não é outro senão a descida vertiginosa em nós mesmos". Tal atitude é soberana na medida em que lança o artista numa cruzada contra tudo e contra todos pelas vias do desejo em direção ao desconhecido, de onde supostamente a "verdadeira realidade" o aguarda, tal Eurídice no pélago o canto libertador do amado. Com a diferença de que, ao contrário do mito, e contra a advertência dos deuses, a realidade aqui, apelidada Eurídice, só se cumpre de fato ao olhar para trás (vale dizer: o outro lado da fronteira). Agulha - Revista de Cultura Libertar o homem, transformar a realidade, reinventar o mundo, ideais de uma época em consonância com as descobertas da psicanálise e o alento reiterado pelas conquistas e esperanças do marxismo. Foi o suficiente para fazer transbordar as margens com seus escritores e artistas. E o ideal, por vezes cristalizado em mito (um de seus possíveis destinos) é o primeiro prenúncio da arte, para tornar-se em seguida seu emblema, sua bandeira de guerra. É com essa atitude que Breton e seu grupo se investem dessa missão nada modesta: tornar o artista porta-voz da humanidade; o artista, libertador das amarras racionais, o primeiro artífice de uma nova era, seu principal interlocutor, aquele que, dentre todos os obstáculos, estaria apto a abrir as comportas da mente, captar e distribuir seu manancial revelado em palavras e imagens. Isto antes que se pudesse, conforme a palavra de ordem de Lautréamont, nos tornar a todos poetas: "a poesia deve ser feita por todos". Essa posição, revista mais tarde por Benjamin Péret, anuncia: "a prática da poesia coletiva só é concebível em um mundo liberto de toda opressão, em que o pensamento poético volte a ser para o homem tão natural quanto a água e o sonho", suscitando o reparo de Octavio Paz em seu célebre ensaio "Signos em rotação", ao comentar o retorno e a importância da inspiração no século que acabamos de deixar. A pensar como Péret, a poesia correria o risco de se tornar supérflua, pois num mundo em que os homens se relacionem em total liberdade, sem sofrer nenhum tipo de coerção, a poesia, provavelmente, seria desnecessária. Ou melhor, a poesia seria prática, sem necessidade de ser escrita, pois confundir-se-ia com a própria vida. Paz ainda salienta, a propósito, que no fundo todo poema é coletivo, já que nele intervém a linguagem da época como um querer da própria linguagem. A dificuldade é então deslocada para o espaço da própria linguagem. É aí que a batalha se trava. E este campo é extenso e complexo. Encontra-se no mundo, mediando as relações entre os homens, habitando seus pensamentos e sonhos, servindo a todos, seja em suas criações, seja no uso dos poderes sobre seus semelhantes e as coisas. A linguagem permeia tudo. Eis o problema. Ela também pode manter o mundo como está. A aposta da arte que o surrealismo tornou capital é que a linguagem tem que ser transformada para que o mundo (e o homem) também o possam. Os homens se servem da palavra e ela pode favorecer a exploração de uns contra os outros. Com os poetas é diferente. Eles são servidores, mas da poesia, um tipo especial de linguagem que com seu poder de beleza difunde ideais libertários e de felicidade entre os homens, além de deleitar seu espírito. É a moralidade da arte. Na modernidade, a criação resulta de uma revolta contra o mundo que acaba atingindo a si mesma. O poema se converte em sua própria negação e nasce do parto de seu sacrifício. O poema é sua negação porque talvez contenha em si mesmo o sintoma da linguagem servil. Foi preciso então, como antevira Mallarmé, "dar um sentido mais puro às palavras da tribo". O poeta se rebela Agulha - Revista de Cultura contra a poesia para assim se afirmar no seu tempo e relevar seu sentido essencial, tempo sem rosto, destituído de imagem, como escreve Paz, em que o poeta precisa criar um elo com o desconhecido, e "no fundo do desconhecido, encontrar o novo", conforme o verso de Baudelaire. Esse novo, que ele busca incessantemente e que se constitui num dos maiores valores da modernidade, pode se tornar seu espelho. O risco, como se poderia supor, é esse espelho, como acontece em "Um lance de dados...", de Mallarmé, lhe devolver um rosto estilhaçado ou disforme. E essa é uma das maiores percepções da modernidade que o surrealismo ajuda a consolidar: ao buscar o homem ao fundo de si mesmo e fazê-lo refluir sobre o mundo naquilo que ele talvez possua de mais seu, ele subtrai ao indivíduo sua máscara narcísica, que revelou-se estéril num mundo massacrante e desigual. Numa bela seqüência de Orfeu, filme de Jean Cocteau, a princesa está diante do espelho; ao mirá-lo este se quebra e a personagem atravessa-o caindo nas águas que instantaneamente brotam dos estilhaços e a levam para outra parte. O sujeito já não pode se ver sem no ato dissipar sua imagem. O espelho se torna a linguagem que o aniquila tragando sua carne. O eu se dilui na linguagem. Morte para o sujeito e vida para o ser. O ser que, de acordo com Heidegger, mora na linguagem, e só a linguagem pode exprimi-lo. Assim, o eu pode ser considerado uma marca nostálgica do indivíduo na literatura ocidental. A marca de um fracasso. A prepotência do sujeito, consolidada pelo romantismo, revelou-se para as gerações seguintes mais do que suspeita: indigna da poesia. A estética da dissolução do sujeito na linguagem tornou-se assim uma etapa necessária na produção poética moderna até os nossos dias. Não é preciso lembrar Rimbaud e sua fórmula influente e poderosa: "eu é um outro". Subvertido o sujeito, a poesia defronta-se com o outro. O Outro, que na psicanálise é precisamente o lugar do inconsciente, da linguagem. As obras do surrealismo procedem no sentido de dar visibilidade a esse outro e seu mundo. São obras no mínimo reveladoras daquilo que, segundo Georges Bataille, tem "o poder de colocar a vida na perspectiva de uma explosão luminosa". O surrealismo não é propriamente um estilo e não se restringe aos limites de uma escola. Congrega uma pluralidade de vozes que encontrou ressonância em vários países do mundo na poesia Agulha - Revista de Cultura moderna do pós-guerra até hoje. Com ele, a poesia, que já vinha alimentando o sentimento da negação, ganha mais consistência na forma de uma "moral da revolta" (termo de Bataille). E talvez seja esse um de seus maiores méritos: a idéia de que a literatura e a arte podem conservar em si mesmas um permanente desejo de revolução. O método da escrita automática, mais empregado no período heróico do movimento, sem dúvida mostrou-se mais complexo do que sugeria sua aparente simplicidade, revelando-se problemático e ineficiente. Em si mesma, a escrita automática, como aponta Roland Barthes, implica uma visão idealista do homem. Eis um dos mitos do surrealismo. No entanto, não se pode negar que partia de uma hipótese tentadora: eliminar a fronteira que nos separa dos recônditos da mente. Seus efeitos na poesia universal posterior também não devem ser negligenciados, ao menos seu desejo implícito. A prática decorrente disso de uma forma ou de outra evidenciou a possibilidade de levar a poesia em direção ao desconhecido. Blanchot também acolhe sensivelmente o problema. A escrita da poesia automática nos coloca diante do imediato. Mas o imediato não é próximo. Ele "não é próximo daquilo que nos é próximo". Mas ele nos faz estremecer. O imediato é a presença de uma estranheza que em poesia pode se tornar uma forma de deriva. Eis, talvez, uma conseqüência positiva dos efeitos da aplicação deste método: a idéia de que a poesia é matriz de uma deriva e que explorar esta margem fortalece o sonho de um mundo diferente do que existe. Dito de outro modo: alimenta o sonho de utopia da linguagem, vital para se preservar a literatura como espaço de liberdade e criação visionária. Aliás, mesmo que um dia nos inibam a capacidade de sonhar, mesmo que para o bem e para o mal sejam abolidas todas as fronteiras, a subjetividade humana não cessará de produzir singularidades. Deste modo haverá sempre uma margem, pois ela é necessária à criação. É daí que o poeta projeta sua voz e entreabre ao leitor possibilidades múltiplas de ver o mundo (e até sonhar com um melhor). Se a poesia perder esta margem de exceção, provavelmente inventará outra. Quanto ao mundo, a realidade que dele se diz "concreta" pode se esvanecer em segundos. Não é o que a mídia faz com os acontecimentos? É preciso então ler a realidade nas entrelinhas do mundo. É o que faz o poeta revelando as operações complexas da margem, do silêncio e das sombras. "Todo rio é um convite ao sobressalto", lê-se em Anotações para um apocalipse de Claudio Willer. Os rios que ele vê nesse rito alucinatório transportam a própria substância do poema, que é a da revolta que substitui o mundo possível da ordem e da racionalidade instituídas Agulha - Revista de Cultura por um universo paralelo constituído das potencialidades da palavra. Isso porque os rios (seu tempo) são vistos dessa margem que o poema exalta para a reconfiguração do mundo. O espetáculo do apocalipse que o poeta assiste e revela é o do mundo transfigurado pela palavra. O narrador se coloca num ângulo extremo da sensibilidade de onde contempla sua efervescência. Mas ele também (seu sujeito) é tragado pelo movimento. Ele tem "o cérebro cortado em duas metades", e "fixa o olhar para além dos contornos". Tudo o que vê nessa divisão imposta pela vida, mas condensada no ato da criação poética, é a revelação desse instante supremo em que a realidade do mundo se transforma em outra coisa cuja materialidade tenta dar conta o poema. O resto, "são conspirações de silêncios lacrados". Se a poesia de Willer (onde as margens se pensam) revela paisagens alegóricas com certo distanciamento onde o poema é povoado não por homens e suas ações, mas pela transubstanciação de seus efeitos: "o crime é a mais bela carícia junto ao meu ouvido humano", as paisagens de Roberto Piva emergem de um cosmo mais definido, ao menos em Paranóia. O narrador é um dos elementos da urbe delirante descrita pela poesia que jorra de suas entranhas. Ele enuncia um delírio proclamado universal, sem salvação para o leitor indiferente: "eu sou uma alucinação na ponta de teus olhos". Nele falam uma cidade doente e seus habitantes que assistem a sua própria devoração pela linguagem. O poeta então indaga em coro com os anjos de sua imaginação: "cidade de lábios tristes e trêmulos onde encontrar asilo na tua face?" Mas terá ela ainda um rosto? Esta cidade vive o tempo de sua própria ruína, que, paradoxalmente também é o de sua glória. E o momento fisgado e registrado pelo poeta é como se fosse o último vivido pela cidade em vias de desaparecimento. Por isso tudo o que vive (revivido pelas imagens) é levado ao extremo. Momento em que só nos resta viver com urgência toda a glória da beleza, pois o ponto de intensidade máxima dessa poesia exasperada coincide com o momento de redenção e êxtase do poeta com sua linguagem. Tanto a poesia de Piva quanto a de Willer são poéticas do apocalipse, testemunhas desse momento universal da poesia revolta vivido pela modernidade. Poder-se-ia citar outros poetas brasileiros que também criaram suas obras sob este impacto como Sergio Lima, que faz do poema uma topografia panteísta do corpo erotizado, e Rodrigo de Haro, de fatura mais lírica e contida, em que os versos parecem escandidos por uma navalha oculta, que repentinamente surge nas mãos do poeta. Assim são as surpresas que afloram de seus poemas, que "bem escondidas traziam/ a mão seca do enforcado". Eis em todo caso sua fórmula: "sem terror, nenhuma beleza". Agulha - Revista de Cultura Se o surrealismo consagrou na literatura e nas artes a idéia da fronteira, parece também ter contribuído para preservar certa margem criadora, pois, é a partir das margens que a arte transpõe fronteiras. No entanto, caberia perguntar: Haveria hoje algo ainda intransponível que se possa chamar de fronteira? O Outro, instância do inconsciente e da linguagem na psicanálise, não se mostra cada vez "menos oculto" em nossos atos e representações, ainda que ele talvez não esteja em parte alguma, ou, quando muito, entre nós e os seres, entre nós e a linguagem? E essa questão leva a outra: ao expor-se nesse mundo fragmentário de hoje onde nem nossos sonhos estão a salvo, o Outro, reserva do inconsciente e da linguagem, não estaria também em perigo? De qualquer forma, a pensar com Foucault, num mundo sem exterioridade como o nosso, não seria toda margem um mito? Afinal, o que somos neste mundo fragmentário em que vivemos? Mundo sem exterior, onde o sonho inclusive, expropriado pela "realidade virtual" parece estar perdendo seu poder transformador, onde giramos sem sair do lugar, repetindo esquemas, padrões despejados pela mídia. Como recobrar quotidianamente a lucidez perdida? Como ainda praticar a "vidência" incensada por Rimbaud e mobilizar os fluxos insurgentes do espírito? Em outros termos, como ainda conservar para a literatura uma margem de "revolução permanente" tão cara ao surrealismo e às estéticas revolucionárias da modernidade? Em não havendo mais sujeito centrado e absoluto como acreditava o romantismo, resta em sua lacuna o processo imanente de nossa subjetividade, aberto à fragmentação do eu e às injunções do outro, assim como às diversidades do mundo contemporâneo. Processo vigoroso em curso nas subjetividades contemporâneas e nas produções artísticas. Caberá então nos perguntar de que modo "extrair da mera existência a vida?", o que mostra o quanto esta frase de Artaud soa ainda tão forte. Vivemos a diversidade e a diversidade nos ameaça (quando não esmaga). Se a fronteira a ser transposta pela arte já o foi de fato, vivemos em meio à fragmentação do mundo contemporâneo a qual, como analisa Peter Pál Pelbart em A vertigem por um fio, também se manifesta nas artes e na literatura (que herdamos da modernidade). Os poetas de hoje talvez se encontrem num mundo "sem fronteiras", algumas transpostas pela literatura e pela arte, outras inapelavelmente abolidas no processo de desterritorialização violenta imposto pelo capitalismo à subjetividade, onde noções tradicionais como "dentro" e o "fora" parecem perder o sentido. Se assim é, qual o futuro da arte e da poesia num mundo sem fronteiras e sem futuro, onde parecemos girar em falso no tempo Agulha - Revista de Cultura nebuloso e turbulento do presente contínuo? Haverá ainda margem para a criação? Sim, provavelmente, enquanto houver homens insatisfeitos num mundo em que indignar-se é o mínimo que se possa fazer. É também provável que continuemos a ouvir o "caráter inesgotável do murmúrio", como exprimiu Breton no Primeiro manifesto surrealista. Eis justamente, segundo Blanchot, a riqueza infinita da inspiração poética: o caráter inesgotável da inspiração é ela ser a aproximação daquilo que em hipótese alguma se pode interromper. A sensação de que, a despeito da dura realidade da vida, de seus muros e fronteiras, haverá vozes (haverá poesia) que falarão para sempre. Contador Borges (São Paulo, 1954). Poeta, ensaísta e tradutor. Autor de Angelolatria (1997). Traduziu Char, Nerval, Sade. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Tânia Gabrielli-Pohlmann: em defesa da música brasileira na Alemanha Solange Castro . Tânia Gabrielli-Pohlmann é paulistana, nascida em 1965. Formada em Letras pela USP, com seus 24 anos já editava o jornal Poemagia, foram editados dois livros seus e passou a desenvolver oficinas literárias em bibliotecas e escolas pelo Estado de São Paulo, dando prioridade às escolas de periferia, junto a adolescentes carentes. Em paralelo lançou a Revist’Aura, abordando todas as linhas de pensamento, causando bastantes polêmicas, como sempre, e promovendo eventos pela cidade. Além de outros projetos em bibliotecas de São Paulo e outras cidades, colaborou com muitas publicações literárias da época, recebendo alguns títulos e sendo integrada a algumas academias literárias brasileiras e portuguesas. Por alguns meses trabalhou em rádio, também dedicando espaço à literatura. No final de 92 mudou-se para Curitiba a fim de desenvolver um suplemento cultural e um ano mais tarde foi convidada a desenvolver o programa de ação cultural do consulado de Angola em Curitiba, que estava sendo estruturado naquele ano. No final de 1994 voltou a São Paulo e nesse período investiu numa editora, lecionou inglês, alemão e português para estrangeiros, além de ter dado início à série de dicionários e gramáticas, que vem concretizando na Alemanha. Assim foi até agosto de 1996. Os três anos seguintes foram uma lacuna em sua vida, por problemas de saúde. Em dezembro de 1999 casou-se na Alemanha. Nos anos de 2001 e 2002 foi classificada nos concursos da Nationalbibliothek des deutschsprachigen Gedicht, München - Biblioteca Nacional de Agulha - Revista de Cultura Poesia em Língua Alemã, em Munique; os trabalhos estão publicados nas Antologias correspondentes. Fez alguns cursos de equiparação universitária e num desses cursos foi convidada a participar de um projeto na então OK Radio. A partir deste projeto surgiu a proposta de produzir e apresentar um programa sobre o Brasil. Lançou, com Clemens Pohlmann, o programa "Revista Viva", com entrevistas, comentários de livros, CD’s e publicações em geral sobre a cultura mundial, além de um espaço fixo e exclusivamente dedicado à nossa literatura, história, música e cultura em geral. Alguns meses mais tarde foi convidada a apresentar um segundo programa, paralelo ao "Revista Viva", que teria duas horas de duração, mas decidiu dividir o espaço com Clemens. Passou a apresentar o "Brasil com S" e Clemens, o "Musika - die schönste Sprache der Welt", cada um com uma hora, em alemão, ao vivo e sem intervalos. Desde setembro de 2000 leciona português na VHS, uma faculdade aberta em Osnabrück. Está desenvolvendo um trabalho junto à Ekkart Verlag (Ed. Ekkart), redigindo resenhas, promovendo leituras literárias, apresentando seminários e palestras a respeito da cultura brasileira. Além dos programas de rádio, e das dicas culturais internacionais (locais) na OS Radio, encabeça um projeto de integração a estrangeiros residentes em Osnabrück e região. Oferece cursos de corte digital e acompanha programas nascentes, com auxílio técnico e em parceria com Clemens. Está estruturando um projeto de intercâmbio cultural Brasil-Alemanha. Mas isto ainda está sendo estudado, o material tem sido selecionado e posteriormente será vertido para o alemão. Em entrevista exclusiva e apaixonada, Tânia coloca seus ideais e seu respeito pela cultura… E ainda nos fala: "Muita gente me pergunta porque não publiquei mais livros meus, além dos didáticos. Pois é. Tenho muito material engavetado. Mas por enquanto estou dando prioridade aos dicionários e gramáticas, a fim de que continue a manter a criançada carente na escola. Se não investirmos no futuro de nossos piás, quem é que vai ler nossos livros amanhã??? Não dá. Também tenho questionado muito a literatura atual. Para quem escrevo? Será que meu trabalho consegue desempenhar sua função social, além da artística? Se escrevo só para literatos, como é que posso lidar com o conflito interior, que me faz pensar naqueles que mal sabem ler e escrever? Se fecho meus olhos a essa problemática, vendo-me à simples vaidade de ser aplaudida por um público seleto? Isto temme levado a calar um pouco. E a repensar a função do artista." SC - Tânia, as diferenças culturais entre o povo latino-americano e o europeu são enormes - como você percebe o "cuidado" com que Agulha - Revista de Cultura o povo brasileiro e o alemão com suas culturas? TGP - Sim, as diferenças são imensas, mas não podemos lançar mão dessas diferenças para alimentarmos nosso complexo de inferioridade, não. Infelizmente o povo brasileiro acabou ingerindo o conceito de que é inferior e dependente culturalmente. Para os brasileiros mesmos que torcem o nariz para nossa cultura, seria muito bom que pensassem, antes, nos recursos que o artista em geral tem em suas mãos… E que não se esquecessem de que nosso país é muito jovem e que, apesar disto, não deixa tanto a desejar frente à cultura de outros países, embora a maioria insista em afirmar o inverso. Falar de cultura alemã, Solange, é falar de história. E de fragmentos. Cada estado alemão tem sua autonomia - política, cultural, pedagógica… O povo alemão continua buscando sua identidade, sua integridade. Ouve-se até com muita freqüência o alemão ocidental se referindo ao oriental como sendo "lá do outro lado". Ainda não é um povo homogêneo. Está em processo de readaptação, após a queda do Muro. Conversando com autores e editores alemães, fala-se muito, ainda, na lacuna literária, por exemplo, provocada pela queima de livros que os nazistas realizaram. Esta lacuna ainda persiste; o alemão ainda não se recuperou deste choque. É um povo que se volta mais para os sentires de uma forma intensa e simples. A partir do Plano Marshall a Alemanha Ocidental se viu diante do desafio visceral de efetivar sua capacidade de reconstrução sem se tornar dependente dos EUA, mas por outro lado teve que engolir por muito tempo uma gratidão advinda de uma falsa solidariedade. Uma das conseqüências foi a rejeição a tudo que não fosse alemão. Essas contradições todas foram se refletindo na cultura e gerando um certo temor no tocante à ousadia. No período pós-guerra o que havia culturalmente era uma total desorientação artística. Os alemães estavam mais preocupados em reconstruir o que fosse possível em seu país. O que acontecia no exterior não tinha muita importância, em função da urgência de se reestruturar nos setores mais básicos. Agulha - Revista de Cultura O Brasil começa a tomar consciência de sua importância e de sua capacidade culturais, embora falte ao artista em geral a simplicidade e a interação social mais concreta. A Alemanha procura manter suas tradições, mas tem-se visto obrigada a se adaptar a mais um fenômeno, aliás, inédito antes da Segunda Guerra: a migração. Há um tempo agarra-se a seu potencial tecnológico e ha outro tempo envergonhase um tanto pela ainda "inocência" artística atual, por ter parâmetros como Goethe e por não conseguir mais atingir tal nível. Um dos cuidados maiores que a Alemanha tem para com sua cultura é com o teatro, com a música clássica e a preservação da tradição histórica. SC - E como o alemão recebe a cultura latino-americana? TGP - A cultura latino-americana é recebida, num primeiro momento, com uma certa incredulidade. Ironia, até. A mídia inseriu no conceito alemão as imagens de pobreza, de analfabetismo, de falta de seriedade e de corrupção como únicas existentes na América Latina. E sobre tais imagens há muitos alemães desenvolvendo "projetos sociais em prol do terceiro mundo", que na verdade não desempenham papel algum a não ser o de ganhar muito dinheiro às custas dessas imagens. Enquanto isto os nativos que desejam realmente desenvolver um trabalho sério, de esclarecimento, não conseguem voz ativa a não ser com muito esforço voluntário. Existem muitos projetos sociais bastante positivos também, não posso generalizar… A música, no entanto, vem abrindo caminho para a história e a literatura latinoamericanas. Quando cheguei, em dezembro de 1999, a salsa estava em intensa evidência. E tudo o que entra em evidência na Alemanha, acaba gerando interesse de aprofundamento através de leitura, de discussões, de seminários. As universidades têm obtido bastante procura aos cursos de "Ciências Sociais dos Países da América Latina"… Após o famigerado 11.09.2000 têm-se aberto discussões em torno de culturas estrangeiras com maior profundidade. A Alemanha está tentando se adaptar a este novo país que começa a mesclar culturas, cores, linguagens. Existe um interesse até que relativamente intenso - especialmente da parte de jovens - com relação à América desconhecida. Na faculdade onde trabalho temos grupos de discussões semanais; temos conseguido promover muitas leituras, workshops, palestras, matérias para a imprensa. Na OS Radio também temos conseguido desenvolver um trabalho Agulha - Revista de Cultura bastante intenso que está começando a exigir espaço também a culturas de outros países. SC - Você trabalha numa rádio - qual o tipo de música que o alemão prefere? TGP - O alemão está começando a se interessar por extremos: do blues à salsa; da clássica à música árabe. Desde que ele conheça a história do respectivo país… (Aqui aproveito para complementar minha resposta anterior.) O rádio alemão tem decaído demais em qualidade. O que se ouve nas chamadas "rádios de massa" comerciais ("ffn", "Antenne", etc) são regravações dos sucessos dos anos 80 e 90, mesclados à ainda menos interessante e querida música popular alemã, além de muita música descartável norteamericana - um terror… Tenho percebido que o público tem dado preferência a rádios "multiculti", como é o caso da OS Radio e da Deutschlandfunk, que apresentam não apenas blocos musicais, mas que trazem em sua programação muitas discussões, muitas resenhas, entrevistas. Estamos conseguindo chamar a atenção ao desestigmatizarmos um pouco os países latino-americanos. Causo espantos bastante positivos quando mostro que Brasil não tem só samba e que a salsa não é um ritmo genuinamente brasileiro (!!!). Um exemplo: apresentei três especiais Bossa Nova no "Brasil com S", intercalando música e história. Tinha no estúdio alguns músicos, estudiosos e curiosos, que ficaram completamente fascinados com o que ouviram. Mas é um trabalho árduo, pois tenho que lançar mão de uma linguagem simples, elucidatória, exata. Em paralelo fui, como sempre, inserindo o cenário histórico e dados biográficos de cada compositor, de cada intérprete. Também por isto é que sempre insisti em apresentar os programas todos em alemão. SC - E como ele recebe a música brasileira? TGP - O alemão adora o samba, mas temse mostrado bastante curioso a respeito de outros ritmos. O que mais o fascina, além do panorama histórico, é a capacidade que o brasileiro tem de explorar os mais diversos ritmos. Tivemos (Clemens e eu) um retorno bastante positivo, por exemplo, ao dedicarmos duas horas ao trabalho de Oswaldo Montenegro. Clemens apresentou o CD "Telas" em seu programa "Musika - die schönste Sprache der Welt" e eu mesclei trabalhos seus de diferentes estilos e épocas no "Brasil com S" que entra no ar em seguida. No "Revista Viva" apresentei uma Agulha - Revista de Cultura série, abordando os sons de norte a sul do Brasil. Cada intérprete ou banda com pelo menos duas canções de estilos bem diferentes. Da música tradicional gaúcha, atravessando o Brasil e parando lá em Rondônia, com uma faixa do CD "Suíte Amazônica", de Gabriel Cursino Madeira Casara, um garoto que gravou este CD de música clássica por ele composta aos 15 anos. Esta viagem contou, ainda, com enfoques históricos e literários regionais. Este tipo de trabalho tem chamado muito atenção, pois o alemão está acostumado a ouvir o samba como único ritmo que temos. SC - Em termos de "poesia', a nossa "toca" o povo europeu? Ele consegue "sentir" e/ou "perceber" as inúmeras preciosidades da nossa literatura musical? Citando um exemplo (seriam infindos este é só um que acabei de ouvir…), uma grande do Chico Buarque: "… Passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão"… TGP - Consegue "sentir", mas exige muito mais. É preciso elucidar. E quando ele entende o que está sendo cantado, fica entre perdido, confuso e encantado. O alemão não convive muito intimamente com figuras de linguagem, mas tem-se mostrado bastante inclinado a mergulhar neste universo. Trabalho muito com música em meus cursos e me chamou a atenção a questão do "tocar". Fico pensando até que ponto o povo brasileiro consegue perceber as nossas preciosidades… SC - Agora sobre a literatura - qual o estilo de leitura preferido pelo alemão? TGP - É um povo que lê muito e de tudo. É difícil dizer qual o estilo preferido. O que percebo, através da própria imprensa especializada, é que o romance (especialmente histórico e policial), o ensaio, o conto e a biografia ficam bem à frente da poesia. A História, a Sociologia, a Política e ultimamente livros especializados na questão islâmica e em outras religiões têm encontrado um público ávido. Nunca vi uma livraria ou uma biblioteca vazia, aqui. A qualquer hora do dia. (Aliás, as bibliotecas municipais cobram uma anuidade de €30…) Em qualquer lugar onde se tenha que esperar, seja consultório médico, ônibus etc., só se vê alemão lendo. SC - E existe algum tipo de incentivo para as crianças lerem ou é uma coisa puramente tradicional, familiar? TGP - A criança alemã tem dois companheiros inseparáveis (que a acompanham por toda a vida): a bicicleta e o livro. Brinquedo pedagógico para bebês também significa livro, a fim de que a criança se acostume ao formato, ao manuseio, ao contato físico. Agulha - Revista de Cultura Ler é um ato tão natural como qualquer outro. O investimento na literatura infantil é imenso. Todos os centros culturais aqui em Osnabrück, por exemplo, mantêm horários semanais para leituras infantis. A televisão mantém, até hoje, programas infantis educativos diários, como é o caso do Vila Sésamo, que hoje (08.01) está completando 30 anos. Um dos fatores intensificadores da leitura é o clima… A criança alemã é muito solitária e tem praticamente dois meses de verão com direito a sol. A leitura acaba sendo sua válvula de escape, mesmo com Internet à disposição. E o sistema de ensino alemão deixa muito mesmo a desejar, mas tem um aspecto bastante positivo, apesar de criticado internamente. As aulas são interativas e o aluno é avaliado não apenas em provas escritas e orais, como ao longo do semestre, com relação à sua participação em sala de aula. Para participar é obrigado a pesquisar por conta própria, já que o professor não tem uma postura muito ativa… SC - Em termos de cinema e teatro, qual a preferência do povo? TGP - O que está lotando os cinemas por aqui é Harry Potter… Mas também há muitos centros culturais que apresentam o cinema mundial. No ano 2000 tivemos um mês inteiro só de cinema brasileiro no Lagerhalle, um centro cultural que vive abrindo espaço para nossa cultura. Em termos de teatro, depende da região. Aqui na Baixa Saxônia, por exemplo, o que ficou por muito tempo em cartaz foi "Elizabeth" - uma abordagem históricobiográfica da imperatriz Sissi. Este ano tem muita coisa interessante, mas o que tem chamado a atenção do público é "Esperando Godot", com Harald Schmidt - um comediante bastante conhecido aqui, que apresenta um talk show na SAT.1, idêntico ao formato do Jô Soares 11.30. E o "Rei Leão"… Musicais e monólogos também têm público fiel na Alemanha. SC - Tânia, aqui no Brasil nós vivemos um problema seríssimo que é o Jabá - isso existe na Europa? TGP - Não posso afirmar com segurança. Tenho ouvido coisas a respeito, com relação às rádios de massa, mas supor não é saber… Só posso afirmar que a OS e a Deutschlandfunk estão fora disso pela própria legislação. SC - Aqui os "modismos inventados para fazer dinheiro" invadem as rádios e impedem que nossa verdadeira música de chegar ao nosso povo. É assim aí também? Agulha - Revista de Cultura TGP - Naturalmente aqui é assim, também, nas rádios comerciais. Há pouco falei a respeito da decadência do rádio alemão. O público tem-se voltado às rádios institucionais, como as duas que citei e em paralelo tem ouvido mais CD’s. Sendo assim, não se pode afirmar que o que se ouve nas rádios representa a preferência do público. E no Brasil esta invasão de modismos também não representa a preferência do povo brasileiro, mas talvez a manifestação de uma rejeição provocada pelo não acesso ao teor intelectual da nossa verdadeira música. Não se pode exigir de um povo que não tem direito a escola que ele assimile a arte. Mas se pode exigir do artista que desça de seu pedestal e que tente dar ao seu público potencial uma chance. Hoje a literatura, por exemplo, é privilégio de poucos. E a outra facção do público que tem vontade de ler, mas que não tem condições - financeiras e intelectuais quem é que se preocupa com este leitor? Há muitos anos tenho ouvido de escritores, infelizmente, que o povo brasileiro não gosta de ler. Com este tipo de afirmação fica-me claro que tais escritores simplesmente não conhecem seu próprio povo. Não consigo engolir tal desculpa. Promovi muitas leituras, discussões e workshops em colégios de periferia em São Paulo e em cidades do interior. Mesmo quando se fala que a biblioteca é a solução para quem não tem condições de comprar um livro, não se pensa que esses leitores precisam apenas de orientação. Esta função não cabe apenas ao professor… SC - O que você acha de Gilberto Gil ocupar a pasta do Ministério da Cultura? TGP - Têm-me perguntado isto aqui, também. Gilberto Gil é UM ARTISTA muito respeitado na Alemanha. E respeito muito, também, seu trabalho. Mas creio ser cedo demais para falar a respeito. Só posso afirmar que a imprensa daqui está acompanhando isto tudo. E se ele quiser que sua carreira internacional continue tão respeitada, vai ter de fazer um trabalho digno de um respeito ainda maior. Torcidas não faltam… SC - O que você acha do comportamento do Governo dos últimos tempos (ou de todos…) com a cultura brasileira? TGP - Até hoje me pergunto como é que eles conseguem dormir… E como é que nós conseguimos sobreviver… É melhor não responder, Solange. SC - Já que estamos com uma nova proposta social e nos é permitido sonhar, o que você vislumbra para nossa cultura? TGP - A nova proposta social está aí, mas ainda é preciso muito Agulha - Revista de Cultura tempo para se vislumbrar resultados positivos. Será necessário ter muita "paciência ativa". O que realmente sonho para nossa cultura continua sendo o mesmo de sempre: que o brasileiro pare um pouco de se deslumbrar com tudo o que vem de fora e que passe a olhar com um pouco mais de delicadeza para seu próprio potencial. E que cada artista seja responsável por este processo, devolvendo ao povo brasileiro a liberdade real de escolha. Solange Castro (Rio de Janeiro, 1956). Produtora cultural. Criou e dirige o projeto virtual Alô Música. Contato: [email protected]. Página ilustrada com obras da artista Paula Rego (Portugal). retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Os abismos perversos na pintura de Paula Rego Maria João Cantinho . Habituámo-nos a ver a pintura de Paula Rego nas obras de Adília Lopes, em Augustina Beça Luís, daí que a sua estranheza tenha sido, de alguma forma, amenizada por incorporar obras de carácter público e, mais do que isso, de grande poder mediático. Esse é um dos efeitos perversos que surgiu enquanto consequência da consagração da sua obra, tanto nacional como internacionalmente. Por isso, num país em que a arte continua a ser vista como produção de uma elite e os casos de sucesso são escassos, Paula Rego é indubitavelmente um dos mais valiosos exemplos de pintura portuguesa. Não obstante, suscita alguma polémica o facto de não residir em Portugal, mas em Inglaterra, e a principal galeria onde expõe é uma galeria inglesa. Além das retrospectivas da sua obra organizadas em Portugal, tanto pela Fundação Calouste Gulbenkian como pelo Centro Cultural de Belém, o seu último trabalho exposto em território português foi já em 1999, um ciclo intitulado O Crime do Padre Amaro, uma série de quadros que tinham como tema ou motivo a obra homónima de Eça de Queirós. Paula Rego nasceu em Lisboa, em 1935 e, entre 1945 e 1951, frequentou a St. Julian’s School de Carcavelos. A partir de 1952 frequentou a escola de pintura Slade School of Art, em Inglaterra, onde conhece o futuro marido, o pintor Victor Willing. De 1957 a 1963 viveu com Victor Willing, com quem, entretanto, casara, na Ericeira. No mesmo ano é-lhe atribuída uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa e, entre 1963 e 1975, vive entre Agulha - Revista de Cultura Londres e Portugal. Esse período é, sem dúvida, importante, tanto na sua obra como na sua vida, permitindo-lhe sair da pequenez do país e do isolamento cultural em que se vivia. Em 1983, Paula Rego torna-se Professora convidada de Pintura na Slade School of Art e em 1988 faz a apresentação da Retrospectiva da sua obra na Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa e na Serpentine Gallery de Londres. Em 1990 é nomeada primeira artista associada da National Gallery de Londres. Artista de trabalho prolífico e regular, ela expõe frequentemente séries de novos trabalhos e revela uma actividade imparável, pautada pela excelente qualidade do seu trabalho, sempre favoravelmente acolhido pela crítica. Quando Deleuze fala da obra de Francis Bacon, em Francis Bacon, Logique de la Sensation, utiliza uma expressão que parece ajustarse perfeitamente à pintura em geral e à de Paula Rego, numa concentração intensa: "não se trata de reproduzir ou de inventar formas, mas de captar forças." (sublinhado meu). E, ainda que a expressão possa aparentar-se com um lugar comum, o certo é que, ao olhar-se a pintura de Paula Rego, o incómodo e a inquietante presença dessas forças actuantes activa-se, sob o olhar do espectador mais desprevenido. As suas figuras são grosseiras e, não raro, grotescas, pois é no campo de uma indecibilidade entre o humano e o animal que elas emergem, na maioria das vezes, configurando-se como seres habitados por uma espantosa força sexual. A proximidade do trabalho da pintora com a linguagem do automatismo gestual aparece desde cedo, mercê da influência do surrealismo e dadaísmo. Paula Rego deixou-se fascinar pelo automatismo surrealista e privilegiou a arte produzida a partir da imaginação não dirigida, permitindo um jogo mais livre das faculdades e rompendo com o habitual determinismo que se apresenta na relação entre o pensamento e o gesto. É a partir deste contexto do automatismo e da produção de uma imagética espontânea, tal como foi defendida pelos principais surrealistas, não apenas ao nível da escrita, mas aplicando-se também às artes plásticas, que deve ser lida a obra de Paula Rego que se interessou, igualmente, pela collage e pelo seu manuseamento. Desta, a autora reteve o gosto pela imagética que cruza fragmentos e palavras, partindo para a utilização de histórias completas, tomadas como dispositivos partilhados, lugares de comunicação entre o interior e o exterior, formas de comunicação que permitem passagens entre o privado e o público, o individual e colectivo. Agulha - Revista de Cultura Ainda que as histórias de Paula Rego sejam bem conhecidas, é necessário frisar que a relação das suas pinturas com as mesmas raramente consubstancializam uma mera ilustração. É ela própria quem esclarece, dizendo que, muitas vezes, já se encontra a desenvolver o trabalho quando encontra a história "no caminho", incorporando-a, isto é, nomeando uma imagem como elemento de uma história, utilizando essa imagem para comunicar e configurar a ideia. Assim aconteceu com As Criadas, utilizando a história verídica das irmãs Papin – e que tanto fascinou Genet e os surrealistas, pois aparentemente tratou-se de um crime sem motivo, o que constituiu uma causa célebre na época - que assassinaram a mãe e a filha de uma família abastada de Paris, por volta de 1930. Exemplo da utilização que Paula Rego faz de narrativas já existentes, o quadro constitui-se como uma apresentação (e uma reflexão) sobre o poder e a transgressão, pois as criadas usurpam o poder pelo assassínio. No quadro A Família, que sugere uma intrincada sequência de relações entre os vários elementos, articulada por uma série de imagens unificada por uma narrativa (semelhante, na sua estrutura, ao quadro anteriormente citado). Neste, trata-se da relação da mulher e dos filhos com o homem e a situação reveste-se de uma ambiguidade perturbante, não deixando perceber se a família ajuda ou ameaça o homem. A sua pose e passividade permitem pensá-lo como um Lázaro, enquanto outros elementos do quadro sugerem uma ambiguidade e uma indecibilidade latentes e actuantes num duplo registo: no oratório português, ao fundo, S. Jorge mata o dragão e na sua base, uma garça-real, tanto pode estar a alimentar como a atacar uma raposa. Codificando e comunicando as histórias mediante imagens visuais fortíssimas, Paula Rego raramente procura encontrar narrativas já estabelecidas, preferindo trabalhar com histórias que fazem parte de si mesma, com as quais cresceu, conferindo-lhes significados e reconhecendo-as como repositórios de conhecimento e de poder exteriores aos modelos tradicionais, fazendo-as funcionar mais pela manipulação e subversão, do que propriamente pela dominação e uso convencional. Abrindo-se à possibilidade de um múltiplo funcionamento dessas narrativas, opta por um reconhecimento da sua autonomia e segue-as nesse movimento, à sua vontade própria. Muitas vezes segue, também, (re)trabalhando e (re)combinando materiais que, gerando outros conjuntos, funcionam como chaves ou aberturas da experiência individual ou partilhada. Os motivos estabelecem cadeias e sequências de conteúdos significativos, comunicando de quadro para quadro, do Agulha - Revista de Cultura artista para o quadro e para nós. Só para referir um exemplo cito o cão (aparece logo nas primeiras obras da autora), como "chave", que transmite e dá forma a um conjunto específico de preocupações de ordem variada. Em 1986, Paula Rego deu início a uma série de quadros cujo título é Menina com Cão. Iniciando-se com a imagem de uma menina a dar de comer a um cão, esta série coloca o cão à mercê dos tratos (ambíguos) de uma menina. O cão parece, à partida, um animal de estimação, mas é, ao mesmo tempo, uma boneca, um bebê e um homem, sendo a conotação claramente explicitada em Uma Menina a Levantar as Saias para Um Cão. Paula Rego põe em jogo uma série de elementos iconográficos que interagem entre si e originam uma sequência de acontecimentos narrativos e simbólicos, portadores de ideias como o amor, a confiança, o medo e a dominação. No ano seguinte, ela continuou a desenvolver a história do cão, onde explora e encena as tensões estabelecidas anteriormente. Em Armadilha o tema da dominação reaparece e na sua obra A Pequena Assassina, o cão ameaçado desapareceu do enquadramento da pintura. Muitas das categorias do cão, tomado como elemento iconográfico de relevo, reaparecerão em obras posteriores, com novas combinações e significados, mostrando-se nesse horizonte de indecibilidade de que falei anteriormente. Em algumas obras, o cão assume um papel humano ou, mesmo divino, o que lhe confere a ambiguidade própria de um conceito tensional que nunca se deixa aprisionar enquanto categoria, mas que funciona no interior de uma metamorfose que se cumpre no quadro da imagem. Daí que uma tensão esteja sempre presente nos seus quadros. Uma outra questão, que decorre desta é, sem dúvida, a da identidade e da sua complexidade, enquanto identidade individual. Na sua obra A Dança, uma pintura que representa algumas pessoas a dançar numa praia, para escolher um caso representativo, a preocupação com a construção da identidade parece converter-se na força motriz essencial do quadro, pois este trabalho revela as diversas modalidades que uma mulher tem, em que se desenvolve e se afirma, procurando estruturar a ideia que faz de si mesma. Ela distingue-se dos outros, reservando para si um espaço composicional à parte e olha-nos, constituindo o seu olhar uma multiplicidade e variedade de modos diferentes de ser enquanto mulher, concentrando um gesto de procura e conhecimento de si própria. Esta identidade, porém, constrói-se pela luta, ou melhor, num conflito, pois todos os seus quadros em que a questão da identidade se coloca, se configuram na luta, muitas vezes, ocorrendo violentamente e não sem a embriaguez e o inebriamento das pulsões vitais e físicas, algo que é tão consonante e familiar ao espírito do surrealismo. Agulha - Revista de Cultura Numa conversa com Fiona Bradley - catálogo da retrospectiva da obra da artista, para o CCB, em 1999 -, Paula Rego fala do prazer da criação, aliado ao da destruição, o que a coloca justamente numa linha de força próxima de Georges Bataille, quando afirmava que a primeira motivação para a arte é o desejo de destruir, mais do que o de decorar o vazio do suporte onde emerge a obra. Daí que não possa pensar-se o gosto e fascínio da pintora pela violência, desligando-o do seu contexto: uma raiva destrutiva que é fonte e magma da criação, raiva que é posta como ruptura fundante, ao nível do conceito de identidade das figuras representadas. Muitas das histórias que a pintora cria são tecidas em torno da família e das relações internas que se criam no seu interior. Paula Rego pinta crianças que lutam com os pais para alcançarem a sua identidade própria, constituindo a sua fragilidade e simultânea ferocidade um reconhecimento das pulsões edipianas e inconscientes, que aparecem sob a forma de figuras humanas e animais, simbolizando os conflitos de ordem sexual. A fisicidade das suas figuras femininas é outro elemento iconográfico que marca a violência da pulsão sexual. Com a série de Mulher-Cão (1994), a pintora assimilou uma estranha história de que ouviu falar, a história de uma mulher que vivia sozinha com os seus animais numa casa enorme, perdida algures no meio das dunas. Quando o vento soprava, a mulher ouvia a voz de uma criança na chaminé, que lhe dizia para matar todos os animais. Enlouquecida pelo vento, a mulher põe-se de cócoras, abre a boca e engole todos os animais. A recordação desta história acudiu-lhe durante uma sessão de desenho e daí nasceu uma figura que resultou como uma mulher-cão, em parte proveniente da história que ouvira, mas sobretudo como o início de um novo ciclo de mulheres solitárias e de aparência feroz, cuja natureza visceral e sexual salta à vista. Esta ligação visceral ao corpo e a uma força sexual intensa habita muitas das suas figuras, sobretudo a partir dessa série. Porém, a série de mulheres-avestruzes, sendo extremamente físicas, revelam aspirações espirituais que as afastam das mulheres-cão, essencialmente agarradas à terra. Há um aspecto que ainda não foi aqui referido e que o marido da pintora, o igualmente pintor Victor Willing, já falecido, chama a atenção. É a relação entre a extrema complexidade das suas histórias, que parece proporcionar-nos, muitas vezes, o acesso a uma obra, não raro hermética e fechada no seu simbolismo, e a Agulha - Revista de Cultura lógica que lhe é própria, não a deixando perder nunca o pé na construção das suas narrativas. Os elementos básicos que lhe presidem (e se repetem amiúde) e que são mais persistentes, ao longo da sua obra, são o tema da Dominação o do Tempo Passado. Se a dominação assume diversas formas, como nas lutas entre a criança e o pai, do indivíduo pelo Estado, da psique pelo sonho ou ideal, da personalidade pela paixão, da consciência pela culpa, as agressões que dela resultam geram a violência das suas representações, violência que se confunde com a da artista, ao realizar a imagem no quadro. Muitas vezes, esses paradoxos resultam numa crueldade e obscenidade que daí resultam, em toda a sua força. E essa violência orgiástica confunde-se, nasce dela e funde-se nela, com a frequente alusão ao passado. Não se trata de um retorno nostálgico que se apresenta na sua obra, de uma tentativa de restituição da aura, mas o que a pintora faz é comentar ou aludir ao passado no presente: o exilado, por exemplo, recorda o seu cão, a sua noiva ou a sua força; o derrotado relembra a esperança antiga e os seus projectos; o adulto, os seus medos de infância. A visão das crianças, na obra de Paula Rego, nunca se faz concreta nas suas formas mais adocicadas ou ternas, das habituais representações, mas sempre como o acesso ao terror (concentrando uma violência intensa), o qual é domesticado de forma simbólica, pelo acto de representar. A infância constitui um dos seus elementos emblemáticos e iconográfico por excelência. Não diz apenas respeito ao estado da inocência e descoberta dos instintos da sexualidade e da dominação, mas configura-se igualmente como um estado de conhecimento, que é também um espaço de poder (sobretudo a partir da década de 80, em que o político invade a esfera do doméstico, na sua obra). E o espaço da infância é privilegiado pela autora: a casa, em especial a nursery, são zonas frequentemente representadas, espelhando nelas as complexas relações de dominação e transgressão, já aqui referidas anteriormente. Se bem que a figura da menina, na sua obra, conheça os seus precedentes marcantes (tais como o erotismo das meninas púberes de Balthus e as jeune filles de Max Ernst, com as suas conotações do psiquismo inconsciente), as meninas de Paula Rego nunca exploram as origens psíquicas, mas o que a artista faz ou procura fazer é expôr, de um modo inabalável, esse passado silenciado que assombra o presente histórico. Elas, as suas obras, são explorações e personificações de complexos estados emotivos e psíquicos, estados esses que remetem para a infância, mas que também agarram a vida psíquica adulta: como podem coexistir e coabitar a vaidade e a vergonha? O sentimento de poder e o embaraço que daí resulta? O amor e o Agulha - Revista de Cultura medo, jorrarão eles da mesma fonte? Do que é que se está a falar quando nos referimos às relações complexas que se estruturam no interior da família? A inquietação, como se pode ver, ao longo da minha análise, é o elemento central de toda a sua obra, crivada nos paradoxos de que o quadro se faz revelação. O simbolismo e o dualismo sempre presentes, na sua ambiguidade, são magistralmente trabalhados enquanto imagens pictóricas, prometendo-nos um acesso que nunca nos será inteiramente oferecido. Persiste, nas suas imagens, o gosto da decifração, pelo (re)trabalhar e contínua redisposição dos motivos iconográficos que nos abrem as suas obras, como chaves de significado, permitindo essa remissão de um quadro a outro, da autora para o quadro e, por sua vez, do quadro até nós, esperando a nossa atenção. Maria João Cantinho (Portugal, 1963). Filósofa e ficcionista. Autora de livros como A garça (2001) e O anjo melancólico (2002). Contato: [email protected]. Agradecimentos da Agulha e de Maria João Cantinho à Marlborough Fine Art, de Londres, na pessoa de Lyndsay Fielding ([email protected]), pela cessão de direitos de reprodução de todas as obras de Paula Rego que ilustram, na condição de artista convidada, a presente edição. As reproduções foram digitalizadas a partir da edição de Paula Rego (Tate Publishing, Londres, 2002), de Fiona Bradley. retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura . revistas em destaque . .. digestivo cultural (brasil) diálogo entre editores: julio daio borges & claudio willer Em Agulha já foi comentado, várias vezes, o risco representado pela concentração e pelo crescimento dos monopólios de comunicação, especialmente para o Brasil, país cuja legislação é frouxa, tornando-o uma preferência eletiva de aventuras irresponsáveis e empreendimentos temerários (bastando observar o que se passa, neste país, com a televisão paga, a cabo, com as redes de TV, e com a telefonia, inclusive em sua intervenção na transmissão pela Internet). Nesse contexto, é um motivo de satisfação apresentar Julio Daio Borges do Digestivo Cultural, www.digestivocultural.com/blog/. É o típico free-lancer de si mesmo, capaz de levar a bom termo um projeto pessoal, em um empreendimento que conta com toda a simpatia de Agulha. CW - Depois da saída de cena de no. - entre outros projetos - o foco de uma entrevista sobre o Digestivo Cultural forçosamente acaba incidindo na questão da viabilidade. E, em uma publicação híbrida como o Digestivo, com algo de newsletter, de periódico eletrônico, e de ecommerce, também sobre sua identidade. Antes de qualquer outra coisa, um pouco de biografia: de onde emergiu Julio Daio Borges, o que fazia antes, em resumo, quem é você? Em especial, antes do Digestivo, seu campo de atuação era mais o jornalismo impresso, marketing, informática? Agulha - Revista de Cultura JDB - Sou engenheiro por formação. Estou ligado aos computadores desde os onze anos de idade. E às letras, desde os dezessete. Mantive sempre essa dualidade. De 1996 até 2001, trabalhei em bancos, consultorias e empresas de telecomunicação. O lado engenheiro prevaleceu nessa época. Mas eu nunca parei de escrever. Montei um site pessoal (jdborges.com.br, em 1999) e o Digestivo Cultural (Digestivocultural.com, em 2000). No entanto, foi só em meados de 2001 que o jornalista emergiu, e subjugou o engenheiro. (Quer dizer, em termos: para estruturar o Digestivo, eu precisei muito da minha "expertise" de engenheiro.) CW - Examinando tudo o que você apresenta, fica-se com a impressão de que é simples manter à tona um periódico eletrônico. Basta trabalhar 26 horas por dia. É isso mesmo? JDB - Considero uma profissão de fé. Um verdadeiro ato de heroísmo. Trabalhar com cultura no Brasil. Ainda é aquele negócio da cereja no bolo. Quando você fala sério, é considerado chato, difícil, prolixo. Quando você faz piada, acaba atraindo um leitor ou outro, mas corre o risco de se repetir e cair no entretenimento puro e simples. Na Internet, mais ainda. Já reparou que nós somos os "filhos do jornalismo impresso" falando para os "filhos da televisão"? O diálogo parece impossível (e é), mas, ainda assim, existe (embora pouca gente queria investir nisso). CW - Dê algumas coordenadas cronológicas: quando foi que você começou a pensar em fazer um informativo, jornal ou boletim, eletrônico? Como surgiu a idéia? Digestivo? De onde saiu esse título? Anglicismo, é? De digest, um sumário ou condensação de informações? JDB - O Digestivo propriamente dito surgiu em setembro de 2000. Eu estava tentando resolver esse enigma: por um lado, o desejo de escrever e seguir carreira em jornalismo; por outro, a Internet se abrindo como um mar de possibilidades. Então pensei num formato relativamente breve, falando de cultura, num sentido utilitarista e, ao mesmo tempo, crítico. O nome vem daí. É contraditório, na verdade. Mas é também simpático e as pessoas, em geral, apreciam. Eu queria que o Digestivo - como boletim - fosse auto-sustentável e, portanto, me direcionei a um público mais amplo. Não queria apenas os iniciados, nem só os especialistas. CW - Quais as razões da escolha do segmento cultura, e não economia e/ou política, ou negócios em geral, por exemplo? Em tese, dariam mais Ibope. Aliás, é cultura, ou cultura e variedades? Agulha - Revista de Cultura JDB - Por que "cultura"? É o mesmo que me perguntar por que "azul" e não "vermelho". Simplesmente porque me pareceu o caminho mais natural. Nunca me vi editando um semanário sobre economia ou política. Fora que o efêmero não me atrai. A informação, a notícia. Prefiro a análise, a reflexão. Admiro os repórteres, claro, mas sempre preferi o lado mais autoral do jornalismo. O subjetivo invés do objetivo. Sem dizer que economia e política não são assuntos que eu domino (ou que tenho pretensão de dominar). Sobre cultura dar pouco Ibope, não concordo. Basta pensar em três dos colunistas mais populares no Brasil: Diogo Mainardi, que "mexe com cultura"; José Simão, que escreve na Ilustrada; e Luis Fernando Verissimo, que escreve no Caderno 2. CW - Quanto tempo levou, entre definir as principais características do Digestivo, e pô-lo no ar? Houve modelos, veículos nos quais se inspirou? JDB - O Digestivo Cultural, como ele é hoje - falo do site como um todo , resultou de um trabalho de mais de dois anos. Como eu disse, a minha referência e a dos Colunistas era fundamentalmente a imprensa escrita. A partir disso, a idéia foi dinamizar alguns processos aproveitando as facilidades da internet. Em termos de publicação, por exemplo: cada um hoje publica, controla e modifica o seu texto automaticamente. Em termos de interatividade, outro exemplo: por meio de fóruns, e-mails, número de acessos, lista dos mais lidos, etc. Foi um grande aprendizado - e continua sendo. Algumas idéias mirabolantes se revelaram inúteis; outras, nem tanto, produziram resultados surpreendentes. CW - Quando o Digestivo Cultural foi lançado, há pouco mais de dois anos, as expectativas sobre o crescimento de veículos eletrônicos eram outras. Hoje, reverteram-se. Havia uma previsão, talvez apocalíptica, de substituição total ou parcial do jornalismo impresso pelo eletrônico, que não se cumpriu. Você não acha que está pisando em um campo minado? Você chegou a fazer uma análise crítica de outros projetos, a diagnosticar onde falharam? JDB - Quando o Digestivo apareceu, a Internet já claudicava (estamos falando do final de 2000). Quando chamei os Colunistas, e decidi implementar a revista eletrônica (início de 2001), ninguém pensava em faturar milhões. Queríamos fazer barulho, mostrar um trabalho digno de nota, provar que havia novos talentos não contemplados pela imprensa, agitar o meio, derrubar alguns paradigmas, etc. Nesse sentido, diria que conseguimos. Óbvio que, em outros tempos, o conteúdo do Digestivo seria remunerado por um portal - e, quem sabe, poderíamos viver disso (o que não acontece hoje). Sobre a análise crítica de outros sites, ela é feita constantemente e nos ensina muito. CW - Quando, nos informativos sobre o Digestivo Cultural, você declara Agulha - Revista de Cultura viabilidade econômica, o que isso significa? Cobertura de custos de manutenção, ou que dá para viver bem disso? Quanto por cento da sua receita é diretamente ligada ao Digestivo (anunciantes, patrocinadores, assinantes), e às vendas ou à prestação de serviços, do tipo construção de sites? (isso, mesmo considerando a óbvia sinergia entre ambos, que um puxa o outro, que a circulação do Digestivo o fortalece em prestação de serviços e vice-versa). JDB - Quando falo em viabilidade econômica, falo em custos muito baixos se compararmos o Digestivo a uma publicação equivalente em papel. Como a estrutura já está montada, não há quase manutenção. Fora que o site e as facilidades que a internet proporciona eliminam uma porção de intermediários. Há basicamente a redação, para se remunerar - o que é, convenhamos, a parte menos onerosa de uma revista ou de um jornal. Quanto às receitas, o grosso vem do ecommerce (no entanto, muito longe daquilo que você está imaginando). Já a publicidade em internet foi praticamente banida - ficando restrita aos grandes portais (às vezes, nem isso). E a parte de serviços vai crescendo aos poucos, embora tenha sofrido um baque com a desaceleração geral da mídia. CW - O Digestivo Cultural apresenta textos e informação, mas também bastante e-commerce. Em parte, não seria um Submarino terceirizado? (ou seja, assumindo funções de que Submarino desistiu, diretamente, como sua própria revista) JDB - A pergunta é interessante. Sérgio Buarque de Holanda tentou introduzir Weber no Brasil, mas tudo indica que não foi feliz. Aqui, ganhar dinheiro ainda é pecado. Entre a intelectualidade, então, pecado mortal. Assim, se um "site de cultura" se propõe a faturar alguns trocados com os produtos que gratuitamente divulga, logo é tachado de "vendido" ou de "mercenário". O que existe entre o Digestivo Cultural e o Submarino é uma relação de parceria comum, e nada mais. Acontece que nos pareceu lógico oferecer a facilidade de se adquirir livros, CDs e DVDs via internet, através do nosso site, e receber uma comissão por isso. Os intelectuais brasileiros precisam perder esse preconceito. Quem sabe abandonando o voto de pobreza e pensando em soluções comercialmente mais viáveis. Teríamos, inclusive, publicações financeiramente mais saudáveis. CW - O que lhe deu maior prazer publicar, lhe provocou maior satisfação? Do Digestivo atual, o que lhe agrada mais? Fale um pouco mais sobre a contribuição propriamente cultural do Digestivo, o que ele acrescenta, além de possibilitar acesso a mais informações via net e, portanto, dar sua contribuição para a democratização da informação. JDB - Não vou falar de um texto ou outro, porque cometeria certamente alguma injustiça com algum colaborador. O que me orgulha mais é termos construído, a partir do zero, um periódico que hoje é referência Agulha - Revista de Cultura em termos de jornalismo cultural, tanto dentro quanto fora da Internet. Veja bem: eu sou praticamente um "outsider", não venho de nenhum jornal, nunca tive ligações na grande imprensa, entrei como novato nesse negócio. A maioria dos Colunistas também (começaram como eu). De repente, recebemos elogios do Millôr Fernandes, felicitações do Mino Carta. Depois uma citação honrosa do Sérgio Augusto, uma indicação do Ruy Castro. Uma menção do Daniel Piza, uma consideração do Sérgio Dávila, um voto de confiança do Luís Antônio Giron. Por fim, as mensagens do Diogo Mainardi, da Ana Maria Bahiana, o apoio da Sonia Nolasco. Tudo isso não é mera coincidência e eu não acredito que aconteça por acaso. Em termos de reconhecimento, ninguém acreditou que chegaríamos tão longe. Nem nós mesmos. Pessoalmente, acredito que nem ninguém mais chegue. É o tipo de coisa que não acontece duas vezes. parceiros da agulha . jornal de poesia triplov .. agulha indica outras revistas alô música Agulha - Revista de Cultura . revistas em destaque . .. el artefacto literario (suécia) diálogo entre editores: mónica saldías & floriano martins FM - Como situar a atividade cultural de uma uruguaia que vai residir na Suécia e ali acaba projeto editorial de difusão da literatura iberoamericana? MS - Mi propia condición de poeta es sin duda y en primer lugar lo que me lleva a la concreción de un proyecto editorial como El Artefacto Literario, pero también sin temor a equivocarme puede decir que es mi propia situación de distancia geográfica y psicológica del sitio de mis origenes lo que da, o busca dar, desde el primer momento un contenido especial a El Artefacto Literario: la búsqueda de perspectivas de tiempo y espacio, la contextualización de calidades literarias independientemente de la pertenencia a tal o cual grupo, la apuesta por una trascendencia literaria que no depende de quién escribe sino de lo que se escribe. Lo que escribimos es apenas una gota en un inmenso mar, y estoy convencida de que si pudieramos de verdad comprender esto de corazón, de una forma totalizadora… si pudieramos comprender cuál es nuestro lugar en una perspectiva realmente abarcadora de tiempo y espacio podríamos también ser mejores creadores, sin estar demasiado ocupados y preocupados por la difusión y promoción de nombres, y más atentos a la difusión de calidad. Si no hay calidad entonces no hay nada para difundir. Y si como creadores tenemos la inmensa dicha de alcanzar una trascendencia literaria de tal envergadura que dentro de dos mil años las gentes integren nuestros versos en su vida cotidiana Agulha - Revista de Cultura poco importa cuál ha sido nuestro nombre. Son estos al menos algunos de los ingredientes que impulsan y renuevan El Artefacto Literario, como proyecto editorial. FM - E em quais circunstâncias consegues concretizar as bases desse projeto editorial? Indago como ele se estrutura e quais as tuas condições de trabalho. MS - De ninguna forma es posible hablar de una única circunstancia o de varias circunstancias que se dan en un solo y único momento. Las circunstancias y las bases que dan nacimiento y van estructurando un proyecto editorial se van dando de a poco, paso a paso e incluso de manera intuitiva. En un primer momento y durante algunos meses El Artefacto Literario fue un espacio que incluía distintos géneros: no solo poesía sino también prosa y dramaturgia. Poco a poco el proyecto editorial se fue abriendo, concretando y limitando a la poesía. Así se han ido construyendo las bases; poco a poco, pero siempre desde la idea principal: la difusión de literatura de calidad. Y como la gran mayoría de los proyectos culturales El Artefacto Literario ha sido desde el comienzo y sigue siendo un proyecto altruista, que permanece y crece a partir del esfuerzo editorial. Esas son las "condiciones de trabajo": inversión personal en lo económico y en tiempo de trabajo. FM - Em que exatamente baseou-se a definição pela poesia, e não pela prosa ou a dramaturgia? MS - Creo que es importante apostar por un decantamiento paulatino de uno de los géneros, aunque por supuesto que en muchos casos es imposible establecer las fronteras entre uno y otro. No digo que sea imposible llevar adelante un proyecto de calidad que ampare diferentes géneros, pero sí creo que es una tarea imposible cuando una publicación no cuenta con medios ni humanos ni económicos como para enfocar en varios ámbitos y no correr el riesgo de entrar en un proceso de pérdida de calidad literaria. Mi tiempo es tremendamente reducido y en ese sentido creo que lo mejor que puedo hacer como editora es buscar focalizar, y elegir un campo, en este caso la poesía. Si la revista tuviera medios económicos entonces también podría contar con recursos humanos que permitieran una propuesta más amplia. Sin embargo, este es apenas uno de los aspectos en cuanto a por qué poesía y no prosa o dramaturgia. Si El Artefacto Literario recibiera en algún momento apoyo económico de algún tipo tampoco que implicara la posibilidad de disponer de recursos humanos creo que continuaría optando por la poesía. Dar un perfil y limitar los campos siempre es necesario e incluso deseable. FM - El Artefacto Literario possui algum apoio institucional? Como é mantido o projeto editorial? Agulha - Revista de Cultura MS - Como mencioné ya en algunas de las preguntas anteriores El Artefacto Literario no cuenta con ningún apoyo económico. En Suecia muchas actividades o proyectos culturales reciben -aunque no siempreapoyo de organismos culturales estatales, pero no es así cuando se trata de medios digitales. Por otra parte está claro que por definición y por la propia característica de un medio y otro -digital y de papel-, una propuesta digital implica costos menores que una publicación de papel. Esta última debe contar con gastos de impresión, de papel, de encuadernación y ni hablar luego del costo de distribución y marketing. Los medios digitales ofrecen en ese sentido una posibilidad muy diferente: los costos se reducen en comparación enormemente y las posibilidades de difusión se multiplican. Claro que siempre de todas formas es necesario asumir costos fijos y en la medida en que la revista va creciendo se necesitan medios económicos sobre todo para el desarrollo del proyecto editorial. FM - Há intercâmbios com outras publicações similares? De que maneira vem sendo feita a difusão de El Artefacto Literario? MS - La difusión de un medio digital se realiza, en primer lugar, por vía digital. En este sentido y luego de un año y medio de vida he podido comprobar como editora que la revista ha hecho caminos impensables y ha llegado a gran cantidad de lectores. Semanalmente recibo enormidad de cartas postales y e-mails desde todo el continente latinoamericano; de países europeos como España, Portugal, Italia, Suiza, Alemania, Inglaterra, Noruega, Dinamarca y por supuesto Suecia; de Angola, Mozambique, Sudáfrica. No hay semana que no me llegue por correo postal algún libro de poesía, y de la misma forma material por vía digital. Por otra parte, y de manera natural, la conformación de un consejo editorial ha llevado también a una difusión importante de la revista. El apoyo que de manera permanente ofrecen a la revista poetas como José Kozer, Reynaldo Jiménez y Saúl Ibargoyen Islas es de gran valor para El Artefacto Literario. El aporte que el joven peruano José Ignacio Padilla también de manera permanente ha dado y da a la revista ha sido por ejemplo fundamental para la difusión de El Artefacto Literario en el Perú, entre poetas de calidad de este país y no menos entre el público lector. De alguna manera todos los miembros del consejo editorial, cada uno de manera diferente han significado un apoyo valioso para la continuación y maduración de la revista. Cuando se trata de publicaciones similares creo que aún estamos en los comienzos. Creo que un intercambio natural que se ha dado es el apoyo mutuo entre la revista cultural Agulha, de la cual tú mismo eres editor, y El Artefacto Literario. Otros intercambios y/o cooperaciones se están gestando en muchas direcciones, geográficamente en lo interno y hacia afuera. FM - Muitos leitores da Agulha indagam quando teremos uma edição em papel. Confesso que já não tenho essa possibilidade como uma Agulha - Revista de Cultura meta, interessando bem mais a ampliação de circulação no meio digital. Acaso El Artefacto Literario tem planos para futuras edições impressas? MS – Creo que en el reclamo de tantos lectores siempre hay un fondo de sabiduría muy sana, porque es indudable que el medio digital ni ha sustituido ni sustituirá la magia del papel, así como los mensajes electrónicos no sustituirán la carta postal ni la tarjeta rústica. Si bien es imposible saber y predecir qué sucederá en dos mil años, lo cierto es que a esta altura probablemente el ser humano cuenta, en su relación con el papel, con una afinidad casi genética. En cuanto a El Artefacto Literario por el momento no tengo planes de ediciones impresas, pero tampoco cierro las puertas a esa posibilidad. Creo que especialmente se trata de problemas de recursos económicos y humanos para que esta tarea pueda ser posible. De todas formas pienso que ante la posibilidad de elegir alguna via impresa probablemente lo que más ayudaría a la poesía de calidad sería la opción por el libro impreso. Esta es una posibilidad que la revista viene madurando en realidad ya desde los comienzos, pero para esto es fundamental contar con una infraestructura mínima y una financiación económica que haga posible la cobertura de los gastos, cosa que al menos por el momento no resulta posible. FM - Como tens sentido a reação dos leitores? Quais os indicativos que mais se destacam nas inúmeras cartas que certamente deves receber? MS - Me resulta difícil sintetizar en pocas palabras la reacción de los lectores, porque en el mar de cartas encuentro cosas muy diferentes. Desde autores realmente de calidad pero desconocidos o muy poco conocidos que valoran enormemente la tarea editorial que El Artefacto Literario ha emprendido hasta autores ya establecidos que luego de haber visto mucho y tal vez demasiado en esto del quehacer literario, perciben este proyecto editorial como algo fuera de lo común dado el abanico de propuestas estéticas diferentes. No pocos lectores se sorprenden buenamente, por ejemplo, por la sobriedad del diseño gráfico de la revista, pero en especial se sorprenden de que yo en mi calidad de poeta no incluya en mi revista una sección mía, con mis propios poemas; es decir, aplauden y saludan el hecho de que no use mi proyecto editorial para promover mi propia poesía. Yo siempre respondo que en realidad no ha sido lo que me ha movido en lo personal a concretar un proyecto editorial. Y en este sentido vuelvo al tema que te mencionaba al principio: la perspectiva individual y colectiva, en tiempo y espacio. Creo que mi mayor preocupación como poeta y como editora (entre otras cosas) es la de intentar comprender cuál es nuestro rol como seres humanos y en nuestro quehacer, sea cual sea, en una perspectiva histórica; aquí, allí, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y estoy convencida de que esa perspectiva, o al menos el atisbo de esa perspectiva, no es posible de alcanzar desde los éxitos circunstanciales, o reconocimientos que con la mejor de las intenciones vienen de voces amigas. Los éxitos o reconocimientos Agulha - Revista de Cultura circunstanciales son por supuesto estímulos humanamente necesarios, pero en el fondo no son más que espejismos de algo que puede no ser muy real en una perspectiva de tiempo y espacio. Probablemente allí nos asiste en especial la pregunta que creo todos deberíamos hacernos y responder con total sinceridad (al menos ante nosotros mismos): qué es lo que buscamos con nuestra escritura? Qué buscamos con la difusión de nuestros versos? FM - Para encerrar, qual a periodicidade de atualização de El Artefacto Literario, em que se baseia a definição de pauta da revista e quais novas perspectivas imaginas para ela neste 2003? MS - Actualmente y desde ya hace un par de meses El Artefacto Literario se ha planteado una periodicidad de tres o cuatro números al año, con ciertas variaciones dependiendo de las posibilidades. En este sentido creo que hay que ser lo más flexible posible, pero sin despistar al lector. Un medio como el digital a veces nos propone casi el vértigo de la frecuencia a extremos algo alarmantes. Es cierto que es necesaria una dinámica diferente a la que exige una publicación impresa pero pienso que de ninguna manera la frecuencia ha de estar por delante de la calidad y del rigor en el trabajo editorial. La periodicidad de tres o cuatro números al año permite una planificación y una selección más rigurosas, y una maduración de la idea detrás de cada número que ayuda enormemente a no perder de vista el objetivo principal. Es en este contexto y en este ánimo donde se definen las pautas de la revista. Este seguirá siendo en lo fundamental el camino a recorrer durante el próximo 2003, y seguramente habrá también buenas sorpresas. Agulha - Revista de Cultura . revistas em destaque . .. jornal da abca (brasil) diálogo entre editores: alberto beuttenmüller & floriano martins FM - O Jornal da ABCA inicia atividades em setembro de 2001, após uma gestão anterior em que a entidade contava com outra publicação, o Jornal da Crítica. Quais os traços essenciais que distinguem um periódico do outro? AB - O primeiro traço foi de divergência editorial. O Jornal da Crítica não identificava a Associação Brasileira de Críticos de Arte nem demonstrava identidade com qualquer tipo de crítica. De quê crítica se tratava? De música, de teatro, de artes visuais? Além disso, todo jornalista sabe que há um formato de jornal que já é clássico. Este foi outro fator negativo do JC. Pelo formato, o JC era mais uma news letter ou um boletim do que um jornal, o JC assumiu o formato desses tipos de periódicos, com fotos pequenas, pequenas manchetes e mini-colunas. FM - Com periodicidade aparentemente semestral, é possível observar, nos três números até aqui publicados, uma melhor definição editorial, sobretudo no que diz respeito à presença de matérias e informações, que extrapolam a órbita enfadonha e viciada dos dois centros hegemônicos, Rio e São Paulo. Como tem sido possível articular uma pauta mais abrangente a partir dos diversos segmentos da ABCA em todo o país? AB - A periodicidade é fato importante em um jornal de grande circulação, mas na ABCA temos um jornal de críticos específicos, Agulha - Revista de Cultura voltados para as artes visuais de seus Estados de origem. Temos críticos espalhados por todo o Brasil, não seria justo privilegiar apenas o eixo do Sul Maravilha. Temos hoje atividades no Nordeste, como a Bienal do Ceará, do Museu de Arte Moderna da Bahia, do Instituto Joaquim Nabuco do Recife, tanto quanto a Bienal do Mercosul, de Porto Alegre e a Bienal de São Paulo. Como editor, procuro cobrir todas as regiões. Um jornal deve ser democrático e o Brasil é um país continental; há enorme dificuldade de saber o que se passa longe do eixo Rio - São Paulo, que sempre recebeu cobertura total da grande imprensa. Somos um jornal alternativo em todos os sentidos, um periódico mais de ensaios que de notícias e de reportagem, mas gosto de sempre editar entrevistas com personalidades do setor de arte visual. O Jornal da Crítica privilegiava notas internacionais, o Jornal da ABCA quer ver o país unido e respeitado como um todo, só depois olhamos para os fatos internacionais de importância. O editor desenha o jornal durante meses, a colher aqui e ali os fatos mais relevantes e variados. Como não é um jornal feito somente por jornalistas, ele tem mesmo um aspecto incomum, talvez insólito, mas já tem uma diagramação própria, tem um rosto. FM - Por outro lado, dada a conexão existente entre ABCA e AICA, de que maneira a publicação de um jornal que represente a entidade brasileira tem encontrado chances de um diálogo mais intenso com seus pares em outros países? AB - A AICA está dividida. Antes, o presidente ficava em Paris, sede da entidade; agora a presidência permanece em seu país de origem, ou pelo menos era assim até bem pouco tempo. Nós temos correspondentes na França, Itália, Alemanha, atentos aos fatos mais importantes da Europa. Prefiro um texto vindo de lá a copiar notas de jornais estrangeiros. Nós da América Latina somos vistos com restrições pela inteligência européia da mesma forma que pelos Estados Unidos. Entretanto, elogiaram o jornal. Nós temos de provar que somos superiores a essas questiúnculas. Por outro lado, eu não elogiaria a news letter da AICA, falta-lhe um caráter próprio, para dizer o mínimo. FM - Não me parece que tenhamos que provar nada exceto a nós mesmos, sendo este um dos dilemas centrais da cultura brasileira: a baixa auto-estima. Mas como se relaciona então a direção do jornal com os críticos latino-americanos de uma maneira geral? Há outras publicações desta natureza na América Latina ou, a exemplo, da AICA, tudo se resume a mera circulação de news letter? AB - A América Latina é formada de países que sofrem a História e não de países que fazem a História. A globalização serviu, pelo menos, para que isso ficasse claro. Eu criei a Bienal Latino-Americana em 1978, para unir a AL muito antes do atual Mercosul, mas os doutores da USP Aracy Amaral e Walter Zanini convidaram os críticos e historiadores da AL para um conclave cuja decisão já estava tomada, ou seja, acabar com a Agulha - Revista de Cultura Bienal Latino-Americana. Não perceberam que os demais países não queriam reforçar a liderança do Brasil. A primeira edição tinha caráter antropológico, daí o tema Mitos e Magia, um dos cernes da Arte na AL. Era para melhor nos conhecermos e partir para projetos exclusivos e sair dos vícios da Bienal Internacional, na qual havia uma espécie de acordo, no qual só os grandes venciam. Para ter-se uma idéia, de 1951 até 1977, ou seja, em 25 anos de existência da Bienal de São Paulo, só a Argentina ganhou o Grande Prêmio, em 1977, quando eu era curador; ano em que o Conselho de Arte e Cultura resolveu terminar com os prêmios, já que não se tratava de atletismo, mas, sim, de cultura. Não há como discutir um prêmio entre pintura e escultura, são coisas distintas. Como saber o que é melhor entre vídeo e instalação? Os críticos da América Latina sobrevivem a duras penas, não recebem os altos salários dos países que fazem a História. Por isso, o interesse pessoal é maior do que o interesse cultural. Há muito pouco intercâmbio entre as Nações da AL. Os críticos da América Espanhola, quando escrevem livros, deixam o Brasil de fora, porque desconhecem a arte que se faz aqui. Com tantas bienais no Brasil isso talvez mude. Nós estamos dando exemplo: a AICA devia ter um jornal e uma revista on-line, mas não fazem nem um nem outro. A divisão da AICA na AL, criada há cerca de cinco anos, sumiu como por encanto, sob a presidência de Horacio Saffons, da Argentina. O nosso representante nessa Divisão Latino-Americana nem fez um relatório sobre as atividades dessa entidade fantasmática. Há muito que fazer e poucos que querem realizar algo nos nossos Tristes Trópicos, como dizia Levy Strauss. FM - Como se dá a circulação/distribuição do Jornal da ABCA, nacional e internacionalmente? AB - Infelizmente, de forma aleatória. Não há ainda uma distribuição correta e muita gente, por isso, nem sabe da existência do jornal. A ABCA tem problemas de verbas e de verbo. Não há dinheiro e somos poucos colaboradores no jornal. FM - No editorial do número 3 do Jornal da ABCA mencionas certa dificuldade no envio de matérias para o fechamento de pauta no sentido de uma maior abrangência dos críticos vinculados à entidade em todo o território nacional. A que atribuis essa participação ainda reduzida dos críticos em todo o país? AB - Falta de interesse. Quando há interesse na matéria, o texto chega rápido. Se não há interesse pessoal, jamais virá. Há certo pessimismo de minha parte, mas é uma avaliação correta. Há associados que enviam pesquisa em andamento, para mostrar que estão a pesquisar, assim, recebem créditos junto aos seus amigos. Outros reaproveitam matérias que já saíram em jornal, não têm amor pela associação. Nesses casos eu não edito. Vou criar normas de redação e enviar para todos. A primeira regra é a de que a matéria deve ter interesse Agulha - Revista de Cultura nacional, caso contrário não sai. Aumentou o número de colaboradores. Os associados estão interessados no Jornal da ABCA porque ele vem sendo elogiado. Eu agradeço, pois faço tudo sozinho, sem a ajuda de nenhum associado, apesar de que há uma comissão editorial. Assim é a América Latina, assim é o Brasil. FM - Como entendes a importância da Internet na reflexão e difusão de bens culturais e artísticos? Acaso a ABCA já não começa a ressentir-se de uma ausência de circulação através da Internet? Há planos para a criação de um site da entidade? Quais fatores determinam a inexistência de atuação nesse veículo? AB - Quando assumi a editoria do jornal, chamei a atenção para este fato: o jornal escrito depende de uma boa circulação e esta de verba. Propus, de início, uma revista on-line, pois a circulação já não seria problema, mas a diretoria, da qual não faço parte, entendeu que não poderíamos ficar sem o jornal impresso, pois já era uma conquista da ABCA. Eu insisti que deveríamos, então, fazer ambos. A revista on-line ainda vai demorar, mas creio que sairá em 2003. FM - Por último te deixo a tribuna livre, para o comentário de algo que acaso tenhamos esquecido de abordar. AB - Gostaria de pedir aos colegas da ABCA cooperação. Sei que fazer cultura em um país que não se importa com ela, é difícil, mas temos de acreditar no futuro do país. A ABCA precisa fazer algo pela comunidade, já que foi esta mesma comunidade que pagou os estudos universitários da maioria dos associados. Este jornal precisa percorrer escolas, universidades, museus e bienais. Precisamos crer na ABCA e, principalmente, em nós próprios. Entrevista realizada em dezembro de 2002. O Jornal da ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte) surge em São Paulo em setembro de 2001, dirigido pelo crítico Alberto Beuttenmüller. E-mail: [email protected] parceiros da agulha . Agulha - Revista de Cultura revista de cultura # 32 - fortaleza, são paulo - janeiro de 2003 Livros da Agulha Noticias del deslugar. Américo Ferrari. El Bardo Colección de Poesía. Barcelona. 2002. 96 pgs. Contato: [email protected]. Américo Ferrari (Lima, 1929) es autor de un buen número de poemarios y de estudios sobre poesía e poética. En 1998, apareció en esta misma colección su obra poética completa hasta la fecha, Para esto hay que desnudar a la doncella. En 2000, publicó su último libro en Lima, Casa de nadies. En Noticias del deslugar, según decir de Edgar O'Hara: "El lugar al que se refiere […] transmite su apetencia de sonidos, como una esquela que el lector recibiera sin adivinar las razones del remitente. Las nuevas, sin embargo, casi no son buenas ni mucho menos; síntomas, tal vez, de un estado de ánimo en el mundo y una manera de sobrevivir." Jornalismo e Literatura. A sedução da palavra. Organizadores: Gustavo de Castro e Alex Galeno. Escrituras Editora. São Paulo. 2002. 184 pgs. Contato: [email protected]. Organizado por Gustavo de Castro e Alex Galeno, trata-se de uma coletânea de ensaios sobre a relação entre o jornalismo e a literatura. Os textos explicitam alianças, simbioses, diferenças, insídias, limites e propósitos possíveis relativamente aos dois tipos de narrativa. Autores como Moacyr Scliar, Deonísio Silva, Daniel Piza, Marcelo Coelho, José Marques Melo, entre outros, exploram as fronteiras entre os dois temas de modo instigante para leitores de todos os matizes. Agulha - Revista de Cultura Além da diversidade interpretativa, o estilo, a objetividade, a metáfora, a crônica, o embate com a realidade e os diferentes papéis do jornalista e do escritor são alguns dos temas tratados neste livro. Segundo um dos organizadores, Alex Galeno: "A literatura como um meio de evitar que a imaginação jornalística se transforme em mero exercício retórico e enfadonho no cotidiano. Eis um dos objetivos deste livro. A literatura germina o imaginário e faz com que seus percursos se prolonguem pelos passos vagabundos da escrita. Como disse Georges Bataille, ‘literatura é comunicação’. E nos oferece antenas para o mundo e vestimentas para a vida, diz Edgar Morin. A literatura e o jornalismo, portanto, devem ser textos pacientemente confeccionados. Neste livro transdisciplinar, encontraremos textos tecidos que, pela mobilidade criativa de escritores e jornalistas, podem se transformar em fantasias, vestimentas ou numa sensação tátil aos leitores." Gustavo de Castro, Jornalista, Mestre em Educação e Comunicação e Doutor em Antropologia pela PUC/SP, com uma tese sobre o escritor Italo Calvino. Professor de Comunicação Social do UniCeub e IESB, em Brasília-DF, membro do Grupo de Estudos da Complexidade (Grecom/UFRN) onde organizou, junto com Maria da Conceição de Almeida e Edgard de Assis Carvalho, o livro Ensaios de Complexidade (Sulinas, 1997). Alex Galeno, Doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC/SP, com tese sobre o tema da revolta em Antonin Artaud. Professor de Jornalismo. Membro do Núcleo de Estudos da Complexidade - Complexus-PUC/SP e do Grupo de Estudos da Complexidade-GRECOM-UFRN. Tem publicado ensaios em periódicos científicos e em jornais. Participou da coletânea Ensaios de Complexidade, publicada pela Editora Sulina. Lillias Fraser. Hélia Correia. Relógio d’Água. Lisboa. 2002. Em meados de Abril de 1999, em visita ao local da batalha de Culloden (travada na Escócia, em 1746, entre as tropas de Willliam Augustus, irmão do rei da Inglaterra, e as de Charles Stuart, que jurara ao pai trazer-lhe "as três coroas, da Escócia, de Inglaterra e da Irlanda"), a narradora de Lillias Fraser (Lisboa: Relógio d’Água, 2002) viu e ouviu o que os turistas americanos, à procura de "marcas do clã de onde pensavam descender", não conseguiram apreender. Falta-lhes História, conclui a narradora, fazendo-nos lembrar uma afirmação de Godart, em Elogio do amor. Revelando ser capaz de súbitas e especiais visões, viu um bando de jovens montanheses, os "highlanders", a marchar para o campo de batalha, trajados com o "kilt" que após o massacre seria proibido pelos ingleses: "eu bem os vi, no dia em que lá fui. Senti-me exausta por andar de pedra em pedra sem partilhar a alegria americana. Acho que o alarme que corria o campo era audível a gente Agulha - Revista de Cultura como eu, puros visitantes que não iam à espera de o ouvir" (p. 17- 19). O enfoque de um acontecimento histórico ocorrido no século XVIII suscita inevitáveis comparações com o Memorial do Convento, de José Saramago. O romance de Hélia Correia oferece ao leitor um provocador encontro entre a sua personagem principal e Blimunda Sete-Luas, uma das personagens centrais do Memorial e talvez a mais admirável criação saramaguiana. Esse inesperado encontro, levando adiante o jogo da ficção das ficções do próprio Saramago (O ano do morte de Ricardo Reis e as "ficções do interlúdio" pessoanas), ocorre no capítulo XVIII da terceira e última parte do livro, e que, como a segunda, passa-se em Portugal, mas após o terremoto de Lisboa. Apesar das semelhanças entre Lillias e Blimunda – ambas mulheres assinaladas, dotadas de olhos excessivos -, são diferentes as formas de construção das referidas personagens, as posturas do olhar dos narradores, os modos de conceber o século XVIII, e, por conseguinte, a situação das duas obras em relação ao chamado romance histórico. Como afirmou Hélia Correia numa sessão sobre o romance, "tentei olhar o século XVIII com o olhar da época, ao contrário do José Saramago que julga as situações do século XVIII com os olhos da actualidade". Lillias parece estar ligada à linhagem de videntes celtas ou germânicas, inclusive pela ascendência escocesa (a mesma da autora). Os olhos dourados denunciam a sua origem, "sinal de que houve bruxas na família" (p. 43), provocando desconfianças. A rejeição ao que de Lillias emana como não semelhante - aspecto ao mesmo tempo fascinante e perturbador -, assim como a sugestiva sonoridade do nome, nos remetem à figura de Lilith, de cuja lenda encontram-se vestígios na versão bíblica canônica (Is 34,14: "Os gatos selvagens conviverão aí com as hienas,/os sátiros chamarão os seus companheiros./Ali descansará Lilit,/ e achará um pouso para si"). Apesar de esquecida, rejeitada e muitas vezes expulsa de casa, Lillias não alimenta nenhum ressentimento ou desejo de vingança, como os atribuídos à mítica Lilith. Por outro lado, tendo em vista que só aos poucos, à medida que cresce, toma conhecimento do seu poder, o estado informe em que Lillias se encontra no romance não resulta de punição divina, mas da vontade narrativa que não a faz surgir pronta, como Palas Atena a saltar vestida e armada da cabeça de Zeus. Sem perder de vista os limites estreitos da época e da condição da personagem, a narradora não lhe tira o mínimo de liberdade possível para se constituir a si mesma. No âmbito da literatura portuguesa, por seu dom de prever o futuro, profundamente ligado à morte, e pela capacidade de sobrevivência, Lillias aproxima-se de Quina, protagonista de A Sibila, de Agustina Bessa-Luís, autora da preferência de Hélia, assim como Maria Gabriela Llansol. A mudez é o recurso de Lillias para preservar o segredo do nome e da língua de origem, enquanto Quina, cheia de verbosidade, encontra condições para manifestar seus saberes e poderes - o dom oracular, a recitação de rezas e a arte de contar histórias. Mais Agulha - Revista de Cultura longinquamente, o exílio de Lillias, desde pequena levada para longes terras, distantes da casa familiar, desperta-nos reminiscências da Menina e Moça, de Bernardim Ribeiro. Por outro lado, talvez não seja despropositado aproximar Blimunda, personagem de Hélia, de Ana de Peñalosa, tal como se nos apresenta no Lugar 1 de O Livro das comunidades, de Llansol. Ana, figuração do lugar materno que remete à Grande Mãe da cultura celta, integra uma genealogia de mulheres capazes de atravessar o tempo. Em períodos de ódios acirrados e perseguições inquisitoriais, como o de Lillias, forçoso é que o silêncio da sua voz encubra a sua ascendência e seu dom. Dotada de dom oracular, mas, paradoxalmente, silenciada pela força do destino, é exilada e emudecida, como a profetisa Sibila, sua ancestral mítica. A princípio chora de noite, aterrorizada pelas visões premonitórias, pois "ainda não compreendia que aquilo não estava realmente a acontecer" (p. 48). Percebendo a inutilidade do aviso, aprende a sufocar o pavoroso grito que irrompe de súbito ante a visão compadecida dos que estão a se desfazer e sorriem, sem saber da forma pela qual vão morrer. Assim atravessa parte da infância a esgueirar-se silenciosa, com o fulgor encoberto por sujidade, confundindo-se com um animal, a dormir perto da lareira (p. 46), qual Gata Borralheira sem ambição de transformar-se em Cinderela. Desprotegida, salva a si mesma, graças ao dom de vidente: em menina, ao fugir da pavorosa visão, escapa do massacre de Culloden, e mais tarde, avisada pelo dom que já domina, evade-se da zona atingida pelo terremoto de Lisboa. Em duas situações em que corre perigo de vida, encontra na figura de uma velha a proteção inesperada. Ambas ocorrem no inverno, no início e no fim do romance, indiciando, através da circularidade, a continuidade da sua errância. Na primeira, ainda menina, quando atravessa o chão nevado da Escócia, encontra acolhimento numa velha cuja aparência associa ao estereótipo da bruxa. No final, já adulta, enfraquecida pela fuga à perseguição que julga que o Coronel Maclean lhe move e pelo "escorrimento" da gravidez que ainda desconhece, deixa-se cuidar pela mulher que a olha "com firmeza, como quem dá o ultimo retoque numa obra que honrou a expectativa": "Lillias viu o sinal manchar-lhe a face, que era a face direita, a do poder" (p. 279). Se "o poder acha-se em toda parte", como afirma Blimunda, só "num espaço entre fronteiras", "um espaço fora dos reinos, sem governação", o filho que Lillias espera poderá nascer (p. 281-282). Um filho de pai incerto, gerado na solidão e no silêncio, quase por partenogênese, como o alegre Robin Hood das feiticeiras medievais. Para esse lugar sonhado e ainda inominado, encaminha-se Blimunda com serena determinação e também com raiva, puxando, "como a velha na montanha no dia da batalha de Culloden, pelo pulso arroxeado de Lillias", outra vez moça e menina, guiada por mão firme e deixando-se embalar, sob a chuva (a chuva que tanto inspira a criação textual de Agulha - Revista de Cultura Hélia Correia), pelo cheiro dos cabelos de figuras maternas. Para compensar a seqüência de equívocos derivados sobretudo da repulsa que Lillias provoca, e que vão sucessivamente exilando a menina das inúmeras casas a que é entregue, uma sucessão de acasos e inesperadas proteções conspira a seu favor, como se diversas forças humanas e da natureza, assumindo o lugar da mãe ausente, se conjugassem para dar um mínimo de vida e acolhimento a essa menina "tão abandonada de colo humano" (p. 51), e que só encontrará um possível lar – o desejado pouso de Lilith e sua estirpe -, no sonho de Blimunda. (Maria de Lourdes Soares) Letra viva. Antología 1974-2000. José Luis Vega. Colección Visor de Poesía. Madrir. 2002. 162 pgs. Contato: www.visor-libros.com. José Luis Vega nació en Santurce, Puerto Rico en 1948. Adolescente aún, publicó su primer poemario titulado Comienzo del canto (1965). Sin embargo, su irrupción plena en la poesía puertorriqueña está vinculada a su labor como cofundador de Ventana (1972), revista que marcó un alejamiento deliberado de la poesía social entonces en boga en su país a favor de una escritura más atenta a sí misma y a la inmediatez de la persona. Signos vitales, su segundo poemario publicado en 1974 y eu cuadernillo Las natas de los párpados/Suite erótica, del mismo año, recogen el tono y las inquietudes del poeta en el primer lustro de la década de 1970. A estos le siguen otros libros de modulaciones varias. Letra viva, primera antología de sus versos, reúne lo fundamental de sus libros publicados hasta la fecha y da cuenta, además, de la obra en marcha del poeta hacia el logos de la convergencia, según decir de Julio Ortega. Os que estão aí. Leonardo Vieira de Almeida. Ibis Libris. Rio de Janeiro. 2002. 88 pgs. Contato: [email protected]. A leitura de novos textos entrelaça-se com a leitura de textos já lidos, sempre confirmando vereditos, influindo na gestação de sombras e de novas formas. A perspectiva do prazer é gerada por uma descarga de endorfina que suaviza a própria existência, por mais cruel que ela seja. Os contos reunidos em primeira publicação do carioca Leonardo Vieira Agulha - Revista de Cultura de Almeida (1971), sob o título Os que estão aí (Ibis Libris, 2002), podem possibilitar a recordação dos Contos cruéis (Iluminuras, 1987), de Philippe Auguste Mathias, o conde de Villiers de l’Isle-Adam, uma das figuras mais emblemáticas na Paris do século XIX. Não pela correlação de idéias, mas, talvez, pela maneira de se porem afastados da extrema racionalidade, pela apresentação de atmosferas oníricas e alucinatórias, como também pelo jogo simbólico com que foram tecidos. De Villiers, um fragmento do conto "O intersigno", um trecho de diálogo entre o senhor Xavier e o abade Maucombe: "- Vá em paz, disse o abade Maucombe. / - Eh! É que se trata de quase toda a minha fortuna! murmurei. / - A fortuna é Deus! disse Maucombe simplesmente. / - E amanhã, como viverei se... / - Amanhã, não se vive mais, respondeu ele." A partir desse extrato, a própria sentença condenatória da vida. Sentença essa que o contista já faz emergir, ritualisticamente, quando afirma que "A infelicidade tem início quande arde o crepúsculo." (In: "Canaã") Com certeza, o autor é leitor de Clarice Lispector e tem no conto "Amor", uma confirmação. Vejam as re-escrituras: a partir da citação anterior, no texto da autora lê-se, "Certa hora da tarde era mais perigosa"; ou, a partir de "O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito.", em que o motivo se repete no trecho do conto "Canção de ninar": "A capa de umidade que os cobria esvanecera-se junto com o vulto na janela, mas o mal estava feito e pairava no ar a vibração de um acorde sombrio." Não pela modelagem de um jogo verbal repleto de intertextualidade ou mesmo pelo pastiche, mas muito mais pela forma de seduzir o leitor com os artifícios da prosa poética; ou pela construção de torneios metonímicos, em que pequenos indícios revelam atitudes plenas, ou vice-versa; ou, ainda, pela maneira opressora de realçar comparações e validar metáforas, Leonardo Vieira de Almeida surpreende. Sua escrita é forte, massacrante, cruel, e ao mesmo tempo fluida e sensível. O conto "As mãos do açougueiro" é de uma crueldade dilacerante. Fugindo dos modelos em prosa poética dos três primeiros textos, fazem o leitor hesitar, mas por pouco tempo. Na falta daquela tessitura metafórica, o conto se delineia mais objetivamente, até provocar a vertigem, na cena em que o açougueiro se masturba ao contato físico da carne congelada do frigorífico. Entre víboras, serpentes, escorpiões, medusas e crucifixos – símbolos reincidentes nos contos – o leitor pode ainda se deparar com insólitas comparações. Em "A gárgula", espécie de apólogo, a personagem principal parece se confundir com as instituições, em cuja edificação serve de ornamento e escoamento de águas. Diz ter já sido homem de negócios e se traduz "O homem de negócios ainda continua no seu Agulha - Revista de Cultura recanto de janela. Acho que congelei sua imagem, para examinar, profundamente, sua aparência de estátua esfíngica. Eu, que há alguns anos, tinha por objetivo o mesmo sangue que percorre seus caminhos." "Ratos" paira entre a alucinação e a loucura. É um conto que pode se alinhar entre a hesitação do fantástico e alguns indícios do surrealismo. Mas, ainda, como reflexão e consciência. Uma mixórdia de sentidos. Eis um trecho: "Acreditem. Ela existe. Os ratos existem. No dia em que vi a enorme ratazana, consegui vencer o medo; e abandonei a casa cinco." Casa, diga-se de passagem que (in)existia do lado par, entre os números quatro e seis, e onde vivia Lígia, "uma mulher muito caseira". Alguns clichês não desautorizam a leitura de Os que estão aí, pois as metáforas surpreendentes atenuam o provável deslize. Quando se lê "Gaspar", a verossimilhança se dá de forma sutil: um homem mata mulheres e as preserva flutuantes em aquários. A única fratura deste conto ocorre no momento em que o narrador se desvenda como serial killer, o que, no entanto, não compromete os meios da efabulação. Enfim, Leonardo Vieira de Almeida, também arquiteto e urbanista, vem unir-se aos arautos da narrativa curta que fazem sobreviver o gênero, desta feita, concentrando gotas de crueldade, fiel, talvez, aos espetáculos da própria vida. (Jorge Pieiro) Bastidores & Refletores. Lucila Nogueira. Edições Bagaço. Recife. 2002. Volume duplo. Contato: [email protected]. Lucila Nogueira é poeta, crítica e tradutora. Escritoraresidente na Casa do Escritor Estrangeiro de SaintNazaire, na França, em dezembro de 1999, onde escreveu A Quarta forma do delírio, em trabalhos de tradução. Diretora Cultural do Gabinete Português de Leitura, onde edita há três anos a Revista Encontro de cultura lusófona. Coordena no Brasil o Seminário Internacional de Lusografias. Autora de livros como A dama de Alicante (1990), Zinganares (1998) e esta dupla aventura de resgate de sua obra que constitui Bastidores & Refletores. A respeito da edição, cuidadosamente preparada pela poeta, ela mesma adverte: "Acredito que não só para o especialista resulta significativo observar o caminho da instauração e seqüência tanto de um código particular de expressão lírica como dos núcleos de temas e interesses que se reiteram no conjunto que se foi construindo ao logo de doze livros. Além disso, proporciona-se aqui um comparativismo a tornar possível a revelação aproximada de uma identidade no campo da poesia a partir da contextualização de uma proposta estéticas desde a sua origem, como Agulha - Revista de Cultura a recordar de modo perplexo e compulsivo as palavras de Eliot constantas na epígrafe: em meu princípio está o meu fim / em meu fim está o meu princípio". O anjo melancólico. Ensaio sobre o conceito de alegoria na obra de Walter Benjamin. Maria João Cantinho. Angelus Novus Editora. Portugal. 2002. 180 pgs. Contato: [email protected]. Partindo de uma contextualização e análise dos principais aspectos e categorias do pensamento de Walter Benjamin, que influenciou decisivamente as correntes estéticas e filosóficas da Segunda metade do século XX, pretende-se neste livro levar a cabo, uma compreensão do seu conceito de alegoria. Tal inquérito conduz-nos à descoberta da existência de uma plataforma essencial onde se encontram e convergem linguagem, história e messianismo, vistos à luz de um "olhar alegórico". Na sua análise do drama barroco alemão, Benjamin descobriu na alegoria o modo de fixação da história, uma vez que é na escrita alegórica que se condensam os signos do passado enquanto escrita imagética, podendo-se decifrar os sinais da história nela inscritos. Essa descoberta crucial permitiu-lhe aprofundar a sua teoria da linguagem e encontrar um eixo arquimediano a partir do qual desenvolveu a sua concepção histórica, que se apresentaria de forma mais acabada e precisas nas obras Paris, Capital do Século XIX e Sobre o Conceito de História. Veja entrevista com a autora nesta edição da Agulha. Irmãs de Feno. Prisca Agustoni. Maza Edições. Belo Horizonte. 2002. 112 pgs. Contato: [email protected]. "A memória de uma pequena nação não é mais curta que a de uma grande; ela, portanto, trabalha com maior profundidade o material existente", observou Kafka em seu Diário. O que vale para a literatura de um judeu vivendo em Praga no final do século XIX, serve, paradoxalmente, para se entender a poesia de uma jovem poeta suíça no início do século XXI: em Irmãs de Feno, Prisca Agustoni capta a voz de suas conterrâneas que, há quase cem anos, deixaram para trás a região de Ticino, ao norte da Itália, para um exílio involuntário em terras mais prósperas, do outro lado do vale. Ressoa nos poemas a fala dessa "pequena nação", ilha de língua e cultura italiana em uma Suíça em que os grupos hegemônicos Agulha - Revista de Cultura se comunicam em alemão ou francês. Na verdade, é essa situação de inferioridade econômica que levava as "irmãs do feno" desta poeta a cruzar o Passo de São Gotardo em direção aos conventos do outro lado dos Alpes - uma travessia que significava abandonar não só a família e o local de origem, mas também o dialeto natal, logo substituído pela língua alemã. Nesses poemas em forma de memória alheia, Prisca Agustoni ternamente escuta e recria as vozes de mulheres que já cruzaram as várias margens desta vida e que, no limiar da terceira margem do rio, costuram as lembranças vividas na juventude às lembranças sonhadas ou imaginadas. Assim, as três partes em que se divide o livro se interligam, impedindo que as memórias se organizem de modo cronológico e mesclando os vales da infância aos muros do convento, as limitações impostas pela educação rígida numa cultura estranha às dificuldades ao longo da existência, a prisão do corpo aos desejos sonhados, mas nem sempre vividos. Essas vozes anônimas trazem de volta retratos de momentos esparsos do passado, reconstituídos apesar das traições da memória. "O vapor ocultou a miragem" e tudo o que temos são "rumores de outrora", como adverte a voz poética no texto que abre a primeira parte do livro. Entretanto, como na técnica de montagem cinematográfica, cada momento captado por esses retratos adquire novo sentido quando colocado ao lado de outro, iluminando-se reciprocamente. Esse processo faz com que as pequenas epifanias esboçadas pelos poemas se somem, apresentando-se ao leitor como um mosaico de vidas femininas, ao mesmo tempo passadas e presentes, pois organizadas pelo olhar solidário de Prisca Agustoni. "Porque é mais fácil / atravessar o Atlântico/ do que passar o vau/ do São Gotardo", observa o poema "Álibi", portal que introduz o leitor no universo dessas adolescentes suíças que, empurradas pela pobreza, precisam abandonar a segurança (ainda que precária) do ambiente familiar e cruzar os Alpes numa viagem espacial e simbólica: do outro lado da montanha não há mais as agruras da pobreza, porém essa travessia marca a entrada na vida adulta, o aprendizado das artes femininas, o paciente e infindável trabalho nos bordados e nos teares, assim como a frieza de um mundo estrangeiro. Da vida no cantão natal ficam apenas "os cantos do repasto" e "o odor dos corpos"; até mesmo o duro trabalho no campo, as mãos calejadas, a rigidez da educação, os esparsos contatos com o mundo exterior, tudo aparece colorido pela nostalgia: "O mistério do pão/ faz pensar na gratuidade/ da mênsula./ Até nossa respiração é comunitária". Divididas entre a vida na família e no campo, a "primeira margem" dessas jovens é evocada pela poeta por meio de imagens relacionadas à natureza: a passagem das estações, as neves e as chuvas, as plantas e animais. Também como os elementos da natureza de que falam os poemas, as jovens oscilam entre sua alegria de flores exuberantes, diante da beleza da natureza, e o peso das incertezas sobre o futuro. Assim, em "As premonições", "As aquilégias/ parecem absorvidas/ pelos defuntos", fazendo com que um signo de vida se associe à destruição e à morte, que espreitam a cada Agulha - Revista de Cultura canto da natureza, ainda que na forma do belo. Em contraste, no poema que se segue, "Visão", a natureza se relaciona ao divino e à alegria que cura qualquer dor de viver: "Gosto de subir aos lagos/ A fixidez do declive/ é hóstia que glorifica/ qualquer bagagem". A mesma ambivalência marca a percepção do vale natal, cujo isolamento do mundo externo se apresenta como prisão num poema que, sintomaticamente, se intitula "Fósseis molhados" -"Somos predadores em cativeiro/ Ao final invejamos/ a solução dos gamos- ou sob o olhar nostálgico de quem se prepara para partir, levando consigo "o silvo das lançadeiras". Mas o futuro, este se apresenta como o desenvolvimento de sementes provisoriamente congeladas, de desejos hibernados, prontos para irromper, como adverte a voz que se ouve em "A balança cariada": "Estas mãos de bétula/ cultivam o pudor./ Mas um dia a árvore/ abrirá a sua sombra,/ alcova onde deserta/ a culpa./ Antigas sementes se quebrarão/ sobre lençóis de strass." Nos poemas que compõem "Intermezzo", não se percebe mais o ritmo alegre, irregular, dos textos da primeira parte do livro, marcado pelas linhas de comprimentos irregulares e pela diversidade da própria organização visual das páginas. Do outro lado do Passo de São Gotardo, impõe-se o uso de outra língua, o alemão, que irrompe ao final de "Retrato" ("Deutschsprechen, bitte"), em toda sua estranheza, na boca das freiras, "sentinelas" investidas do poder conferido pelos "crucifixos e as chagas de Cristo" e pela mesa farta que oferecem: "O ás na manga é o estufado de feijões,/ o branco de Gênova/ no domingo". Transformadas em "jovens Penélopes/ com velhas heranças", as jovens apenas se movem "no vai e vem das agulhas" e dos "pedais Singer", em rotinas que se repetem como "novenas", nos lábios que reprimem queixas, "as palavras amputadas /como feridas crescendo/ na boca". Mas há aquelas que não se conformam às exigências da nova vida e tentam um "vôo", escapando pelo rio, "os braços como asas" (uma rebeldia que todos se esforçam por apagar). Ao contrário do respeito religioso inspirado pelo espaço natural nos poemas da primeira parte ("Por isso descemos/ com religioso decoro/ o penhasco/ ao encontro dos trevos", como em "Radiografia"), mesmo em peregrinações religiosas ou nas orações, não se alcança o sagrado: "então pungiremos / os ossos com a ausência de Deus,/ desarmando/ o arsenal dos painossos." O sentimento nostálgico de solidariedade e comunhão também está perdido: "Na escassez irrompe o excesso,/e no claustro/ nos sabemos ilhas/ entre irmãs do feno." Resta, então, "contar os dias/ que faltam/ para sair daqui." O tempo que deveria ser apenas um intervalo entre duas etapas da vida ("Intermezzo") acaba por marcar de tal modo a vida dessas mulheres que "A segunda margem" salta diretamente para a velhice, o momento da rememoração. Mais uma vez, modificam-se o ritmo e a distribuição dos versos na página: estes surgem em blocos quase sempre regulares, numa linguagem que se distancia dos ecos do imagismo que se percebem nos poemas sobre a juventude. "É preciso acreditar nas chaves. A sua forma /Ensina novas portas, ângulos onde Agulha - Revista de Cultura ainda/ chove", afirma "Dogma", texto que abre essa parte final. Isto porque é nessa "chuva supérflua" que "o arenito cresce e se transforma em palavra" -"Fios de amianto que nos ligam com Deus", como sugere o poema "Conspiração". Nessa segunda margem, resta esperar pela próxima travessia, não mais dos Alpes, pois "o São Gotardo não é o mesmo". Resta também preparar um "Testamento" para as irmãs do feno que se seguirão: "Deposito flores na tramontana./ Assim o exílio se incendiará em/ nós, predadoras do trigo e/ dos celeiros." Herdeira dessas irmãs do feno, Prisca Agustoni recolhe essas flores, junto com o trigo dos celeiros, transformando-os em palavra, em chave que abre novas portas. Dentro da pequena nação de língua italiana encravada no território suíço, essa pequena nação feminina ressurge das sombras por meio da mesma língua materna, porém na linguagem poética sensível e elaborada, na técnica refinada de Prisca Agustoni. (Eliana Lourenço Lima Reis) Cuentos del San José Oculto. Vários autores: Alfonso Chase, Alfonso Peña, Myriam Bustos Arratia, Tomás Saraví, Guillermo Fernández, José Ricardo Chaves, Alexánder Obando, Rodrigo Soto. Selección y prólogo de Tomás Saraví. Ediciones Andrómeda. San José. 2002. 166 pgs. Contato: [email protected]. Toda ciudad tiene aspectos más o menos ocultos, pero convengamos en que San José (Costa Rica) tiene sus propios méritos… Los temas de esta obra aluden, en general, a sectas o prácticas rituales (que sería una de las acepciones de "oculto"), sino a asuntos, si bien sorprendentes en algunos casos, habituales en nuestros días. El volumen pasa revista desde sus primeiras páginas, casi sin proponérselo, a una serie de acontecimientos, costumbres, prácticas que permiten interpretar mejor los últimos años del siglo XX y estos primeros balbuceos del XXI. El gran artista chileno Juan Bernal Ponce, radicado en Costa Rica desde los años setenta, conocido internacionalmente, ha aceptado la invitación para participar en esta obra com ocho grabados sobre metal, en relación com cada uno de los cuentos. Ediciones Andrómeda trata de hacer honor, así, a su larga e intensa tarea en el campo de los libros de arte. En la presente edición de Agulha se encuentra una buena charla entre Tomás Saraví y Alfonso Peña. Agulha - Revista de Cultura Conversaciones oblicuas entre la cultura y el poder. Entrevistas a diez intelectuales uruguayos: Tereza Porcile, Uruguay Cortazzo, Luce Fabbri, Roberto Appratto, Hilia Moreira, Hugo Achugar, Beatriz Santos, Alfredo Fressia, Oscar Padrón Favre e Eduardo Espina. Entrevistas conduzidas por Verónica d'Auria e Silvia Guerra. Ediciones Caracol al galope. Montevideo. 2002. 146 pgs. Contato: [email protected]. En esse libro, Veronica d'Auria y Silvia Guerra se plantean la interpretación de las relaciones entre la cultura y el poder, a través de entrevistas realizadas a diez intelectuales uruguayos. Y es muy posible que el lector termine por preguntarse en profundidad, al finalizar el serpenteante y espejeante recorrido de este libro: ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? "Es frecuente que en el Uruguay de estas últimas décadas se hable de un estancamiento del debate cultural", puntualiza introductoriamente Veronica d'Auria, agregando que "es innegable que periódicamente se producen alejamientos de untelectuales que excluen voces de un diálogo íntimo, determinante y necesario." La gracia indagatoria irradiada por este libro colectivo nos aproxima un poco más, sin duda, a la posesión de las llaves de un tesoro que aquí jamás reinó. Livros para Agulha deverão ser enviados aos editores, nos endereços a seguir: Floriano Martins Caixa Postal 52924 Ag. Aldeota - Fortaleza CE 60151-970 Brasil Claudio Willer - Rua Peixoto Gomide 326/124 - São Paulo SP 01409-000 retorno à capa desta edição índice geral triplov.agulha jornal de poesia Agulha - Revista de Cultura . galeria de revistas índice geral . exégesis (porto rico) [f.m.] três revistas hispano-americanas: archipiélago (méxico), maga (panamá), matérika (costa rica) [f.m.] revistas hispano-americanas, I: um olho no passado recente [f.m.] revistas hispano-americanas, II: um encontro de duas linguagens [f.m.] retorno ao portal triplov (portugal): diálogo com maria estela guedes [f.m.] rascunho (brasil): diálogo com rogério pereira [c.w.] blanco móvil (méxico): diálogo com eduardo mosches [f.m.] jornal de poesia (brasil): diálogo com soares feitosa [f.m.] digestivo cultural (brasil): diálogo com julio daio borges [c.w.] el artefacto literario (suécia): diálogo com mónica saldías [f.m.] Agulha - Revista de Cultura jornal da abca (brasil): diálogo com alberto beuttenmüller [f.m.] o escritor (brasil): diálogo com erorci santana [f.m.] .. editores da agulha .. parceiros da agulha . jornal de poesia .. triplov alô música TRIPLOV COMERCIAL TRIPLOV COMERCIAL CDs com o charme e a qualidade triplov.com.agulha editores: tiragem limitada (100 exemplares), numerada e autografada - a ciência como obra de arte Matriz da capa e contracapa dos CDs LIVROS EM CD (25 euros/exemplar, incluídos portes de correio) DAS VANTAGENS DE NÃO SER PRECIOSO Aspectos da exploração e uso do cobre em Portugal (1789-1889) Um ensaio de Isabel Cruz na área da História das ciências, premiado pela Câmara Municipal de Lisboa. Inédito em papel. Cem anos da História de um metal num percurso de investigação minuciosa, séria, com consulta de fontes primárias. TRIPLOV COMERCIAL "Francisco Newton, Cartas da Nova Atlântida (inédito em papel) - M.Estela Guedes. Ensaio em História do Naturalismo - aventuras do naturalista-explorador Francisco Newton em África, Portugal e Timor. "Fogo nas cartas" - Floriano Martins (inédito em livro) Selecta de resenhas críticas publicadas na imprensa brasileira nos últimos anos, sobre livros brasileiros e em tradução. "Herberto Helder, poeta obscuro" (esgotado em papel) - Maria Estela Guedes. Dado à estampa originalmente pela Moraes Editores, em 1979, foi o primeiro livro publicado sobre a "Poesia Toda" e os outros livros, em prosa e em verso, do grande poeta português. Considerado um dos 12 melhores ensaios editados em Portugal nesse ano, agora em versão digital, com duas diferentes páginas index que arrancam automaticamente com programa de autorun. "Para uma poética do hipertexto" - José Augusto Mourão Ensaio sobre a fascinante estrutura em rede do texto que corre no ciberespaço e sua influência na mudança da literatura. INTERCÂMBIO Para permuta com a "Atalaia-Intermundos", revista do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa, contacte com Pedro de Andrade: SECTORES DO TRIPLOV EM CD: Biblos-Alexandria, bibliografia científica relativa a Portugal - 150 euros, incluídos portes de correio. Zoo_Ilógico, o extraordinário campo da ilustração no naturalismo - 200 euros, incluídos portes de correio. TRIPLOV COMERCIAL ______________________ COMO ADQUIRIR OS CDs: Só procedemos à entrega após o pagamento. Comunique, se deseja algo que não está na lista, se pretende espaço para anunciar, e anúncios com qualidade TriploV/Efeitos Visuais. O envio é feito por correio normal e a forma de pagamento ser-lhe-á indicada quando enviar e-mail com o seu pedido e endereço postal para CURSOS DE PHOTOSHOP Básico e avançado) Simples e encantadores, falados e feitos em vídeo, estes cursos são ministrados por Magno Urbano. Aquisição dos CDs: http://www.efeitosvisuais.com Preço: 30 euros (incluídos portes de correio) MUSEU NACIONAL DE HISTÓRIA NATURAL, LISBOA EXPOSIÇÃO DE DINOSSAUROS ROBOTIZADOS "CARNÍVOROS!" Abre em em Fevereiro de 2003 Entradas simples - Tel.-213921836 [email protected]. Marcações de visitas em grupo: tel. (351) 213 921 824.