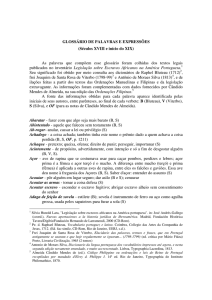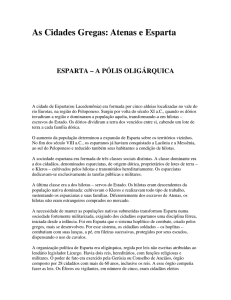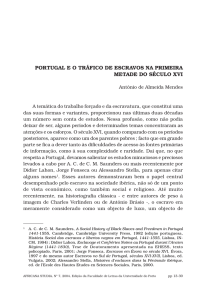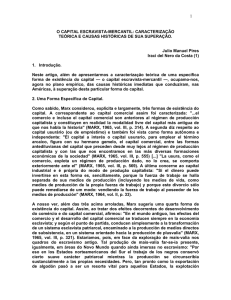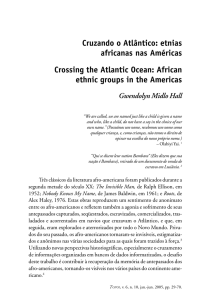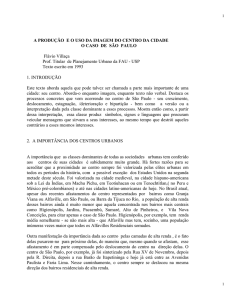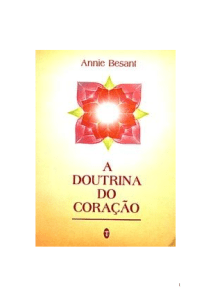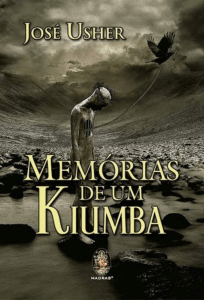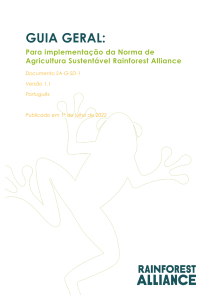ESTUDO DO MEIO – 2º ANO Um vale, dois tempos: Vale do Paraíba
Anuncio
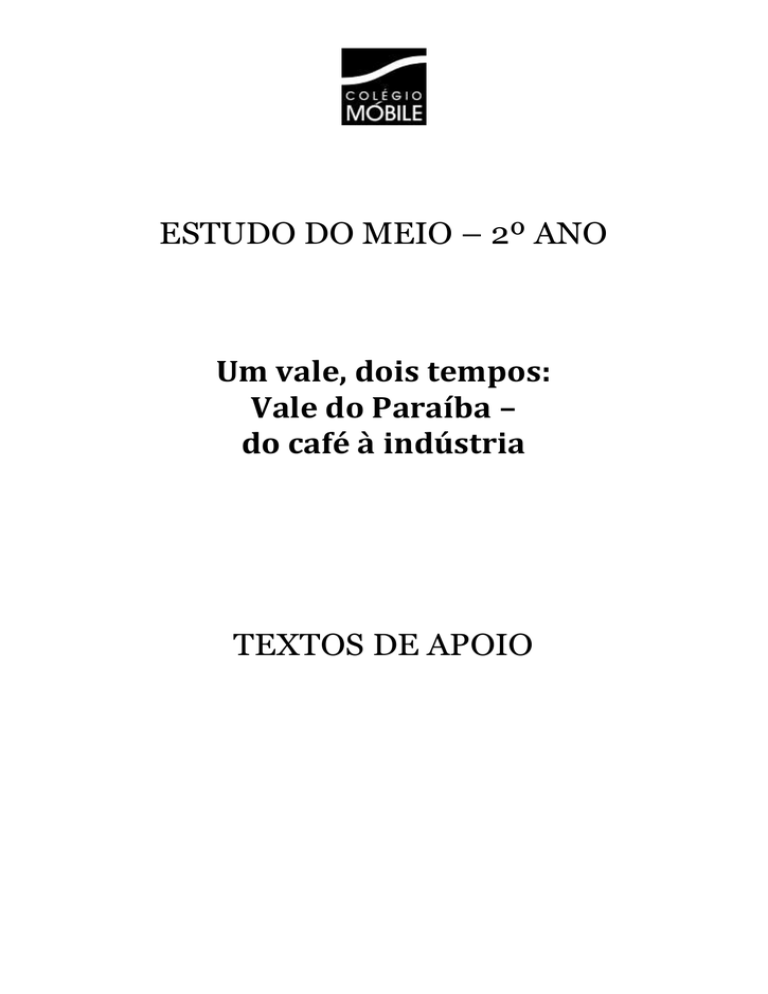
ESTUDO DO MEIO – 2º ANO Um vale, dois tempos: Vale do Paraíba – do café à indústria TEXTOS DE APOIO Texto 1 Cidades Mortas (1906) – Monteiro Lobato A quem em nossa terra percorre tais e tais zonas, vivas outrora, hoje mortas, ora em via disso, tolhidas de insanável caquexia, uma verdade, que é um desconsolo, ressurge de tantas ruínas: nosso progresso é nômade e sujeito a paralisias súbitas. Radica-se mal. Conjugado a um grupo de fatores sempre os mesmos, reflui com eles duma região para outra. Nilo emite peão. Progresso de cigano, vive acampado. Emigra, deixando atrás de si um rastilho de taperas. A uberdade nativa do solo é o fator que o condiciona. Mal a uberdade se esvai, pela reiterada sucção de uma seiva não recomposta, como no velho mundo, pelo adubo, o desenvolvimento da zona esmorece, foge dela o capital — e com ele os homens fortes, aptos para o trabalho. E lentamente cai a tapera nas almas e nas coisas. Em São Paulo temos perfeito exemplo disso na depressão profunda que entorpece boa parte do chamado Norte. Ali tudo foi, nada é. Não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito. Umas tantas cidades moribundas arrastam um viver decrépito, gasto em chorar na mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes. Pelas ruas ermas, onde o transeunte é raro, não matracoleja sequer uma carroça; de há muito, em matéria de rodas, se voltou aos rodízios desse rechinante símbolo do viver colonial — o carro de boi. Erguem-se por ali soberbos casarões apalaçados, de dois e três andares, sólidos como fortalezas, tudo pedra, cal e cabiúna; casarões que lembram ossaturas de megatérios donde as carnes, o sangue, a vida para sempre refugiram. Vivem dentro, mesquinhamente, vergônteas mortiças de famílias fidalgas, de boa prosápia entroncada na nobiliarquia lusitana. Pelos salões vazios, cujos frisos dourados se recobrem da pátina dos anos e cujo estuque, lagarteado de fendas, esboroa à força de goteiras, paira o bafio da morte. Há nas paredes quadros antigos, crayons, figurando efígies de capitães-mores de barba em colar. Há sobre os aparadores Luís XV brônzeos candelabros de dezoito velas, esverdecidos de azinhavre. Mas nem se acendem as velas, nem se guardam os nomes dos enquadrados – e por tudo se agruma o bolor râncido da velhice. São os palácios mortos da cidade morta. Avultam em número, nas ruas centrais, casas sem janelas, só portas, três e quatro: antigos armazéns hoje fechados, porque o comércio desertou também. Em certa praça vazia, vestígios vagos de “monumento” de vulto: o antigo teatro — um teatro onde já ressoou a voz da Rosina Stolze, da Candiani... Não há na cidade exangue nem pedreiros, nem carapinas; fizeram-se estes remendões; aqueles, meros demolidores — tanto vai da última construção. A tarefa se lhes resume em especar muros que deitam ventres, escorar paredes rachadas e remendá-las mal e mal. Um dia 2 metem abaixo as telhas: sempre vale trinta mil-réis o milheiro — e fica à inclemência do tempo o encargo de aluir o resto. Os ricos são dois ou três forretas, coronéis da Briosa, com cem apólices a render no Rio; e os sinecuristas acarrapatados ao orçamento: juiz, coletor, delegado. O resto é a “mob”: velhos mestiços de miserável descendência, roídos de opilação e álcool; famílias decaídas, a viverem misteriosamente umas, outras à custa do parco auxílio enviado de fora por um filho mais audacioso que emigrou. “Boa gente”, que vive de aparas. Da geração nova, os rapazes debandam cedo, quase meninos ainda; só ficam as moças — sempre fincadas de cotovelos à janela, negaceando um marido que é um mito em terra assim, donde os casadouros fogem. Pescam, às vezes, as mais jeitosas, o seu promotorzinho, o seu delegadozinho de carreira — e o caso vira prodigioso acontecimento histórico, criador de lendas. Toda a ligação com o mundo se resume no cordão umbilical do correio — magro estafeta bifurcado em pontiagudas éguas pisadas, em eterno ir-e-vir com duas malas postais à garupa, murchas como figos secos. Até o ar é próprio; não vibram nele fonfons de auto, nem cornetas de bicicletas, nem campainhas de carroça, nem pregões de italianos, nem ten-tens de sorveteiros, nem plás-plás de mascates sírios. Só os velhos sons coloniais — o sino, o chilreio das andorinhas na torre da igreja, o rechino dos carros de boi, o cincerro de tropas raras, o taralhar das baitacas que em bando rumoroso cruzam e recruzam o céu. Isso, nas cidades. No campo não é menor a desolação. Léguas a fio se sucedem de morraria áspera, onde reinam soberanos a saúva e seus aliados, o sapé e a samambaia. Por ela passou o Café, como um Átila. Toda a seiva foi bebida e, sob forma de grão, ensacada e mandada para fora. Mas do ouro que veio em troca nem uma onça permaneceu ali, empregada em restaurar o torrão. Transfiltrou-se para o Oeste, na avidez de novos assaltos à virgindade da terra nova; ou se transfez nos palacetes em ruína; ou reentrou na circulação europeia por mão de herdeiros dissipados. À mãe fecunda que o produziu nada coube; por isso, ressentida, vinga-se agora, enclausurando-se numa esterilidade feroz. E o deserto lentamente retoma as posições perdidas. Raro é o casebre de palha que fumega e entremostra em redor o quartelzinho de cana, a rocinha de mandioca. Na mor parte os escassíssimos existentes, descolmados pelas ventanias, esburaquentos, afestoam-se do melão-de-são-caetano — a hera rústica das nossas ruínas. As fazendas são Escoriais de soberbo aspecto vistas de longe, entristecedoras quando se lhes chega ao pé. Ladeando a Casa-Grande, senzalas vazias e terreiros de pedra com viçosas guanxumas nos interstícios. O dono está ausente. Mora no Rio, em São Paulo, na Europa. Cafezais extintos. Agregados dispersos. Subsistem unicamente, corno lagartixas na pedra, um pugilo de caboclos opilados, de esclerótica biliosa, inermes, incapazes de fecundar a terra, incapazes de abandonar a querência, verdadeiros vegetais de carne que não florescem nem 3 frutificam — a fauna cadavérica de última fase a roer os derradeiros capões de café escondidos nos grotões. — Aqui foi o Breves. Colhia oitenta mil arrobas!... A gente olha assombrada na direção que o dedo cicerone aponta. Nada mais!... A mesma morraria nua, a mesma saúva, o mesmo sapé de sempre. De banda a banda, o deserto — o tremendo deserto que o Átila Café criou. Outras vezes o viajante lobriga ao longe, rente ao caminho, uma ave branca pousada no topo dum espeque. Aproxima-se devagar ao chouto rítmico do cavalo; a ave esquisita não dá sinais de vida; permanece imóvel. Chega-se inda mais, franze a testa, apura a vista. Não é ave, é um objeto de louça... O progresso cigano, quando um dia levantou acampamento dali, rumo a Oeste, esqueceu de levar consigo aquele isolador de fios telegráficos... E lá ficará ele, atestando nitidamente uma grandeza morta, até que decorram os muitos decênios necessários para que a ruína consuma o rijo poste de “candeia” ao qual o amarraram um dia — no tempo feliz em que Ribeirão Preto era ali... (LOBATO, Monteiro. Cidades mortas. São Paulo: Globo, 2007. p. 21-24.) Texto 2 O Café Desaloja a Floresta Consolemo-nos com a consideração de que a terra foi dada ao homem, que as matas caem para estender o domínio da civilização. (Theodor Peckholt, 1871.) “As políticas sociais exigidas pelos grandes proprietários de terra do Brasil independente e imperial garantiam-lhes uma força de trabalho e os credenciavam a qualquer porção de terra pública que quisessem chamar de sua. Essas políticas não podiam garantir, no entanto, que o emprego dos recursos assim assegurados gerassem capital; na verdade, esse monopólio autoritário em grande parte frustraria sua utilização eficiente. No interior, havia vastas posses, habitadas por esfomeados e controlada por sátrapas cuja reserva de capital consistia em bois e porcos e cujas habitações, vestuário e conhecimento do mundo eram praticamente indiscerníveis dos de seus camponeses e escravos. A independência não exorcizara uma realidade colonial crítica: o capital para transformar essas terras estéreis em riqueza e poder efetivos tinha de vir do estrangeiro, através da venda de mercadorias apreciadas pelos países mais ricos. Quase tudo o que favoreceria tal fim precisava ser obtido na Europa. Desta vinha também o luxo que significava status para uma elite jovem que, durante quinze anos, observara de perto o seu consumo por parte de seus mentores e mestres da realeza. (...) 4 Os proprietários de terra ou o governo tampouco se mostravam capazes de avançar na aclimatação e no desenvolvimento das culturas tropicais que tanta atenção mereceram dos botânicos brasileiros e portugueses. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o museu de história natural rapidamente foram relegados ao quase abandono. Observadores estrangeiros notavam, consternados, que o Jardim Botânico, enriquecido com tantas espécies exóticas, não passava de um parque público no qual não se desenvolvia mais trabalho botânico algum. É sintomática da mudança de concepção das novas autoridades uma ordem, em nome do imperador recém-aclamado, escrita por José Bonifácio de Andrada e Silva, agora não mais um cientista praticante, mas o conselheiro político mais próximo de D. Pedro. Requisitava ao encarregado do museu os espécimes embalsamados de tucanos, ‘aqueles que têm as gargantas bem amarelas’, deixando apenas dois para 5 exibição, de sorte que se pudesse confeccionar um manto emplumado a tempo da coroação. Os dignitários estrangeiros testemunharam assim o intento exótico da nova dinastia de saquear seus recursos nativos para consolidar seu poder. O manto permanece em exibição no museu imperial de Petrópolis, um atestado da prioridade da nação em relação à natureza. (...) A região da Mata Atlântica experimentou por certo tempo o renascimento da exportação de sua cultura mais tradicional e menos aprimorada, a cana-de-açúcar. As plantações de cana-de-açúcar do Rio de Janeiro haviam entrado em declínio no início do século XVIII com a descoberta do ouro, o que aumentou o custo da reposição de sua força de trabalho escrava. O açúcar brasileiro perdera mercados da Europa setentrional quando os holandeses, franceses e ingleses estabeleceram plantações em suas colônias insulares no final do século XVII. Assim, as exportações do açúcar brasileiro sofreram múltiplos desfalques, atingindo a média de pouco mais de 10 mil toneladas anuais nos anos de 1750, pouco mais da metade da média de cinquenta anos antes. As exportações voltaram a crescer no final do século, à medida que a revolução e o conflito mercantilista assolavam o Caribe e o oceano Índico, elevando os preços e atraindo os comerciantes dispostos a correr os riscos aumentados do comércio em tempo de guerra. Em 1800, o Brasil vendeu cerca de 24 mil toneladas de açúcar. A cana-de-açúcar era cultivada em quase todo povoado neoeuropeu na região da Mata Atlântica porque o mascavo — açúcar não refinado, saturado de melaço — era um gênero básico e porque a garapa era a matéria-prima para a destilação da aguardente. Centenas, talvez milhares, de pequenos engenhos primitivos atendiam a uma demanda interna consideravelmente maior que a do mercado ultramarino. Enquanto cultura de plantation, produzida em larga escala para exportação, o açúcar era importante em núcleos dispersos ao longo das baixadas costeiras úmidas, de Natal ao Rio de Janeiro. O plantio comercial do açúcar tornou-se lucrativo também, marginalmente, no planalto paulista, após o calçamento, em 1792, da trilha de mulas que descia a escarpa costeira até Santos. Alguns anos depois, autorizava-se a exportação direta a partir daquele porto. A produção paulista continuou a se expandir; em 1836, havia 558 usinas em operação. (...) A área montanhosa acima da cidade imperial do Rio de Janeiro havia escapado ao plantio comercial da cana-de-açúcar, porque possuía apenas faixas isoladas de terras de aluvião adequadas à cultura. Mas outro produto tropical de plantation, que acenava para os proprietários de terra nessa zona problemática e ainda densamente florestada com a perspectiva de ganhos muito maiores, estava atraindo sua atenção. O mesmo recuo da concorrência colonial estrangeira, que estimulou a cana-de-açúcar, também incentivara uns poucos proprietários a experimentar uma planta quase desprezada pelos funcionários da Coroa e seus assistentes botânicos. Essa cultura nova, o café, tornar-se-ia, nas primeiras décadas do império, a base da economia exportadora do Rio de Janeiro. O café, ou Coffea 6 arabica, uma pequena árvore da família das rubiáceas, nativa do sub-bosque da floresta do sudoeste do planalto da Etiópia, gerava as sementes carregadas de cafeína tão apreciadas pelos moradores urbanos da Europa. Seu oportuno surgimento resolveria de modo brilhante a busca de um produto que o novo império poderia trocar pelas manufaturas e luxos da Europa. Tal como o século XVIII havia sido para o Brasil o século do ouro, o século XIX seria o século do café. Para a Mata Atlântica, entretanto, a introdução dessa planta exótica significaria uma ameaça mais intensa que qualquer outro evento dos trezentos anos anteriores. A chegada do café à região do Rio de Janeiro é obscura. Séculos antes, a planta havia sido transferida da Etiópia para o Iêmen, onde passou a ser cultivada comercialmente. Todo o café posteriormente introduzido no Sul e Sudeste da Ásia e no Novo Mundo derivou de duas variedades do Iêmen, atualmente conhecidas como ‘típica’ e ‘Bourbon’. Sementes da variedade típica podem ter chegado ao Brasil no final dos anos de 1600, talvez via Índia, mas o produto não era então exportado. Uma possível segunda introdução ocorreu em 1727: os franceses haviam recebido café dos holandeses e o transferiram para a Guiana Francesa. Um oficial da armada brasileira, para lá enviado a fim de verificar a situação da fronteira, carregara sub-repticiamente para Belém do Pará um punhado de sementes geradas por essas árvores. Ali e no vizinho Maranhão, logo se tornou um produto comercial modesto. Um juiz servindo no Maranhão pode ter trazido as primeiras mudas para o Rio de Janeiro em 1752 ou 1762. Foram conservadas no horto do mosteiro dos capuchinhos, mas aparentemente eram consideradas apenas plantas ornamentais. Quando o capitão e explorador James Cook visitou o Rio de Janeiro em 1768, descobriu que a cidade ainda estava importando café de Lisboa. Com a formação da Academia Fluviense em 1772, Johan Hopman, um holandês exilado que mantinha um horto, começou a distribuir as sementes dessas árvores e instruções sobre seu cultivo. Os primeiros que as receberam podem ter sido dois padres que possuíam fazendas nos subúrbios. Em 1779, quando o vice-rei Lavradio entregou seu cargo, o café ainda era tão insignificante que ele o desconsiderou em seu relatório final, muito embora mencionasse diversas outras culturas até menores. Enquanto isso, os franceses haviam adquirido a outra variedade do Iêmen e trouxeram-na para a ilha de Reunião — na época, chamada Bourbon, no oceano Índico. Essa variedade também chegou ao Brasil em alguma data incerta. Talvez tenha sido a que foi introduzida em 1782, obtida diretamente de Caiena pelo bispo José Joaquim Justiniano. Em 1790, pouco mais de uma tonelada de café foi produzida para o mercado local. Naquele ano, sua presença foi notada por Manuel Ferreira da Câmara, que previu que os solos do Rio de Janeiro ofereceriam a melhor localização para sua expansão. Considerando que a planta se tornou e durante um século e meio permaneceu o mais importante produto básico do Brasil, a reprimenda de Domingos Borges de Barros, escrita quando o cultivo do café era apenas incipiente, ecoa como lástima: 7 ‘Não sei por que gastamos tanto tempo, e papel, para saber quem comandou esta ou aquela batalha, quantos mortos tombaram no campo; e nada para transmitir para a posteridade os nomes daqueles a quem devemos esta ou aquela planta; será que, por acaso, é mais interessante saber quem contribui para a destruição que para a conservação da espécie humana?’ Para os infelizes condenados pela escravidão a cultivar o café por mais setenta anos, os heróis anônimos que o implantaram teriam parecido tão destrutivos quanto algum Napoleão ou Wellington. Embora o café definitivamente seja uma planta cujas safras e qualidade podem ser aumentadas através do tratamento cuidadoso que a propriedade familiar e os incentivos salariais podem suscitar, no Brasil seria cultivado e comercializado nas mesmas condições aplicadas ao cultivo da cana-de-açúcar. O café passou a ser o produto das grandes fazendas doadas em sesmarias, enquanto a corte portuguesa residia no Rio de Janeiro. Na verdade, o café foi a salvação da aristocracia colonial. Foi também a salvação da corte imperial cambaleante, que, assediada por rebeliões regionais e duramente pressionada a pagar pelas burocracias civil e militar necessárias para consolidar o Estado, foi resgatada pelas receitas do café que afluíam para a alfândega do Rio de Janeiro. Na época, esse comércio foi totalmente fortuito para o império. Caso as condições de cultivo tivessem sido mais favoráveis ao café nas distantes e rebeldes cidades do Recife, Porto Alegre ou São Luís, seriam geradas forças centrífugas que teriam dividido o Brasil. O império, portanto, mimou os fazendeiros do Rio de Janeiro: eles eram seu grupo de interesse primordial e seu esteio financeiro. Por outro lado, as exigências ecológicas dessa planta etíope colocavam os limites físicos para a reprodução do sistema de plantation e, portanto, para a estabilidade do império. A planta encontrou na província do Rio de Janeiro um ambiente adequado, se não ideal, para o seu cultivo. Exige precipitação pesada de chuvas, de 1300 a 1800 milímetros por ano, porque transpira continuamente e, como uma árvore do sub-bosque, não tem nenhum mecanismo para armazenar ou conservar umidade. Submetida a uma estação seca em seu hábitat nativo, retira umidade do solo a profundidades consideráveis — três metros ou mais — como reserva de água. O café foi a princípio plantado ao longo do litoral, onde pode ter sofrido um pouco com os ventos salinos oceânicos. Logo foi transferido para o planalto um pouco mais fresco, onde se dispõe de uma temperatura ótima de 20º a 24ºC. A estação seca mais pronunciada do interior também é favorável porque o início das chuvas é o principal indutor da florescência e porque a floração promove o amadurecimento simultâneo dos frutos. A estação seca, de maio até agosto, quando se realiza a colheita, oferece outra vantagem competitiva, porque facilita a secagem dos grãos ao ar livre, um processo que, em outras circunstâncias, teria de ser realizado em fornos a lenha. O café é mesial, isto é, exige solos que não sejam nem encharcados nem secos. Nas áreas altas do Rio de Janeiro, os fundos dos vales eram fracamente drenados e, dessa forma, o plantio tinha de ser feito em encostas íngremes e desencorajantes — os ‘mares de 8 morros’ ou ‘meias-laranjas’ da paisagem física regional. A Mata Atlântica estabilizara-se nessas áreas, ao longo de milhares de anos de incipiente intervenção humana, um solo raso mas moderadamente fértil e um tanto ácido. Esse material e a biomassa da própria floresta podiam, por um certo tempo, suprir os nutrientes essenciais. Era precisamente este o perigo para a Mata Atlântica: acreditava-se que o café tinha de ser plantado em solo coberto por floresta "virgem". O capital e o trabalho eram escassos demais para gastar no plantio em solos menos férteis. O café é uma planta perene — leva quatro anos para atingir a maturidade e pode permanecer produtiva por trinta anos — e assim podia-se imaginar que, uma vez implantado, representaria um regime agrícola de perspectivas estáveis e conservadoras. Mas não era assim. Nas plantações do Rio de Janeiro, plantações velhas não eram replantadas, mas abandonadas, e novas faixas de floresta primária eram então limpas para manter a produção. O café avançou, portanto, pelas terras altas, de geração para geração, nada deixando em seu rastro além de montanhas desnudadas. (...) A escolha do terreno onde plantar, enquanto ainda existisse floresta primária, era uma questão de mero empirismo. Uma patrulha de reconhecimento foi encarregada de localizar espécies consideradas como ‘padrões’ indicadores dos melhores locais para os cafezais. O manual dos agricultores, de Lacerda Werneck, com base em sua própria experiência, apresenta reflexões sobre as práticas dos fazendeiros mais representativos e aparentemente foi o mais lido, recebendo duas outras edições após sua primeira publicação, em 1847. Nesse manual, ele aconselhava que as encostas dos montes fossem observadas na primavera, quando muitas árvores da floresta estão em flor. Onde se visse o jacarandatã ou outras espécies determinadas — ele relacionava dezesseis —, a terra era de primeira qualidade. Todas eram, como o café, mesiais e eram encontradas apenas na floresta primária. Havia autores, contudo, que arrolavam outras árvores, e nem mesmo Lacerda Werneck acumulara experiência suficiente para ter certeza de que as condições de crescimento do café se equiparavam exatamente às do jacarandatã ou de algum outro padrão que ele mencionava. Lacerda Werneck também desaconselhava o plantio em encostas voltadas para o sul, que ele considerava frios demais; outros autores, com menos lógica, rejeitavam encostas voltadas para leste ou oeste. A espessura da camada de húmus era encarada como sinal promissor: supunha-se que ela devia ser suficiente para um homem afundar nela até o meio da barriga da perna. (Fica-se a imaginar se alguma das matas supostamente ‘primárias’ encontradas na região ainda apresentaria húmus espesso o bastante para se afundar nele até o meio da perna, quanto mais as ‘quatro palmas’ — 88 cm — mencionadas por Inácio Accioli de Vasconcellos; talvez os pesquisadores contemporâneos estejam ignorando um sinal claro da ação humana anterior nessas áreas.) É possível que os fazendeiros novatos ignorassem mesmo esses poucos conselhos e que aprendessem a partir da experiência, uma escola que custava para a Mata Atlântica ainda mais caro que aqueles conselhos. 9 Em outros lugares e climas, o café era cultivado na sombra, uma prática que imita seu hábitat original e que parece melhorar sua qualidade. No Brasil, em vez de preservar parte do dossel nativo, a floresta inteira era destruída na preparação para o plantio — salvo, aqui e acolá, um pau-d’alho. Essas árvores eram poupadas, porque eram consideradas o mais seguro de todos os padrões e, portanto, exibidas para um comprador potencial da fazenda como prova da produtividade de seus cafezais. (E quando os cafezais se arruinavam e eram abandonados, os paus-d’alho sobreviventes eram um conforto para o gado, porque transpiram uma secreção aromática que repele os insetos.) Não está claro se o desprezo pelo café sombreado foi uma inovação deliberada. Aparentemente, os primeiros fazendeiros tinham pouca noção de como se plantava o café em outros lugares e simplesmente aplicavam técnicas tradicionais de derrubada e queimada em uma escala maior e ainda mais drástica. Não foi senão muito depois de o cultivo do café no vale do Paraíba ter entrado em decadência que se levantou seriamente a questão de que o sombreamento poderia ter sido uma técnica superior. Por certo, a derrubada e a queimada eram a maneira mais barata de iniciar a produção, e isso talvez bastasse para justificá-las. (...) O terreno assim preparado pela mão purificadora do homem assemelhava-se um pouco a um moderno campo de batalha, enegrecido, fumegante e desolado. Muitas árvores tombadas tinham sido apenas parcialmente incineradas; eram deixadas a apodrecer com seus tocos ainda enraizados e os troncos caídos ao longo da linha da encosta. Então as turmas encarregadas do plantio procediam da maneira obviamente menos estafante, trabalhando morro acima. Assim, os pés de café eram alinhados da forma mais desastrosa imaginável. As fileiras se desviavam ao subir as encostas, orientadas pelas formas dos troncos caídos. Descendo as fileiras, as chuvas cavavam sulcos, formando gargantas entre elas, carregando o húmus e a camada superficial do solo com rapidez e eficiência. Nunca houve a prática de girar os troncos para formar barreiras contra a erosão. Ao contrário, os troncos caídos transversalmente eram receados e evitados porque, quando os tocos e raízes que os mantinham no lugar apodreciam, sabia-se que rolavam morro abaixo, arruinando pés de café e esmagando trabalhadores que por azar estivessem no caminho. O exilado francês Jousselandière afirmou que oito dos escravos de um amigo seu tinham sido mortos por um único tronco que havia rolado. Só depois que as chuvas começavam a expor as raízes é que se faziam pequenos esforços para fazer taludes para impedir o deslizamento. (...) Os proprietários de fazendas não dispunham dos recursos para colocar de imediato todas as suas propriedades na produção de café e, assim, o vale do Paraíba se tornou uma colcha de retalhos de cafezais e floresta primária à medida que, em primeiro lugar, as encostas voltadas para o norte e, depois, os locais menos favoráveis, eram queimados e plantados. O rápido envelhecimento dos pés em seus poleiros precários aumentava o valor da floresta remanescente: ‘A riqueza de uma plantação consiste, portanto, menos na grande extensão de seus cafezais que nas terras disponíveis para o plantio futuro da 10 rubiácea’, como afirmou o naturalista Hermann von Burmeister. Os principiantes no negócio do café preferiam comprar terras mais acima do vale, ao longo da fronteira da província de São Paulo, ou na zona da Mata, a zona de florestas de Minas Gerais que mais recentemente havia sido despojada de sua população indígena, onde ficavam as nascentes dos rios Doce, Pomba e das Mortes. O café chegou um pouco mais tarde ao Espírito Santo, onde as condições de solo e crescimento eram menos favoráveis. Assim, o cultivo do café espalhou-se de modo extensivo e uma parcela considerável da região montanhosa da Mata Atlântica foi transformada em um mar encapelado de pés de café. (...) O primeiro século do cultivo comercial do café na região da Mata Atlântica — 1788 a 1888 — foi também o último da escravidão. Durante esse período, o Brasil produziu cerca de 10 milhões de toneladas de café, quase todas passando pelos portos do Rio de Janeiro e Santos. Supondo-se que setecentos quilos fossem o rendimento médio por hectare, e supondo-se que o cafezal médio fosse economicamente produtivo durante vinte anos, então foi necessário desmatar para esse fim uns 7200 km2 de floresta primária, o equivalente a trezentos milhões de toneladas de biomassa florestal consumida em fumaça. Essa área representava aproximadamente 18% da superfície da província do Rio de Janeiro, onde quatro quintos desse café foram plantados. A essa área deve-se acrescentar a floresta derrubada para subsistência da força de trabalho escrava, que deve ter chegado, em média, a 140 mil pessoas. Uma parcela desconhecida de roças de subsistência, talvez nas encostas voltadas para o sul, pode ter sido coberta de floresta primária. Na época do colapso da escravidão, as terras consideradas adequadas para o cultivo de café estavam quase exauridas no Rio de Janeiro. O quanto seriam biologicamente únicas essas zonas da Mata Atlântica? Infelizmente, não se trata de uma questão que possa ser objeto de investigação retrospectiva, embora seja historicamente verificável que poucas de suas espécies foram coletadas antes de virarem fumaça. Auguste de Saint-Hilaire achava que a zona ocidental do Vale do Paraíba abrigava a vegetação mais diversificada que ele vira em todas as suas viagens pela Mata Atlântica. Bem se pode perguntar, portanto, se algumas das criaturas, especialmente do dossel, que davam sombra a ele e a seus colegas cientistas – mas que eles não dispunham de meios para investigar –, já não estariam desaparecendo para sempre. Parece ao menos possível que as extinções eram parte do preço para se levar 10 milhões de toneladas de café ao mercado, mesmo que as espécies cujos representantes estão armazenados em frascos de conserva e prensadas em lâminas no Jardin des Plantes e no Bayerische Botanische Gesellschaft tenham até agora sobrevivido. Esses primeiros investigadores não dispunham nem do tempo nem dos recursos para fazer mais que recolher amostras das formas de vida das florestas que atravessavam. Quase todos eles se mantiveram nas mesmas trilhas de mulas, na maioria evitavam as florestas altas, que eram demasiado impenetráveis e problemáticas, e suas expedições foram realizadas após já iniciado o assalto à floresta. Entre os botânicos, apenas o brasileiro Francisco Freire Alemão aproveitou a oportunidade apresentada pela destruição da floresta: corria de uma equipe de derrubada para outra, para examinar as gigantes abatidas que estavam sendo previamente retiradas para depois queimar as restantes. Mas ele era apenas um indivíduo, que mal dava conta de estudar as árvores em 11 si, quanto mais suas epífitas e parasitas. Além disso, carecia de fundos para coletar e armazenar tudo que encontrou ou para publicar suas anotações. (...) As receitas do café, arrecadadas nas alfândegas do governo imperial, foram em grande parte gastas na rede ferroviária que levava o café para o mercado; parte considerável desse investimento foi antieconômico, uma vez que faliram as fazendas de café por ele atendidas. A maior parte do restante desses recursos se destinou ao pagamento de salários do serviço público civil e militar, que, ao final do ciclo do café, incluía muitos herdeiros das famílias das fazendas decadentes. Quando, à medida que a economia do Vale do Paraíba cambaleava, o império teve dificuldades em manter os padrões de vida dos fazendeiros, estes se mostraram ingratos e se pronunciaram em favor de uma república. O café atraiu algum capital estrangeiro para a área, mas quase todo ele chegou em apoio direto ou indireto do comércio em si, oferecido apenas na perspectiva de retornos especulativos e de curto prazo que fossem maiores que os obtidos nos países de origem. Essas reflexões sugerem que uma política de recursos voltada para a estabilidade e a renovação destes poderia ter atendido melhor ao bem-estar político e econômico e de mais longo prazo dos habitantes do sudeste da Mata Atlântica, inclusive da própria classe superior proprietária de terras. Um século depois da introdução do café, Augusto Ruschi, o grande naturalista e ambientalista do Espírito Santo, lamentava o resultado: ‘Jamais restabeleceremos o clima e as condições bióticas do solo que possuíamos.’ Ainda que fosse do café ‘que a vida de nossa gente depende; dele depende um bom ou mau governo’, ainda assim, vaticinava Ruschi, ‘daríamos tudo que desfrutamos em decorrência desta monocultura do café para ficar livres deste intruso indesejável’. As características da sociedade pós-colonial — sua avidez pelo lucro imediato, concentração de riqueza, fixação na vigilância e no controle, empirismo extremo e total desrespeito por aquilo que apenas cem anos depois uns poucos iluminados lembrariam como riqueza natural inestimável — evocam instantaneamente o quanto é fútil levantar agora tais objeções quando o feito está consumado e nenhum traço da floresta restou sobre os morros secos e amarelados do vale do Paraíba. Nós que nos reportamos a esses eventos com uma perspectiva de mais de um século podemos imaginar que a ciência moderna concebeu meios mais saudáveis para o mesmo fim, mas não é bem este o caso. Embora a seleção, reprodução, plantio e cultivo do café tenham se racionalizado bastante, ainda não existe ferramenta melhor que a caixa de fósforos para estabelecer uma plantação de café. A floresta primária sobrevivente, na região da Mata Atlântica ou em qualquer outro lugar no Brasil — ou, de fato, no resto do mundo tropical —, onde alguma parte dela encontre solos adequados para se disseminar, continua a ser uma enorme tentação para qualquer um que, mediante um ganho, se disponha a administrar à espécie humana sua dose diária de cafeína.” (DEAN, Warren. A ferro e fogo. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 183-205.) 12 Texto 3 Os interiores do interior cafeeiro: utilidades e confortos domésticos O processo de enriquecimento do interior paulista possibilitado pela economia cafeeira acabaria por gerar também uma transformação radical dos objetos que guarneciam as residências, especialmente os solares rurais e sobrados urbanos dos fazendeiros. Nas moradias de colonos e nas vilas operárias, tais modificações seriam bem menos sensíveis e, menos ainda, naquelas dos escravos. A suntuosidade das residências das elites que, durante todo o período colonial, se pautava por móveis barrocos e rococós realizados no Brasil com madeira nobres da terra, bem como por algumas peças de prata e as caríssimas porcelanas chinesas, ou “da Índia”, substituiria esses itens por uma enxurrada de objetos importados da Europa e por outros produzidos aqui em sintonia com os novos padrões franceses e ingleses. Da mesma forma que se processara com a transformação da indumentária, a abertura dos portos, a instalação da Corte no Rio de Janeiro e os altíssimos lucros proporcionados pelo café introduziriam os costumes sofisticados das cidades aburguesadas europeias no cotidiano das elites paulistas, reduzindo a importância das tradições portuguesas e mesmo dos luxos de gosto asiático. Os altos investimentos necessários à compra de escravos para garantir a produção do café ou mesmo a expansão de terras agricultáveis retardaram, em muitas regiões paulistas, a sofisticação dos interiores domésticos. No próprio Vale do Paraíba, a primeira área cafeicultora em São Paulo, as casas permaneceram despojadas durante quase toda a primeira metade do século XIX, período em que a inversão de capital na produção limitava qualquer gasto excessivo. O naturalista Saint-Hilaire, ao passar por Areias em 1822, não sem espanto constatou, junto a um compatriota fixado nos arredores da localidade, o paradoxo entre a riqueza do café e o estilo rústico dos proprietários: “Perguntei ao francês (...) em que empregavam o dinheiro. ‘O Sr. pode ver, respondeu-me, que não é construindo boas casas e mobiliando-as. Comem arroz e feijão. Vestuário também lhes custa pouco, e nada gastam com a educação dos filhos (...) É, pois, comprando negros que gastam todas as suas rendas e o aumento da fortuna se presta muito mais para lhes satisfazer a vaidade do que para lhes aumentar o conforto.” Saint-Hilaire ainda constatou ali que a casa rural do capitão-mor Domingos da Silva Moreira mantinha-se sóbria como nos velhos tempos da capitania paulista: “A morada do capitão tem um pátio pequeno, fechado por uma porteira, ao fundo da qual ficam algumas pequenas construções. Como em todas as fazendas que vi hoje, a casa do proprietário é baixa, pequena, coberta de telhas, construída de pau a pique e rebocada de barro. O mobiliário do cômodo em que fui recebido corresponde em muito ao exterior, e consiste unicamente numa mesa, um banco, um par de tamboretes e uma pequena cômoda.” Já ultrapassada a metade do século XIX, o inventário para partilha no processo de separação conjugal de José Luis Pereira, um dos mais ricos fazendeiros de Queluz, vizinha a Areias, demonstra o quanto os traços da vida simples dos velhos paulistas ainda resistiam em 13 meio à riqueza do café. Os bens arrolados em sua morada resumiam-se a: “582 oitavas de prata velha, um par de esporas de prata, um relógio patente de Roskler com corrente, uma bacia de arame usada, 5 arrobas de cobre velho, um tacho pequeno, uma balança grande, uma cabeçada velha para tropa, uma mesa grande, uma mesa pequenina, uma marquesa francesa, três marquesas singelas, 6 cadeiras de palhinha.” Era tudo que possuía em bens móveis um fazendeiro que tinha uma fortuna de 317 contos de réis, suficiente para comprar mais de 200 escravos.” A sedução pela projeção social possibilitada por salas de receber bem decoradas e pelos serviços de mesa, café e chá foi, entretanto, deixando para trás os costumes mais sóbrios, especialmente após a consolidação dos latifúndios e dos grandes plantéis de cativos. As casas deviam, portanto, corresponder à riqueza dos fazendeiros de café. Pela primeira vez, desde o início da colonização da América pelos portugueses, as elites paulistas puderam dispor, nas moradias, de luxo equivalente ou superior ao das residências das ricas famílias nordestinas ou do Rio de Janeiro. A sofisticação incipiente das moradas dos fazendeiros do “Quadrilátero do Açúcar” iria ser generalizada e ampliada para a própria região, para o Vale do Paraíba e mesmo para as áreas mais longínquas das ferrovias Paulista e Mogiana. As estradas de ferro foram, aliás, grandes favorecedoras, ao longo da segunda metade do século XIX, dos novos hábitos de consumo, já que os vagões cargueiros transportavam com muito maior rapidez, e segurança contra danos, todo tipo de mobiliário, além de serviços de porcelana e cristal. Pode-se, assim, dividir o século quase que em duas partes distintas, na medida em que as ferrovias agilizaram o transporte, antes feito pelas lentas tropas de muares. Como havia acontecido com as novas modas de indumentária, os cafeicultores puderam então conhecer a vasta oferta de objetos manufaturados ou industrializados não apenas mediante catálogos, mas também pelas viagens frequentes à capital paulista, à Corte e à Europa. Tanto nas fazendas quanto nas moradas urbanas, as salas receberam móveis neoclássicos tardios, inspirados nas linhas napoleônicas e na produção alemã denominada Biedermeier, e, sobretudo, a grande marca dos móveis de salão do século XIX: as cadeiras, poltronas e sofás de palhinha. Substituindo os duros assentos de sola ou os de damasco de seda carmim comuns no período colonial, os assentos e encostos de medalhão oval com as finas tiras de palha trançada tornavam os móveis mais leves, permitindo rearranjos para bailes ou flexibilizando a disposição para recepções mais amplas ou íntimas. O jacarandá continuou a ser uma das madeiras preferidas para esse mobiliário, mas a caviúna e a madeira de óleo tornaram-se grandes concorrentes. Os móveis de palhinha, inspirados nas peças francesas dos reinados de Luís Felipe e Napoleão III, foram aqueles de maior impacto no mobiliário brasileiro do século XIX, incluindo o do interior paulista. São incontáveis as peças que permanecem nas coleções familiares ou em museus do interior e da capital, bem como as menções presentes nos inventários post mortem depositados nos cartórios judiciais. No que tange à região de Campinas, são exemplares importantes dos móveis de salão em palhinha aqueles que pertenceram aos barões de Ataliba Nogueira, de Anhumas, ao marquês de Três Rios e à família Camargo Andrade, conservados em mãos de descendentes. No Bananal, conjuntos expressivos estão 14 entre os descendentes de Píndaro de Carvalho Rodrigues e Maria Luiza Vallim Fagundes Porto, e em Itu, no acervo do Museu Republicano. Devem-se destacar também os conjuntos de móveis de receber tanto da Fazenda do Pinhal, em São Carlos, quanto do Solar dos Camargo, em Guaratinguetá. As duas residências representam um caso raro de conservação não apenas do mobiliário familiar, mas também de enfeites, louças, cristais, imagens religiosas, utensílios de cozinha, documentos oficiais, cartas e fotografias, que foram meticulosamente guardados pelos descendentes, constituindo um legado inestimável da ambientação doméstica do século XIX. O missionário norte-americano Daniel Kidder, que passou pela cidade de São Paulo em 1839, descreveu os novos móveis leves e sua grande difusão nas ricas moradias locais, um padrão que se repetia, aliás, nos salões das elites no interior: “A mobília da sala de visitas varia de conformidade com o maior ou menor luxo da casa, mas o que se encontra em todas elas é um sofá, com assento de palhinha e três ou quatro cadeiras dispostas em alas rigorosamente paralelas que, partindo de cada extremidade da primeira peça, projetam-se em direção ao meio da sala. Quando há visitas, as senhoras sentam-se nos sofás e os cavalheiros, nas cadeiras”. Outros móveis característicos do século XIX e que alcançaram as primeiras décadas do século XX são os de madeira encurvada, chamados comumente de Thonet. Produzidos em grande quantidade na Áustria e posteriormente no Rio de Janeiro, tiveram grande popularidade no Brasil, para o que favorecia o preço mais acessível, apesar da importação. Ao contrário dos móveis citados anteriormente, os móveis Thonet usavam madeiras de baixa densidade que permitiam vergamento, o que os tornava muito leves e facilmente transportáveis. Cadeiras desse padrão, algumas delas com enfeites florais entalhados presos no alto do encosto, podem ser frequentemente encontradas nas cidades paulistas do café. Consoles (pequenos aparadores junto à parede) e mesas de centro com tampos de mármore branco foram igualmente dispostos nas salas de receber e serviram de base para relógios, estatuetas e vasos de porcelana francesa de Sèvres ou de opalina (vidros translúcidos coloridos). Mangas de vidro ou cristal cercavam e protegiam as chamas das velas suportadas por castiçais de prata ou de cristal lapidado. Lustres de metal com grandes pingentes de cristal lapidado, como aqueles célebres que pendiam nos salões do comendador Manoel de Aguiar Vallim, no Bananal, hoje pertencentes ao Museu Paulista, espalhavam pelos salões os reflexos da tênue luz das velas e presidiam aos encontros sociais. Cristaleiras e aparadores-guarda-louça (as étagères francesas) eram dispostos nas salas de jantar, guarnecendo as paredes que cercavam as longas mesas para mais de uma dúzia de pessoas. Pelos vidros nas portas destes últimos, muitas vezes lapidados com delicados motivos florais ou com o monograma do proprietário, as famílias podiam ostentar a louça e as porcelanas, bem como os cristais e serviços de chá em prata. A antiga primazia mantida pela porcelana asiática ao longo da Era Moderna, quando era importada com enorme custo pelo Ocidente, foi profundamente abalada pela fabricação de louça e também de porcelana na Europa, compradas a rodo pelos fazendeiros de café. Deve-se diferenciar a louça da porcelana. A louça, normalmente uma faiança de material de cor terrosa revestida de uma capa de material vitrificado, pode ser identificada com 15 facilidade virando-se a peça para baixo: o ponto onde esta tocava no forno revela o material interno. Os ingleses especializaram-se na produção de faianças, que chegaram aos milhares no Brasil durante o século XIX. O tipo mais comum procurava imitar a chamada porcelana de Macau, isto é, tinha seu revestimento externo nas cores azul e branca, tentando reproduzir os motivos orientais do produto chinês. O padrão decorativo mais usual foi o chamado “willow”, popularmente denominado no Brasil de “azul-pombinha”, pois traz no centro da figura duas aves voando sobre uma paisagem litorânea na qual se passa uma lenda chinesa. Muito mais cara do que a louça, a porcelana era feita de uma mistura de caulim, uma substância terrosa esbranquiçada, mais quartzo e feldspato, que endurece quando cozida e se torna translúcida. Difere, portanto, da faiança, que é opaca. Os fazendeiros de café paulistas estiveram entre os grandes consumidores brasileiros da porcelana francesa, sobretudo aquela produzida em Limoges e Paris, bem como de diversas procedências inglesas. Monogramas e sobretudo os brasões dos paulistas nobilitados por D. Pedro II ornavam os serviços, compostos de pratos de diversos formatos, travessas, sopeiras, molheiras, serviços de chá e café, bem como as cremeiras, em que eram servidos os cremes de ovos doces. Muito disputadas por colecionadores, essas porcelanas indicam claramente a rápida sintonia entre os hábitos que se queriam implantar nas fazendas e sobrados ou palacetes urbanos com aqueles costumes das elites europeias dos Oitocentos. Livros de etiqueta e preceptores eram igualmente demandados pelos fazendeiros paulistas, obrigados a aprender as boas maneiras e a nova sociabilidade dos salões que a projeção econômica e política exigia dos rudes produtores de café. Os cristais foram igualmente consumidos com avidez pelas elites paulistas. As fábricas francesas Saint-Louis e Baccarat forneceram incontáveis remessas de serviços de mesa, cálices e licoreiras, bem como as compoteiras e fruteiras ostentadas nos aparadores. Os serviços e faqueiros de prata francesa Christofie e os objetos decorativos produzidos pela fundição alemã WMF concorriam com a produção de prateiros brasileiros, portugueses e ingleses e estiveram também entre os itens mais procurados pelos fazendeiros em fins do século XIX e início do seguinte. Completava-se, assim, o rol de consumo sofisticado em que se inseriam os cafeicultores paulistas. Estes acabavam, de certa maneira e guardadas as apropriações específicas dos objetos, participando de uma comunidade cultural entre as elites ocidentais antes da Primeira Guerra Mundial. No que toca à decoração dos salões pertencentes aos cafeicultores, cabe ainda ressaltar a grande novidade representada pela difusão dos retratos a óleo. Requinte antes possível apenas às famílias mais ricas da capitania, como era o caso dos já mencionados retratos da família Souza Queiroz, os fazendeiros puderam obtê-los graças a visitas aos ateliês da Corte e, sobretudo, aos pintores retratistas que passaram a peregrinar pelas cidades e vilas do café. Entre estes últimos, encontram-se o inglês James Stwart e também o francês Claude Barandier, que deixou retratos de Luciano José de Almeida e de sua esposa Maria Joaquina Sampaio de Almeida, os mais ricos fazendeiros do Bananal, além dos barões de Atibaia e de Ildefonso Antonio de Morais, moradores em Campinas. Nesta cidade, a mais rica do chamado Oeste Paulista durante o século XIX, também produziram retratos Joaquim da Rocha Fragoso, Elpinici Torrini, Emilio Vilanueva, Salvador Scolá e Fernando Piereck. 16 Outro gênero de pintura que decorou os salões dos produtores de café foram as paisagens representando as próprias unidades rurais. As fazendas Antinhas e Boa Vista (Bananal), Sete Quedas (Campinas), Santa Gertrudes (Rio Claro), Ribeirão Bonito (Jaú) e Pinhal (São Carlos) estão entre as que foram alvo dos pincéis dos artistas. Essa prática acabou por legar um importante documento da aparência das sedes e construções anexas, algo bastante relevante tendo em vista que poucas delas ainda mantêm intactas as senzalas ou mesmo as fileiras de casas de colonos. Quanto aos dormitórios, as camas mais requintadas poderiam ser encostadas à parede, sendo portanto com apenas três faces decoradas com relevos ou marchetarias, ou ainda com espaldar alto, portando entalhes ornamentais mais comedidos. Urinóis de louça, muitos com tampa, eram peças frequentes. O restante da mobília de quarto resumia-se a arcas e à chamada toalete, ou lavatório, composto de uma cômoda ou mesa de encostar com tampo de pedra e um espelho. Já em fins do século XIX, começavam a aparecer os armários guardaroupas, mancebos, penteadeiras, cômodas e também os psichês, grandes espelhos encaixados em um móvel de apoio. As cozinhas eram ainda dotadas de fogões a lenha, sendo os de ferro fundido bastante tardios. O equipamento para o preparo de alimentos compunha-se de tachos, panelas, caçarolas, frigideiras, chocolateiras e caldeirões, entre outros, em geral fabricados em ferro e cobre. Panelas de barro e gamelas, por serem mais simples e de custo ínfimo, nem sempre constavam nos inventários, mas é de supor que estivessem presentes nas moradas mais ricas, ainda que, obviamente, fossem mais comuns nas mais modestas. As moradias populares, aliás, pouco puderam acompanhar as modernidades dos fazendeiros e jamais seus luxos. Tanto nas casas de colonos imigrantes quanto nos quartos das senzalas (quando não eram coletivas) ou nas casinhas da população pobre, os equipamentos eram sempre modestos. A sobriedade chegava, às vezes, a situações extremas, como aquela relatada por Augusto Zaluar, português fixado no Brasil e autor de um relato célebre sobre sua estada na província de São Paulo entre 1860 e 1861. Visitando a choupana de Inês, a última índia puri da antiga aldeia de Queluz, no extremo do Vale do Paraíba paulista, Zaluar, deixou um importantíssimo testemunho de como se podia rejeitar não apenas os confortos domésticos como a própria inserção na sociedade produtiva ocidental, em franca expansão na São Paulo oitocentista: “Durante todo o tempo em que a interrogamos, conservou-se de pé, com os braços erguidos e as mãos enlaçadas em uma das traves do engradamento do teto. Por aqui se pode calcular a altura da choupana (...) Não havia ali nem cama, nem mesa, nem mobília de qualidade alguma. No entanto, lá moram a velha, uma filha e quatro netos! Apesar de toda esta miséria, a velha indígena antes quer viver esmolando de fazenda em fazenda a se curvar a qualquer gênero de sujeição que a prive de seus hábitos de independência.” Embora a situação descrita seja radical diante do caráter específico do que restava de uma comunidade indígena, deve-se lembrar que as moradias populares guardavam muito do improviso ou do desapego material vindo de um passado movediço ou alheio à acumulação. A pobreza a que estava reduzida a população livre colaborava para a rusticidade do interior dos casebres de pau a pique, mas afinal as moradias de fazendeiros de Areias e Queluz, aludidas 17 acima, não eram muito distintas daquelas que os naturalistas Spix e Martius visitaram em Taubaté, em 1817, e que se reproduziriam em São Paulo por todo o século XIX e parte do XX: “O mobiliário dessas casas limita-se igualmente ao estritamente necessário; amiúde, consiste, apenas, em alguns bancos e cadeiras de pau, uma mesa, uma grande arca, uma cama com tabuado assentado sobre quatro paus (jiraus), coberta com esteira ou pele de boi. Em vez de leitos, servem-se os brasileiros, quase por toda a parte, de redes tecidas ou entrelaçadas maqueiras, que, nas províncias de São Paulo e Minas, são mais fortes e caprichosamente feitas com fio de algodão branco e de cor.” Os escravos viviam de maneira ainda mais rústica, nas senzalas coletivas ou, ocasionalmente, em pequenos quartinhos ou barracos destinados a casados ou famílias. Ina von Binzer, a preceptora alemã que serviu a famílias de grandes fazendeiros, deixou célebres relatos da vida cotidiana da sociedade cafeeira, entre eles um trecho em que descreve a exiguidade do mobiliário de um barraco de cativos: “Um cobertor de lã, vermelho, um bauzinho de latão, uma mesa indescritivelmente primitiva, além de algumas panelas, pratos e pequenos utensílios, eram a única ornamentação.” A simplicidade dos caipiras e escravos paulistas não encontraria grande contraste naquilo que seria possível comprar para uso doméstico pelos imigrantes. Premidos pela necessidade de pagar as viagens transoceânicas ou mesmo para guardar economias que permitissem a melhora de vida, é imaginável que os estrangeiros reduzissem a compra de objetos domésticos ao mínimo necessário. Depoimentos de viajantes italianos que percorreram as novas áreas cafeicultoras do oeste, onde se concentrava a maior parte de seus compatriotas, ressaltam o grande asseio em meio ao ambiente de conforto módico e marcado por lembranças da terra natal: “A mobília era modesta, mas limpa; na cozinha, panelas, caçarolas e louças, que eram na maioria de barro cozido, algumas vezes esmaltadas; mesas e algumas cadeiras ou bancos, raramente armários. (...); no quarto, um leito normalmente alto (...) com lençóis de pano grosseiro, mas limpos; um baú no canto continha as roupas (...); das paredes pendiam imagens de santos, crucifixos, retratos de parentes distantes, quadros da família real, de Garibaldi ou Mazzini.” Já os japoneses tinham ainda mais desapego a objetos domésticos, vivendo em ambientes que pouco eram além de pousos noturnos; “A sala muitas vezes não passava de um espaço vazio, sem mesa, bancos ou cadeiras e não era mais que um depósito.” Apenas com o passar do tempo o estrado com esteira em que se sentavam à japonesa foi abandonado em favor de mesas e cadeiras, embora o ofurô, para o banho de imersão, fosse peça construída assim que possível. Recentemente, a Hospedaria dos Imigrantes, situada no bairro paulistano do Brás, tem recolhido ou exposto objetos de uso cotidiano dos imigrantes instalados em São Paulo, colaborando para divulgar aspectos da vida material desses paulistas nem sempre alcançados pelas memórias publicadas ou mesmo por inventários post mortem. O Museu Histórico da Imigração Japonesa, também localizado na capital, guarda igualmente uma expressiva quantidade de objetos de uso doméstico dos nipônicos instalados nas fazendas de São Paulo e pode servir como modelo para outras comunidades que queiram reunir testemunhos 18 materiais das condições de vida enfrentadas no dia a dia das fazendas ou das cidades paulistas. É necessário frisar, portanto, que o contraste entre o ambiente doméstico das elites cafeicultoras e os demais estratos da população paulista era enorme. A relativa proximidade entre a vida cotidiana de ricos e pobres garantida pela economia modesta da São Paulo do século XVI e meados do XVIII foi sendo dissolvida pelo enriquecimento do açúcar para, finalmente, ser diametralmente oposta devido ao requinte permitido pelos imensos lucros gerados pela produção cafeeira. A mesma dicotomia entre ricos e pobres seria também materializada pela arquitetura, tanto no meio rural quanto nas cidades do café. (Terra Paulista: histórias, arte, costumes. Modo de vida dos paulistas: identidades, famílias e espaços domésticos. Os interiores do interior cafeeiro. São Paulo: Imprensa Oficial, p. 145 a 156.) Texto 4 A arquitetura dos tempos do café, no campo e nas cidades De todos os legados culturais deixados pela expansão da economia cafeeira pelo território paulista desde o princípio do século XIX, as diversas formas de arquitetura doméstica talvez sejam as que mais marcaram a transformação dos costumes locais. A expressiva construção de fazendas, senzalas e colônias de imigrantes por todos os quadrantes de São Paulo, bem como o grande incremento das construções urbanas, estimulado pela importância das vilas e cidades como centros comerciais e ferroviários, propiciou o surgimento de um amplo e diversificado conjunto arquitetônico que ainda hoje pontua os antigos municípios do café. De modo semelhante ao que ocorrera com o consumo de objetos luxuosos, o café também permitiu aos paulistas, em especial às elites, terem, afinal, uma produção arquitetônica de grande magnitude, comparável àquela havida durante o período colonial em Minas, Rio de Janeiro e nas capitanias nordestinas. As modestas casas “bandeiristas” e os primeiros engenhos de açúcar foram suplantados pelas construções rurais cafezistas tanto no que se refere à dimensão das sedes e ao requinte dos acabamentos decorativos internos como na imensidão de senzalas, construções e terreiros para beneficiamento e estocagem dos grãos de café, além das incontáveis fileiras de pequenas casas destinadas aos imigrantes, chegados sobretudo a partir do último quartel do século XIX. O Vale do Paraíba, a primeira região a enriquecer com o café, guarda sobretudo os remanescentes das grandes fazendas e casario urbano do século XIX, sendo ali absolutamente predominante a arquitetura ligada à produção baseada no trabalho servil. Já no oeste, isto é, nas regiões das ferrovias Mogiana, Paulista e Sorocabana (além da Noroeste e Araraquarense, mais tardias), a maioria dos testemunhos arquitetônicos ainda existente está vinculada à era dos imigrantes assalariados, embora haja exemplos de fazendas de mão de obra escrava, como a do Pinhal, em São Carlos, que ainda mantém as habitações dos cativos. 19 Os vários tipos de senzala As décadas seguintes à Abolição representaram um período crítico para a manutenção do patrimônio arquitetônico ligado ao período escravista paulista, na medida em que grande parte das senzalas foi destruída ou profundamente alterada pelos proprietários das fazendas. A devastação fez que as habitações escravas se tornassem uma modalidade arquitetônica bastante rara no Estado, como, aliás, o é também no restante do país. As construções remanescentes, a documentação dos inventários e os relatos de época permitem, contudo, identificar três tipos básicos de habitações escravas. O primeiro deles, raro em São Paulo, além de infinitamente mais frágil ao tempo, consistia em pequenas casas ou cabanas em que dormiam os escravos; o segundo era caracterizado por grandes construções térreas, com cômodos amplos para habitação coletiva, às vezes com separação por sexo; o terceiro tipo era composto por edificações térreas divididas em pequenos cômodos, destinados a casais ou famílias. Deve-se lembrar que muitos escravos dormiam na própria sede, seja quando não havia um número suficiente de cativos que justificasse uma senzala, seja no que se refere aos escravos “de dentro”, isto é, os ligados aos serviços domésticos. No Vale do Paraíba, há alguns exemplos de senzalas como as da Fazenda Pau d’Alho, em São José do Barreiro, e o que restou daquela pertencente à Fazenda Restauração (antiga Retiro Formoso), em Queluz. No Oeste Paulista, podem ser citadas aquelas senzalas de formato retilíneo, como um correr de lanços, ou dispostas em pátios na forma de U, existentes na região de Araraquara e São Carlos, como a já mencionada pertencente à Fazenda do Pinhal, além da Santa Maria da Babilônia, Itapiru e Santa Maria do Monjolinho. As telas já referidas das fazendas Antinhas e Boa Vista, ambas do Bananal, mostram como eram suas senzalas, hoje desaparecidas. Em ambas, as habitações dos cativos estão dispostas em “quadro” ou quadrado, isto é, formando um pátio quadrangular que facilitava o controle da escravaria pelos proprietários. É deste tipo a senzala descrita por Floriza Barbosa Ferraz, filha de um fazendeiro de Rio Claro, em seu diário; “Acompanhando as suas paredes internas, havia uma infinidade de pequenos quartos dando todos para um pateo no centro do quadrado. Ali os escravos tinham apenas as suas camas as quaes eram feitas com ripas de coqueiro e forradas com esteiras ou colchões de palha rasgada.” As condições internas das senzalas não eram minimamente adequadas, sendo a ventilação rarefeita pela ausência de janelas ou pela pequenez das aberturas junto ao telhado. O piso era composto quase sempre de simples terra batida, e a cobertura, de telhas de barro ou palha. A técnica construtiva variava bastante, sendo a mais habitual o pau a pique. As mais tardias, porém, já foram construídas com tijolos. As sedes na era do Neoclassicismo Quanto às sedes das fazendas, que sobreviveram em muito maior número do que as senzalas, pode-se dizer que seu aspecto externo, mesmo nas mais ricas, nunca chegou à sofisticação das maiores fazendas fluminenses, erguidas durante o Império. O estilo neoclássico francês, introduzido no Brasil pela Missão Artística de 1816, foi reelaborado em São Paulo num grande despojamento de elementos eruditos decorativos. As colunas, pilastras e frontões triangulares característicos da arquitetura greco-romana foram rarissimamente 20 utilizados nas fazendas paulistas; apenas o andamento simétrico de janelas e portas, os arcos de 180° em janelas e portas e alguns eixos de centralização na fachada principal das sedes evidenciam os princípios neoclássicos. Uma notável exceção quanto à monumentalidade externa das fazendas neoclássicas paulistas é a vasta fachada da sede da Fazenda Sete Quedas, construída em Campinas por Joaquim Bonifácio do Amaral, o visconde de Indaiatuba, um dos mais ricos fazendeiros paulistas da segunda metade do século XIX. O sobrado, situado em terreno elevado que o destaca, tem 20 janelas de frente e um corpo central saliente que, além de estar centralizado em relação aos corpos laterais, apresenta porta de acesso rigorosamente dentro da simetria neoclássica. A regra, entretanto, eram construções mais despojadas e sem pretensão arquitetônica. Três tipos básicos de sede são encontráveis em São Paulo durante o século XIX: as térreas, as de sobrado de meia-encosta e as de sobrado pleno. Quanto às térreas, podem ser citadas, entre demolidas e ainda remanescentes, as da Várzea (Queluz), Bonito (Lorena), Boa Vista (Guaratinguetá), Pasto Grande, Piedade, Quilombo, Fortaleza e do Sítio do Pica Pau Amarelo, da infância de Monteiro Lobato (Taubaté), Santo Antonio (Jambeiro), Boa Vista (Redenção da Serra), Conceição (Caçapava), Santo Agostinho (São José dos Campos), Jardim (Jacareí), Santa Helena (Amparo), Fontoura (Campinas) e Saltinho (Itirapina). As mais antigas ainda portavam as janelas de arco de canga, as mais recentes os arcos plenos ou as vergas retas. Os sobrados de meia-encosta nas áreas cafeeiras são decorrência da presença dos mineiros em terras paulistas, à semelhança do que também ocorrera na área fronteiriça das vertentes do rio Pardo, como em Altinópolis. O Vale do Paraíba mostra-se especialmente rico nesta tipologia arquitetônica, que permitia o uso do subsolo graças ao aproveitamento do desnível do terreno. A Fazenda Restauração em Queluz, erguida em taipa de mão pelo mineiro Teodoro José da Silva em 1867, constitui um dos melhores exemplos dessa arquitetura de inspiração mineira em meio aos cafezais do vale, tendo não apenas a sede mas também a tulha em meia-encosta, mais o terreiro superior e outro inferior. A fazenda, que atualmente sofre adaptação para se transformar em hotel, dá testemunho de uma restauração meticulosa realizada no século XX, comandada pelo historiador Antonio Alves Motta Sobrinho, responsável pela manutenção das construções de uma fazenda de café num município que viu quase todas as suas congêneres ruírem. Uma delas, aliás, a do Sertão, que foi propriedade do também mineiro Antonio Ribeiro Junqueira e não existe mais, era outra valiosa expressão das referências arquitetônicas mineiras no Vale do Paraíba. Também se enquadram – ou se enquadravam – nessa tipologia as fazendas Alves (São Luiz do Paraitinga), Conceição e Bom Retiro (Paraibuna), Tijuco Preto (Guaratinguetá), as imponentes Serrote e Caeté (Santa Branca) e, no oeste cafeeiro, a imensa Santa Eudóxia, com dezoito janelas de frente, e a Conceição (São Carlos). Esta cidade conserva outra importante construção de meia-encosta; a sede da Fazenda Pinhal, que foi residência de Antonio Carlos de Arruda Botelho e Ana Carolina de Mello Oliveira, conde e condessa do Pinhal. Mantida nas mãos da família há gerações, a sede foi tombada pelas instâncias federal e estadual, o que garantiu a preservação de um exemplar das antigas casas do tempo do açúcar que foram ampliadas pelo enriquecimento cafeeiro. A arquitetura externa e interna permaneceu, 21 contudo, bastante sóbria, presa à simetria neoclássica de janelas equidistantes e a acabamentos sem a suntuosidade de suas contemporâneas do Vale do Paraíba ou Campinas. Todas as dependências de serviço e as senzalas foram igualmente mantidas, bem como o conjunto de objetos pertencentes à família, que permitem reconstituir com precisão a vida material da fazenda em diferentes períodos históricos (ver volume 1, página 128). A última tipologia de sede de fazenda cafeicultora do século XIX é a do sobrado pleno, isto é, de dois pavimentos completos, tipo que se consolidou em São Paulo apenas no decorrer desse mesmo século. Um deles é, aliás, muito relevante para a história da preservação do patrimônio cultural em São Paulo, pois foi o primeiro bem tombado pelo CONDEPHAAT no Estado, ainda em 1969. Trata-se da sede da Fazenda Boa Vista, localizada em Cruzeiro, no Vale do Paraíba: um vasto sobrado quadrangular, com catorze janelas de frente, erguido e ampliado ao longo do século XIX. Sua linguagem predominante é o neoclassicismo simplificado que se resumia, como em tantas outras sedes paulistas, ao andamento simétrico das janelas, além de portar guirlandas com pendentes em todas as fachadas, logo abaixo do beiral (ver volume 1, página 121). Suas paredes externas foram erguidas ainda com taipa de pilão, sendo as internas e as ampliações de pau a pique. A disposição interna é também característica das sedes de fazenda do século XIX, com grandes salões para receber, sinal da adoção dos costumes aburguesados europeus, embora ainda mantivesse alcovas no centro da construção. O tombamento de 1969 pode incluir todos os móveis e alfaias da casa, mantidos integralmente pelos descendentes do major Manuel de Freitas Novaes, seu proprietário mais importante no século XIX. Grande admirador da família imperial, que chegou a visitar no exílio francês, o major dotou a residência de luxos europeus como cristais Baccarat, porcelanas de Sèvres e mesmo um retrato em terracota realizado durante sua visita a Paris. A iniciativa do CONDEPHAAT preservou, portanto, um dos mais íntegros testemunhos domésticos das elites oitocentistas. Além disso, constituiu um passo decisivo no sentido da revisão dos critérios federais de escolha de bens para tombamento, que sempre privilegiaram o período colonial em detrimento do Império e da República, o que, para os paulistas, significava a exclusão da maior parte de seu patrimônio. O Vale do Paraíba paulista, a despeito das incontáveis perdas de sedes fazendeiras nos últimos 30 anos, ainda mantém exemplares importantíssimos dos suntuosos sobrados rurais do período imperial. O caso mais notório é certamente a sede da Fazenda Resgate, no Bananal. Construída na primeira metade do século XIX e reformada a partir de 1855, a sede da Resgate, hoje totalmente despojada das senzalas e depósitos anexos, esconde sob sua simplíssima fachada neoclássica um interior faustosamente decorado, comparável às mais refinadas sedes da província fluminense e mesmo aos palacetes da Corte. Muitas de suas paredes internas foram decoradas pelo pintor catalão José Maria Villaronga, que recebeu numerosas encomendas em Bananal. Zaluar, visitando a Resgate em 1860, deixou relatada com minúcias a decoração interna da residência do comendador Manoel de Aguiar Vallim: “A sala de visitas, toda de branco, com frisos e ornatos dourados, tem o teto de muito bom gosto, e nos painéis das portas delicadas pinturas representando os pássaros mais bonitos e conhecidos do Brasil pousados nos ramos das árvores ou arbustos de sua predileção, de cujos troncos se veem 22 pender deliciosos e matizados frutos. A sala de jantar e capela, que é um trabalho de muito preço, não merecem menos elogios”. A capela interna referida por Zaluar ainda impressiona por sua escala e acabamentos murais, pois possui dois pavimentos, algo inusitado para o período, além de um amplo painel de Villaronga. Já a sala de jantar da Resgate e o grande corredor foram decorados com uma das técnicas em que o pintor era mais hábil, o trompe Voeil (pintura ilusionista), que falseava vasos, azulejos e relevos com grande perfeição. Uma das pinturas da sala de jantar, perfeitamente conservada, pode ser mesmo considerada um “atestado de óbito” da cafeicultura do Vale do Paraíba: uma caixa com notas de dinheiro repousa sob a paisagem ondulada da fazenda, em que se destacam morros cobertos pelas perigosas fileiras verticais de pés de café, responsáveis pelas enxurradas que lentamente destruíram a fertilidade dos solos. Mais do que simples decoração, o mural de Villaronga resta como emblema simultâneo da fortuna e da posterior ruína financeira de quem não soube preservar a base ecológica da então riquíssima Bananal (ver volume 1, página 125). Sorte igual não teve outra sede de sobrado bananalense, a da Fazenda Rialto, construída já na segunda metade do século XIX pela família Ribeiro Barbosa. Era esta certamente a mais suntuosa das residências rurais da província de São Paulo, sendo seu salão principal decorado integralmente com pinturas ilusionistas de incrível resultado visual, atribuídas a José Maria Villaronga. Outro salão era decorado com papéis de parede europeus e relevos nos forros. O aspecto externo mesclava ritmos e tipos de janelas neoclássicas a um pórtico de madeira recortada com motivos orientalizantes que se erguia na fachada principal da sede, coroando a escadaria de acesso. Sua destruição, na década de 1990, pode ser considerada uma das maiores lástimas que se abateu sobre a memória da arquitetura paulista, permitida inclusive pela indiferença dos órgãos de tombamento, que jamais se dignaram a preservá-la. Outras sedes de sobrado de Bananal bastante relevantes no século XIX, como as fazendas Independência e Boa Vista, foram transformadas em hotéis-fazenda, o que ajuda a fazer frente aos altos custos de sua manutenção. A Boa Vista foi residência dos já mencionados comendador Luciano José de Almeida e sua esposa d. Maria Joaquina, os mais ricos fazendeiros da localidade. O já referido retrato da fazenda, atribuído a Georg Grimm, mostra a sede em posição estratégica, entre os dois quadrados de senzalas e depósitos, situação completamente desaparecida nos dias atuais. Carlos Lemos indica o quadrado posterior abrigando senzalas e o fronteiro, além de outras senzalas, engenhos, paióis, pilões, casa de farinha, oficinas, ranchos para tropeiros e eventualmente lojas. Um aspecto dos sobrados rurais mostra-se, entretanto, comum à quase totalidade das unidades do século XIX: o andar superior é um piano nobile, isto é, um pavimento nobre destinado à moradia dos proprietários, abrigando áreas de estar, dormir e de trabalhos manuais. Cindia-se assim uma velha tradição colonial das moradias rurais paulistas, como aquelas “bandeiristas”, em que os proprietários residiam ao rés do chão, dividindo o piso com todas as funções domésticas e mesmo com dormitórios de escravos. Instalações sanitárias eram, contudo, uma modernização ainda inexistente, sendo os banhos realizados em cochos de madeira dispostos em um cômodo. As cozinhas ainda estavam em puxados, na pavimento térreo ou em construções anexas à sede. Paióis e tulhas para estocagem e beneficiamento do 23 café, rodas-d’água e canaletas para drenagem, bem como os imprescindíveis terreiros para secagem dos grãos, eram outras novidades que quase sempre estavam junto à sede, de onde o fazendeiro podia, inclusive, controlar visualmente as atividades dos escravos e agregados. (Terra Paulista: histórias, arte, costumes. Modo de vida dos paulistas: identidades, famílias e espaços domésticos. A arquitetura dos tempos do café. São Paulo: Imprensa Oficial, p. 157 a 164.) Texto 5 SENHORES E SUBALTERNOS NO OESTE PAULISTA Robert W. Slenes Mãe e escrava do filho Ao se tornar maior de idade em 1869, no município de Campinas, São Paulo, um jovem compõe um documento extraordinário, formulado na linguagem da propriedade mas carregado de emoção: “Digo eu Isidoro Gurgel Mascarenhas, que entre os mais bens que possuo [...] sou senhor e possuidor de uma escrava de nome Ana [...] [recebida na herança] de meu Pai, Lúcio Gurgel Mascarenhas [...] e como a referida escrava é minha Mãe, verificando-se a minha maioridade hoje, pelo casamento de ontem, por isso achando-me com direito, concedo à referida minha Mãe plena liberdade, a qual concedo de todo o meu coração” (grifos meus). Não era comum no século XIX um filho ser proprietário de sua mãe. O caso extremo, no entanto, muitas vezes ilumina a norma, ao revelar processos sociais cotidianos no interior do Império, na zona da fronteira agrícola, em torno de fatos inusitados. A história de Isidoro e de seus pais, Lúcio e Ana, é exemplar nesse sentido. Contextualizada com outras evidências e analisada, ela oferece uma janela para desvendar as relações de poder entre “senhores” e seus subordinados escravos e libertos, trabalhadores nacionais e imigrantes no “Oeste histórico” paulista. Os fios desta história despontam no início do século XIX, quando o avô de Isidoro, Pedro Gurgel Mascarenhas, chega a Campinas. As experiências de Pedro e de seu filho Lúcio, ao construírem seus patrimônios, são elucidativas dos processos de povoamento do Oeste paulista por pessoas livres e cativas, e dos caminhos de enriquecimento e empobrecimento que se abrem a partir da década de 1790, quando a sua região se transforma em áreas de “grande lavoura” (agricultura voltada para a exportação), primeiro centrada no açúcar, depois no café. Entretanto, é a trama tecida pelos protagonistas da história, na interação entre eles, que mais nos interessa neste ensaio. A vida de Ana, como também a de outras escravas, suas parceiras, sugere muito a respeito do poder nas relações entre homens dominantes e mulheres subalternas. Os dramas de outras personagens também jogam luz sobre o (des)governo dos senhores e ainda sobre as estratégias de sobrevivência e autonomia elaboradas, em contrapartida, pelos escravos. Da análise dessas vivências emerge o retrato de uma classe senhorial prepotente e frequentemente arbitrária, mas sobretudo ardilosa: uma classe que brande a força e o favor 24 para prender o cativo na armadilha de seus próprios anseios. Dentro de certos limites, os senhores estimulam a formação de laços de parentesco entre seus escravos e instituem, junto com a ameaça e a coação, um sistema diferencial de incentivos no intuito de tornar os cativos dependentes e reféns de suas próprias solidariedades e projetos domésticos. Essa política de domínio é relativamente bem-sucedida. Por isso mesmo, talvez ela subverta a autoridade dos senhores ao mesmo tempo em que contribui para sua dominação no cotidiano. Rachado por linhas de solidariedade diversas, cujas pontas em geral convergem para a casa-grande, o grupo escravo também desfruta de uma experiência em comum e de instituições, inclusive familiares, que permitem a criação de sua identidade. Como resultado, os senhores dormem sobressaltados, pois sabem que os líderes das revoltas nas senzalas com frequência são os escravos mais “chegados” aos proprietários. A prepotência dos senhores e seu afã de transformar trabalhadores em dependentes sobrevivem à substituição de escravos por imigrantes. O contraponto entre proprietários e “colonos” no final do século XIX guarda certas semelhanças com aquele entre senhores e escravos, ainda que expresse também as novas relações de trabalho. A Família Gurgel Mascarenhas Pedro Gurgel Mascarenhas, natural de Pitangui, Minas Gerais, se estabeleceu na província de São Paulo por volta de 1813. Foi registrado no recenseamento de Campinas de 1824 como pessoa que “vive de seus negócios”. Eram, sem dúvida, negócios prósperos, pois já lhe permitiram acumular dezesseis escravos, mais do que dois terços dos senhores de Campinas possuíam na época. Censos posteriores são mais explícitos quanto à fonte de renda dele: em 1825, ele “vive de jornais [”salários” ou aluguéis] dos escravos” e em 1829 é dado como “taipeiro”; construtor (no contexto, “empreiteiro”) de prédios de taipa. Seus escravos provavelmente trabalhavam na construção, além de prestar outros serviços. Cinco dos treze cativos presentes em 1825 e 1829 são descritos, quando recebem a liberdade em 1843 e 1861, como artesãos qualificados: três “carapinas” (carpinteiros), um taipeiro e um alfaiate. Os censos, contudo, não mencionam outra atividade de Pedro, além dessa que certamente lhe deu muitos lucros. Num processo de 1829, movido por ele contra um devedor, nosso “taipeiro” previne-se contra a possível acusação de ganancioso, dizendo que “estando morador há dezesseis anos e tendo vendido nesta Província trezentos negros [ele, Pedro] nunca propôs ação alguma ainda que se lhe deva muitos anos [...]”. Em suma, além de adquirir alguns escravos para viver de seu serviço e aluguel, ele os comprava em maior número para revender. Em dezembro de 1843, aos setenta anos, à beira da morte, Pedro redigiu seu testamento. Como não tinha herdeiros “forçados” nunca se casara e os pais haviam falecido , estava livre para distribuir sua propriedade a quem quisesse. Declarou, então, que “tenho um filho natural, de nome Lúcio, é mulato, e o instituo por meu herdeiro”: Como Pedro era descrito nos censos sempre como “branco” e Lúcio, a única vez que aparece nesses documentos, é descrito como “pardo”, com certeza a mãe de Lúcio era negra ou mulata. Anos mais tarde, Lúcio a identificaria em seu próprio testamento apenas como “Florência”, sem lhe atribuir sobrenome ou o título de “dona”, o que sugere que ela era de origem humilde. Se Florência acompanhara 25 Pedro a Campinas, ela não mais morava com ele no mesmo “fogo” (domicílio), segundo os censos da época. Lúcio, sim, chegou a Campinas com Pedro, mas não como filho reconhecido. No censo de 1824, um “Lúcio agregado” (morador livre), descrito como solteiro e pardo, de 23 anos – justamente a idade que o Lúcio filho teria –, se encontra no fogo encabeçado por Pedro. Seu nome está no final da lista de escravos, ou seja, o mais longe possível do registro do chefe de domicílio. Nos anos subsequentes, nenhum Lúcio está mais presente nesse fogo. O testamento de Pedro revela, entretanto, o paradeiro do filho. Ao reconhecer a paternidade em 1843, Pedro indicou que Lúcio estava morando em Araraquara. Isto é, entre 1824 e 1825 Lúcio teria deixado de viver junto com o pai, mudando-se para o “sertão” do Oeste paulista. Ainda segundo Pedro, Lúcio era “carapina” de ofício. Se também negociava escravos, como seu pai “taipeiro”, não o sabemos. A justiça é lenta, e Lúcio só recebeu sua herança em meados de 1847. Ainda morava em Araraquara, onde também se encontrava em julho de 1848, quando foi preso pela polícia; “por embriagado e andar fazendo desordens, assinou termo de bem viver”. Logo em seguida, no entanto, Lúcio mudou-se para Campinas. Em 1850, seu nome aparecia pela primeira vez na lista de votantes desse município, que dava a profissão dele como a de “administrador”. Dirigia, talvez, um engenho de açúcar ou fazenda de café. Já em 1852, sua ocupação era a de “agricultor”. Quatro anos mais tarde, de acordo com o registro paroquial de terras dessa época (um “recenseamento” fundiário), ele tinha uma propriedade na cidade de Campinas, além de um “sítio” na área rural. Lúcio provavelmente residia durante parte considerável do ano na cidade. Em seu inventário, uma casa urbana recebeu boa avaliação e foi descrita como mais bem aparelhada, contendo vários objetos de prata, do que a casa do sítio, tida como “simples”. Além disso, como o inventariante de seu espólio, e quatro dos padrinhos dos filhos de seus escravos, era vizinho próximo de sua propriedade urbana. Quando Lúcio faleceu, em 1861, seu patrimônio consistia principalmente em 23 escravos, o sítio, duas casas e um terreno urbanos. Seu espólio foi avaliado em 52 contos de réis (52:000$000), ou em torno de US$ 27000 pelo câmbio da época. Ele era, portanto, um homem próspero na sua comunidade, mesmo entre senhores de escravos, embora estivesse longe de ser um dos mais ricos (em 1872, três em cada quatro senhores em Campinas tinham menos de vinte cativos; porém, os 4% mais ricos possuíam acima de cem). Seus escravos, representando quase dois terços dos bens fundiários dele – proporção nada estranha para os senhores da época –, eram predominantemente homens adultos. Destes, a maioria compunha-se de trabalhadores de roça, sem dúvida empregados nos 23 hectares, onde Lúcio havia plantado milho, feijão e arroz. O patrimônio que Lúcio tinha quando morreu crescera, provavelmente desde o ano em que recebeu a herança de Pedro. Em 1861, sete de seus escravos haviam nascido na propriedade dele. Dos outros dezesseis, cinco ou seis foram comprados depois do falecimento de seu pai. Entretanto, se Lúcio prosperou no final da década de 1840 e na de 1850, é evidente também que a maioria dos escravos adultos de 1861 foi adquirida por ele em Araraquara antes de 1844 ou herdada do pai. Portanto, quando Lúcio atraiu a atenção da polícia de Araraquara em 1848, não foi por ser um homem “pobre” e suspeito de ser “perigoso”. É bem 26 possível que tenha sido responsável, de fato, por “desordens” nesse ano – o que, como veremos, só reforça a imagem de pessoa voluntariosa que emerge dos documentos sobre a relação dele com as mães de seus filhos. Até aqui, as histórias de Pedro e Lúcio são bastante expressivas da região em que viviam. A partir da década de 1790, a alta dos preços mundiais do açúcar após a revolução escrava em São Domingos (atual Haiti) e a derrocada da economia de exportação dessa ilha somaramse à queda dos preços de africanos, provocando uma rápida expansão do açúcar no “Oeste velho” de São Paulo: isto é, no quadrilátero compreendido entre os povoados de Sorocaba, Piracicaba, Mogi-Guaçu e Jundiaí, aí englobada a região de Campinas. Com isso, abriram-se possibilidades para uma agricultura comercial diversificada e uma vida mercantil urbana, também baseadas no trabalho escravo. Assim, a região passou a atrair uma corrente de migrantes livres das mais variadas procedências. Tais migrantes, sobretudo aqueles com relativamente poucos recursos, eram um grupo muito volátil, sempre prestes a mudar de atividade econômica ou pôr de novo o pé na estrada à procura de melhores condições. De acordo com um estudo recente sobre Campinas, 62% dos chefes de domicílio que em 1817 eram “agricultores” (categoria que inclui todos os lavradores da terra, menos senhores de engenho) não estavam mais presentes no município em 1825, pelo menos com essa ocupação. Mesmo assim, o afluxo líquido de pessoas livres para o Oeste paulista e especialmente para Campinas foi grande o bastante para provocar o rápido aumento da população. Em Campinas, o número de pessoas livres cresceu de cerca de trezentos, em 1776, para 3.300, em 1829, e 17.700, em 1874. Entre esses migrantes, havia trabalhadores europeus; entretanto, seu número na agricultura continuaria sendo pouco expressivo, comparado ao dos escravos, até o segundo quinquênio da década de 1880. No tráfico de escravos para o Sudeste e sobretudo para o Oeste paulista, tanto antes quanto depois de 1850 os homens predominavam largamente sobre as mulheres. Na compra de cativos, os pequenos proprietários rurais parecem ter tido menos preferência por escravos masculinos do que os grandes. Os proprietários urbanos, porém, pelo menos aqueles engajados em atividades que “exigiam” mão de obra masculina (tropeiros, por exemplo, além de taipeiros como Pedro), possuíam plantéis em que o superávit de homens era especialmente grande. Ao morrer, Lúcio – talvez por ser herdeiro de Pedro – tinha um grande excesso de homens sobre mulheres entre seus escravos adultos, mesmo para os padrões de Campinas. Isidoro Gurgel Mascarenhas, o filho de Lúcio, nasceu em Campinas em 1850. Como sua mãe, Ana, era escrava, ele teria começado a vida no cativeiro se o pai não o tivesse libertado na pia batismal. Lúcio, na época, não assumia a paternidade da criança, registrada pelo pároco como sendo de “pai incógnito”. Tampouco se identificava como o progenitor de outros dois filhos e uma filha, nascidos de suas escravas entre 1851 e 1858 e também batizados como livres. Entretanto, no testamento, elaborado pouco antes de sua morte em 1861, Lúcio reconheceu Isidoro, essas outras crianças e dois meninos mais velhos que não foram batizados em Campinas. E deixou-lhes toda a sua propriedade: “sou solteiro, nunca contraí matrimônio e meus pais são ambos falecidos. Declaro que tenho seis filhos naturais [...] e os instituo por meus herdeiros, os quais estão no meu poder e os criei”. 27 A “generosidade” de Lúcio para com os filhos pode ter nascido de reflexões sobre sua própria experiência. Como vimos, ele mesmo era filho natural mulato, reconhecido pelo pai apenas quando este estava moribundo, e sua mãe provavelmente tinha origens humildes, se não fosse escrava. Mas, se Lúcio se reconhecia nos filhos, ele não foi magnânimo com as mães deles. Sabemos, por meio de uma declaração feita por seu inventariante, que havia quatro dessas mulheres. Em prestações de contas apresentadas pelos tutores dos filhos e nos assentos de batismo, consta que três das mães eram escravas chamadas Rufina, Ana e Maria, e que pelo menos esta última era “crioula”. As relações sexuais de Lúcio com Maria e com Rufina duraram (ou, se interrompidas, demarcaram) um período substancial; cada uma dessas mulheres lhe deu duas crianças: Maria no espaço de cinco anos, Rufina provavelmente no período de um ano a 22 meses. Isidoro, o filho de Ana, nasceu entre os dois filhos de Rufina e num intervalo de apenas meses, o que pode indicar que Lúcio tenha mantido relações com as duas mulheres simultaneamente. Já os filhos de Maria nasceram depois, o último em 1858, apenas três anos antes de Lúcio redigir o testamento. Apesar de sua intimidade com essas escravas, Lúcio manteve pelo menos duas no cativeiro. Em 1861, Maria e Ana foram avaliadas como parte de seu espólio. Foram descritas como costureiras e cozinheiras. Rufina não aparece nos documentos do inventário, e é possível que Lúcio a tenha libertado. Se assim procedeu, ele não lhe deixou nada no testamento. Aliás, nenhuma dessas mulheres foi sequer mencionada no documento. Tal silêncio sugere que ele se interessava em esconder as origens maternas de suas crianças, agora que se identificava como o pai, preocupando-se em não revelar sua paternidade nos assentos de batismo, nos quais identificou as mães como escravas. A aparente despreocupação de Lúcio pelas mães de seus filhos contrasta com a solicitude dele para com outros cativos. No testamento, Lúcio excluiu quase um quinto de seu espólio da herança deixada para os filhos, destinando-o a outras finalidades (missas para o bem de sua alma, “esmolas” para pessoas pobres), e especialmente para alforrias. Estipulou que sete dos 23 escravos deveriam ser libertados sem condição após sua morte. Entre eles estava uma mulher casada e suas cinco crianças, todos do mesmo pai cativo. Além disso, outra pessoa recebeu alforria durante o inventário: uma mulher que Lúcio libertara em 1847, na condição de que esta lhe prestasse serviços até ele morrer. Em tal contexto, o fato de ter deixado as mães de seus filhos no cativeiro sugere que a relação de Lúcio com essas mulheres não se caracterizava mais por laços de afeto ou de reciprocidade de favores. Não há informações que indiquem o conteúdo das relações entre Lúcio e as escravas e suas mudanças ao longo do tempo. Outras duas histórias, contudo, ajudam a mapear o terreno em que se davam os encontros íntimos entre senhores e mulheres cativas. Nesse mesmo mundo de força e favor, de perigos e prêmios não gratuitos, encontravamse as escravas de Lúcio Gurgel Mascarenhas. Assediadas ou não pelo senhor delas, Ana, Maria e Rufina “negociaram” seus termos de rendição ou de convivência com ele. Ao contrário de Marcelina, não obtiveram, com isso, a alforria (com a possível exceção de Rufina). Viram suas crianças, é verdade, transformarem-se em herdeiros de Lúcio. O fato em si, contudo, não lhes 28 garantiu a permanência junto aos filhos nem a liberdade. Após a morte de Lúcio, Ana e Maria correram certo risco de serem vendidas. E, mesmo depois de se tornarem escravas dos filhos, continuaram a ser tratadas durante anos pelos tutores destes como cativas de fato, não apenas na lei. Lúcio especificara no testamento que seus filhos não poderiam alienar a parte deles na herança de maneira nenhuma até entrarem no “uso da razão”; e, mesmo assim, poderiam apenas “vender terra para os outros herdeiros, com a permissão de seus tutores”. Entretanto, o inventariante do espólio Antônio Joaquim de Sampaio Peixoto, associado de Lúcio e de seu pai desde longa data, era da opinião de que “a legítima [paterna] lhes é devida [aos herdeiros] por Direito, uma vez que foram reconhecidos” e, portanto, a cláusula de inalienabilidade no testamento não teria validade. Além disso, argumentava que o interesse dos herdeiros era vender a maior parte do espólio e converter sua herança em dinheiro. “Aos herdeiros não convêm” os bens de raiz do espólio, dizia ele: nem o terreno urbano, que “não dá rendimento”, nem o sítio, “cujo custeio é muito difícil atento à idade deles [herdeiros]”. Tampouco “lhes convêm os escravos, não só pelo perigo da mortalidade como pela dificuldade do custeio, e porque quando os herdeiros chegarem à idade maior já os escravos estão velhos”. Seguindo esse raciocínio frio e calculista, despreocupado do bem-estar ou da sensibilidade dos escravos, Sampaio Peixoto propôs que Ana e Maria fossem excluídas da venda. Ao explicar por quê, manteve o silêncio de Lúcio no que diz respeito à relação dessas mulheres com os herdeiros: “julgo [...] que a humanidade e a boa razão [grifos meus] exijam que ao herdeiro Isidoro se dê em quinhão a escrava Ana, de 1:400$, e aos herdeiros Eufrásia e Martiniano se dê a escrava Maria de 1:800$”. Ora, Isidoro era filho de Ana, assim como Eufrásia e Martiniano eram filhos de Maria. Sampaio Peixoto também julgava “conveniente que não vá à praça o escravo Francisco Velho, avaliado por 400$, cuja mulher e cinco filhos ficaram libertos, visto que este escravo trata de arranjar o dinheiro para obter sua liberdade, o que me parece muito razoável”. Nos plantéis pequenos de Campinas, ao longo do século XIX, a proporção de escravos adultos casados (na Igreja) ou viúvos era baixa, refletindo o restrito pool de possíveis cônjuges dentro dessas propriedades e a virtual proibição, por parte dos senhores, de casamentos entre escravos de donos diferentes. Já a situação nos plantéis médios e grandes (com dez ou mais escravos) era diferente. Nessas propriedades, a proporção casada ou viúva entre mulheres acima de quinze anos era alta, variando entre 60% e 69% em 1801, 1829 e 1872. A porcentagem entre homens da mesma faixa de idade era bem mais baixa (entre 23% e 30% de casados e viúvos nos anos indicados), refletindo o desequilíbrio numérico entre os sexos. Esses dados revelam uma diferença significativa entre as experiências da população masculina e feminina. Entretanto, quando apreciados do ponto de vista de mulheres e crianças, apontam para uma grande presença em tais propriedades de famílias nucleares, chefiadas por ambos os pais. De fato, segundo os dados de uma amostra da matrícula de escravos de 1872, 68% das crianças de um a nove anos nos plantéis médios e grandes de Campinas viviam junto com pais casados. Outros 12% viviam com pai viúvo ou mãe viúva. As 29 cifras mostram, indiretamente, uma forte tendência nas propriedades médias e grandes de não separar cônjuges ou pais e crianças pequenas por venda ou processo de herança. Tudo indica que os padrões observados aqui são típicos do Oeste paulista. Provavelmente são representativos, também, das regiões de plantation do Rio de Janeiro e de São Paulo de um modo geral. Uma das implicações dessa constatação é a de que muitos escravos, seguindo suas próprias estratégias de sobrevivência, adquiriram certo “interesse” no sistema. Ou melhor, ao formarem famílias tornaram-se especialmente vulneráveis ao arbítrio dos senhores, pois a tendência de manter famílias escravas juntas nas vendas e partilhas de heranças não foi sempre seguida. Houve, sem dúvida, casos de separação, em particular nos plantéis pequenos, cujos proprietários eram mais sujeitos a contratempos econômicos. “Seus pais foram vendidos”, diz uma observação lacônica ao lado do nome de um menino de oito anos, na lista de matrícula para um plantel de dois escravos. No entanto, a ameaça de separação sempre existia, pelo menos até 1869-71, quando leis nacionais proibiram a prática (no que dizia respeito a cônjuges e a pais e filhos menores), restringindo afinal esse abuso do poder privado. Em suma, a família escrava transformava os cativos em “reféns”, tanto de seus próprios anseios quanto do proprietário. Os senhores certamente sabiam disso quando refletiam sobre os ditames da “humanidade” e da “boa razão”. A fuga individual, por exemplo, passava a representar para o escravo casado a perda do contato constante com entes queridos e de uma pequena economia doméstica familiar como a de Joana, que acumulou um pecúlio de 60 milréis, e a de Manoel velho, que vendia mantimentos a Lúcio. Ao mesmo tempo, trazia a ameaça de retaliações contra os familiares que ficassem para trás e, no limite, a possibilidade de sua venda como represália ao fugitivo. “É preciso casar esse negro e dar-lhe um pedaço de terra para assentar a vida e tomar juízo”, dizia sempre um senhor da região de Campinas, referindose aos escravos jovens. A frase, aparentemente banal, adquire um sentido sombrio quando lembramos o amplo poder privado do senhor no manejo de seu arsenal de punições e prêmios. A família, além disso, estava associada ao sistema de incentivos senhoriais: daí, certamente, um de seus atrativos para os escravos. As ocupações com autonomia de trabalho, as possibilidades de acumular um pecúlio e escapar da dura labuta no eito eram distribuídas a cativos de mais longo contato com o senhor, que tendiam a ser aqueles com uma história familiar na propriedade. O exercício dessas ocupações, por sua vez, dava ao escravo mais acesso a outros cativos com recursos e a homens livres, fortalecendo uma teia de relações. Mesmo quando formada ao largo da casa-grande, tais relações contribuíam para tornar o escravo mais refém ainda dos próprios projetos. Quem conseguia avançar no caminho do favor ficava cada vez mais vulnerável, pois tinha mais a perder. Ao mesmo tempo, sonhava cada vez mais com a possibilidade de alforria para uma ou mais pessoas de sua família, ou mediante a autocompra (com o montante das poupanças dos membros da família e com empréstimos de compadres escravos), algum arranjo com compadres livres (empréstimo seguido de contrato de locação de serviços) ou a concessão “gratuita” ou condicional pelo senhor. No início da década de 1870, em todo o Império, aproximadamente seis escravos em 30 cada mil, por ano, obtinham a liberdade. Em Campinas, como em São Paulo e Rio de janeiro de um modo geral, a taxa anual era a metade disso, ou um pouco mais. Tais cifras podem parecer pequenas, mas eram, respectivamente, catorze e 7,5 vezes maiores que a taxa no Sul dos Estados Unidos em meados do século. Projetadas ao longo de muitos anos, indicam que o escravo no Império, mesmo no Sudeste, tinha uma chance, mas não irrisória, de obter a liberdade durante a vida. Para os escravos mais bem-sucedidos na formação de pecúlios familiares e laços de dependência com pessoas de recursos, a liberdade, ao menos para uma pessoa da família, não deve ter sido uma meta irrealista. Mesmo que ainda estivesse fora do alcance da maioria. Deve-se enfatizar, contudo, que o que mais tornava o caminho do favor “atrativo”, como um mal menor, era a presença e a ameaça da força. Os anúncios de escravos fugidos nos jornais de Campinas são instrutivos nesse ponto. Na década de 1870, um em cada doze cativos anunciados carrega, explicitamente, as marcas ou os grilhões da punição: “tem sinal de castigo nas costas e nádegas”, “tem sinais no pescoço [e nos tornozelos] provenientes de ferros”, “está com ferro nos pés e gancho no pescoço”. Há também fugitivos com apenas “sinais nas costas” ou “sinais de queimaduras nas costas”, descrições que podem ser eufemismos para marcas de castigo, a proporção vai para um em cada dez anunciados. Sem dúvida, é uma subestimativa da proporção que realmente apresentava as marcas do cativeiro. Há vários senhores que, ao reconhecer a presença de cicatrizes ou feridas em seus escravos, tentam distanciar-se do fato, constrangidos: “tem sinais de castigo nas costas conforme já estava quando o anunciante o comprou”, “tem sinais muito frescos de castigo que sofreu em consequência de sentença do júri”, “tem bastantes sinais antigos de castigo” (grifos meus). Na verdade, são sinais dos tempos modernos: na década de 1870, não era mais de “bom-tom” anunciar as violências “domésticas” para o mundo. Porém, é bem possível que as marcas corriqueiras de castigo fossem tão comuns que não ajudassem muito a distinguir entre fugitivos. “Nenhum [dos três escravos que fugiram] tem sinal de castigo” ; diz um senhor, como se a falta de marcas no corpo permitisse a identificação.” Finalmente, fica claro que a variedade na descrição dos anunciantes também contribui para subestimar a incidência de castigos. Retirando-se da análise os anúncios mais lacônicos, que registram pouco mais do que os dados pessoais básicos da pessoa, a proporção de fugitivos com sinais explícitos de punições sobe para aproximadamente um em cinco. Não é necessário, porém, fazer um recenseamento preciso dos fugitivos que apanharam. Mesmo a proporção de um em dez ou doze deve ser o suficiente para demonstrar que os senhores estavam dispostos a usar a força, quando necessário, para impor seu domínio. Os favores que eles ofereciam podem nos parecer (e eram) mesquinhos. Mas bastava o escravo presenciar algumas dessas cenas de suplício de colegas sintetizadas nos anúncios – “[o fugitivo] tem por todo o corpo sinais de chicotadas e já foi surrado” – para compreender que a alternativa não era alentadora. 31 A força e o favor A história de Lúcio e de seus escravos permite intuir o campo de fora e favor em que os escravos construíam suas vidas. Entretanto, ela não nos deixa flagrar o sentido que os próprios cativos davam às estratégias deles. Por exemplo, se aqueles que mais trilhavam o caminho do favor internalizavam valores de dependência e aproximação aos senhores, distanciando-se de seus parceiros; e se estes olhavam para aqueles como traidores. Dois processos-crimes, contudo, são muito sugestivos a esse respeito. O primeiro processo retrata uma rixa entre escravos em Sorocaba. Jerônimo, cativo solteiro de 28 ou 29 anos, natural de Sorocaba, vive no sítio de seu proprietário “desde criança” e é “filho de Domingos”, falecido, que foi escravo do mesmo senhor. Jerônimo se identifica como “lavrador”; contudo, é também “o encarregado por seu senhor de cuidar e tratar dos animais”. Enfim, cresceu no sítio e pertence a uma família que prestou longo serviço ao dono: fatos que provavelmente têm a ver com sua escolha para uma atividade de certa responsabilidade. Foi o empenho de Jerônimo em exercer essa responsabilidade que levou à briga entre ele e seu parceiro Francisco e à morte deste em consequência de “uma pancada na cabeça”. Segundo um dos três escravos que presenciaram o incidente, Jerônimo e Francisco, antes da briga, “sempre viveram em muito boa harmonia como bons parceiros que eram”. No domingo de Páscoa, no entanto, Francisco saiu do sítio sem autorização para visitar um irmão, apropriando-se de uma mula de seu senhor. Na volta, “Jerônimo, que era quem cuidava dos animais por ordem de [ ... ] seu senhor, quando se achavam na roça na carpição de café, disse a Francisco que se continuasse a [ilegível] os animais havia de contar a seu senhor”. A essa ameaça de delatá-lo, “respondeu Francisco que o fizesse, porque assim [ele, Jerônimo] ganharia alforria; e ditas estas palavras avança um sobre outro ao mesmo tempo, armados de suas respectivas enxadas”. Na fala de Francisco, flagramos um raciocínio sobre os caminhos que podem levar à alforria surpreendentemente semelhante àquilo que intuímos dos dados sobre família, compadrio e ocupação. Entendemos, também, que o empenho de um “feitor” escravo em exercer suas funções podia provocar um colega a acusá-lo de um comportamento egoísta e subserviente para com o patrão e que a crítica podia doer a ponto de ocasionar uma briga sem trégua. O que mais chama a atenção nesse caso, contudo, é que Jerônimo, levando a sério a responsabilidade delegada pelo senhor, não corre para delatar seu parceiro ao proprietário após descobrir a falta. Em vez disso, tenta negociar com Francisco, buscando um acordo que poupe o colega de castigos e neutralize os perigos que a ocorrência representa para sua própria pessoa, pois Jerônimo sabe que a delação poderá atrair-lhe inimizades na senzala. Ao mesmo tempo, percebe que a complacência com Francisco pode, se instigá-lo à reincidência, aumentar o risco de o senhor descobrir sua própria conivência com a falta e retirar-lhe os prêmios. Na verdade, o escravo que cultivava o favor do senhor não podia dispensar a “amizade” de seus parceiros. Se assim fizesse, poderia ser alvo do revanchismo deles, como acontece com um feitor cativo no romance do visconde de Taunay, Mocidade de Trajano. Ou poderia encontrar-se sem apoio se, por um deslize próprio ou capricho senhorial, caísse do caminho 32 dos prêmios para o “brejo” do desfavor. O perigo de isso acontecer era real, como pode ser apreciado às vezes em codicilos (revisões) incluídos em testamentos, eliminando os nomes de escravos anteriormente contemplados com benesses. O mundo do cativeiro permanecia imprevisível, por mais que os escravos se empenhassem em reduzir o perigo em suas vidas. Mesmo os que realmente tinham chances de ficar com o prêmio gordo, a alforria, sabiam que as possibilidades de deixar para trás uma vida de insegurança e privações, como libertos, eram poucas. Nessas circunstâncias, cortar os laços com a comunidade de origem não fazia sentido. O segundo processo-crime contribui para estas reflexões. Em 1876, o feitor escravo Benedito é acusado em Campinas, junto com outros cativos, de assassinar premeditadamente seu senhor, Francisco de Sales (primo-irmão de Campos Sales, futuro presidente da República). Na justiça, ele tenta provar sua inocência. Confessa que entrara no plano, sim, como todos os outros cativos de Sales, mas a contragosto; pois, “tendo crescido junto com seu senhor a quem foi dado em dote pelo pai deste, não tinha coragem de concorrer para o seu assassinato”. Na hora do crime, portanto, ele não havia segurado Sales “por detrás”, facilitando os golpes de enxada dos outros, como afirmara outro réu. Ao contrário, “arrependido”, fora “abraçar-se a seu senhor [...] pela frente” para protegê-lo, “pedindo a seus companheiros que não o matassem”. Na autorrepresentação que Benedito faz para o júri, flagramos a mesma visão do papel do favor na política dos senhores que intuímos até aqui. Conte ele ou não toda a verdade sobre suas ações, sua história tem certa verossimilhança. Havendo “crescido junto com seu senhor” e tendo ganho a preferência dele ao longo dos anos, a ponto de ser instituído feitor dos outros cativos, Benedito teria retribuído ao favor com solidariedade e gratidão, intercedendo pela vida do proprietário, não por sua morte. O júri não acreditou na história. Condenou Benedito e outros dois escravos, tidos como os mais ativos no crime, a sofrer trezentos açoites e “trazer ferro ao pescoço por oito anos”. Seu ceticismo provavelmente nasceu em parte porque já estava farto de saber de escravos favorecidos que fingiam deferência mas que não mereciam confiança. Nas sociedades escravistas da América, os líderes de revoltas escravas frequentemente eram cativos “privilegiados”: feitores, trabalhadores qualificados, escravos domésticos. Não parece ter sido diferente em Campinas. Num plano de levante em 1832, pelo menos três escravos tropeiros desempenhavam papéis importantes. Em 1848, em outra conspiração, um senhor de escravos revelaria que “são os escravos feitores os cabeças para tratarem com os mais”, avaliação confirmada por outros proprietários. A julgar dos anúncios de escravos fugidos na década de 1870, ainda havia muitos cativos que, como esses feitores, eram mestres da dissimulação, fato que não passou despercebido para os senhores: um fugitivo “fala bem”, outro tem “muita prosa e [é] ladino”, ainda outro “tem boa prosa de iludir”. A política de domínio dos senhores era ardilosa e eficaz. Indo ao encontro de certos anseios dos escravos, ela aumentava a vulnerabilidade de muitos cativos, tornando-os menos dispostos a arriscar confrontos. Entretanto, essa política provavelmente não conseguiu cooptar a maioria dos escravos favorecidos e dividir a senzala contra eles. Sem dúvida, havia tensões na comunidade cativa, por exemplo entre africanos e crioulos e entre campineiros e 33 brasileiros de outras origens, trazidos pelo tráfico interno após 1850. Mas a própria vivência no cativeiro, a insegurança de vida e a necessidade de escravos domésticos e qualificados sempre terem de mediar, como Jerônimo, os (des)encontros entre senhor e trabalhador teria dificultado a abertura de um fosso intransponível entre subalternos favorecidos e não favorecidos. No entanto, o ardiloso engenho montado pelos senhores voltou-se contra seus criadores. A política que incentivava a criação de famílias, visando produzir reféns, também garantia aos escravos um certo espaço de autonomia. Os africanos deportados para o Sudeste, na sua grande maioria oriundos da África Central (principalmente de Angola e da região do baixo rio Zaire), trouxeram consigo línguas e culturas com muitas afinidades entre si. A família escrava, nuclear, extensa, incorporando compadres e malungos (companheiros “do mesmo barco”), provavelmente serviu como instituição importante para a amálgama dessas culturas centroafricanas, para o encontro entre tradições africanas e europeias, e para a transmissão de reflexões sobre vivências e memórias entre as gerações. Portadores de uma experiência e cultura em comum, os muitos escravos Beneditos, ladinos e de muita prosa, teriam deixado seus senhores sempre em dúvida; qual, afinal, o sentido “daquele abraço” do momento do assassinato? (ALENCASTRO, Luiz Felipe de. (Org.). História da Vida Privada no Brasil. Império: a Corte e a modernidade nacional. Senhores e subalternos no Oeste Paulista. v. 2. p. 233 a p. 242; p. 251 e 252; p. 256 e 257; p. 274 a 282.) 34 Indicações bibliográficas: AB’ SABER, Aziz Nacib. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. BRANCO, Samuel Murgel. A serra do mar e a baixada. São Paulo: Moderna, 1992. CAMPOS, Flávio de; MIRANDA, Renan Garcia. Oficina de história. O Império do Café. São Paulo: Moderna, 2000.capítulos 12 e 13. DEAN, Warren. A ferro e fogo. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 183-205. MAGNOLI; Demétrio; ARAÚJO, Regina. Projeto de ensino de Geografia do Brasil: natureza, tecnologia, sociedade. Editora Moderna. MARTINS, Ana Luiza. O Império do Café: a grande lavoura no Brasil (1850/1930). São Paulo: Atual, 1990. OLIVEIRA, Roberson de. História do Brasil: análise e reflexão. Transformações decorrentes da expansão cafeeira. São Paulo: FTD, 1997.cap. 15. —————————. Economia colonial e ação predatória. In: Folha de S. Paulo. Caderno Fovest, 18 de julho de 2002. ROSS, Jurandyr L. Sanches (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1999. p. 170-172. TERRA PAULISTA, HISTÓRIAS, ARTES, COSTUMES: a formação do Estado de São Paulo, seus habitantes e os usos da terra. O café no Vale do Paraíba. São Paulo: CENPEC, Imprensa Oficial, 2004. p. 120. Z:\editoracao\2011\Ped2011\Estudo do Meio\TEXTOS DE APOIO PARA SITE - Estudo do Meio 2C.docx 35