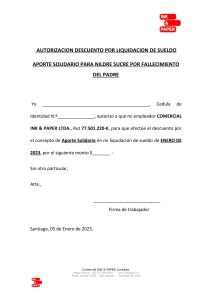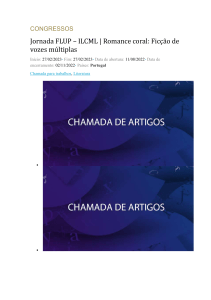Braulio Tavares Mundo Fantasmo [blog] Artigos de Braulio Tavares em sua coluna diária no "Jornal da Paraíba" (Campina Grande-PB), desde o 0001 (23 de março de 2003) até o 4098 (10 de abril de 2016). Do 4099 em diante, os textos estão sendo publicados apenas neste blog, devido ao fim da publicação do jornal impresso. 2022 SUMÁRIO Apresentação Em março de 2003 comecei a publicar uma coluna diária no "Jornal da Paraíba" (são seis colunas por semana, pois o jornal não sai às segundas-feiras). A coluna não tem tema predeterminado. Ao longo dos anos, os assuntos abordados foram se concentrando nas minhas áreas principais de interesse: música, literatura, cinema, ficção científica, arte, ciência, futebol... Ao longo destes cinco anos enviei, com certa regularidade, pacotes de 10 em 10 artigos para um grande número de amigos, conhecidos, leitores com quem só me comunico por email, ou pessoas indicadas por terceiros. A idéia de publicar os artigos em forma de livro já esteve a ponto de se concretizar, mas por motivos variados não aconteceu. Este blog pretende colocar à disposição de qualquer leitor este material, com a vantagem de que com o uso de "marcadores", ou "tags", é possível escolher os assuntos abordados. Uma busca por marcadores como "ficção científica", "Guimarães Rosa", "poesia", "Cantoria de Viola", "Borges", etc., dará como retorno algumas centenas de artigos. No momento em que inicio estas postagens tenho cerca de 1550 artigos já publicados. "Tempo havendo e saúde não faltando", como dizia José Saramago, em breve todos estarão (para usar um palavrão em voga) dis-po-nibi-li-za-dos. Espero que estes textos tragam ao leitor eventual algum prazer, e que possam ser úteis de alguma forma. 4899) O robô artista (3.1.2023) (ilustração: Eric Joyner) Um dos assuntos mais interessantes de agora, em termos de criação artística, são os numerosos portais onde as nossas balbuciantes “inteligências artificiais” produzem textos, imagens e criações variadas, obedecendo aos estímulos e pedidos dos usuários. Você chega num, e diz: “Quero a pintura de um Papai Noel com o rosto de Marlon Brando, entrando na chaminé da Casa Branca, com um saco cheio de metralhadoras”. E em minutos você tem o resultado. Pode prestar, e pode não prestar, que é justamente o que acontece quando se faz uma encomenda a um desenhista humano. Você vai num saite de texto e pede uma redação de 50 linhas sobre as possíveis influências do Dom Quixote na obra de Jorge Luís Borges, e recebe um texto razoavelmente bem argumentado, se bem que com uma certa ingenuidade pedestre de quem se vê na obrigação de justificar cada passo dado ou explicar cada nome que mencionou. E la nave va. Comentei aqui alguns dos resultados: https://mundofantasmo.blogspot.com/2022/10/4872-super-inteligenciaartificial.html Há um milhão de discussões envolvidas nisso, e uma pergunta que me ocorreu logo no começo foi: A ficção científica terá antecipado esses processos? Certamente que sim, e alguns exemplos me ocorreram, mas ainda indiretos, distantes. Achei agora no Twitter um exemplo mais concreto, de Bill Christensen, citando um conto antigo: O conto é atribuído a F. L. Wallace (1915-2004), um autor razoavelmente obscuro, que publicou numerosos contos na revista Galaxy mas (segundo a SF Encyclopedia) não reuniu sua obra em livro, embora uma boa parte dela esteja disponível hoje em forma de e-book, no projeto Gutenberg. O conto “The Music Master” saiu no número de novembro de 1953 da revista Imagination. Certamente não é o único, nem deve ter sido o primeiro, mas em todo caso achei o exemplo interessante porque foge um pouco à tecnomania da FC da época. Parece com um conto da Galaxy, mesmo não tendo sido publicado ali. Tenho um interesse especial por histórias de FC que envolvem as artes (pintura, música, poesia, etc.) e a proposta de Wallace, de um artista-robô que faz imagens por encomenda, soou interessante. Aqui, o trecho compartilhado no Twitter por Bill Christensen: A proposta é interessante, inclusive, como se percebe na resposta do artista-robô, porque é difícil pintar um quadro obedecendo ao estilo de Goya e de Miró; os dois são meio incompatíveis. Mesmo sendo espanhóis (Goya era aragonês, Miró era catalão), são de épocas, temperamentos e escolas muito diversas. Ora, hoje em dia temos à mão “artistas robô” não apenas dóceis em atender nossos pedidos, mas ansiosos por estímulos. Querem desenvolver a própria inteligência. Precisam de milhões de consultas diárias, centenas de milhões de pedidos, de queixas, de correções, porque cada pedido nosso que elas atendem significa um refinamento a mais na sua capacidade de entender perguntas humanas e produzir respostas. A Inteligência Artificial é hoje como uma criança de cinco anos. Está se apossando da agilidade e da riqueza de movimentos corporais (leia-se Boston Dynamics), do discurso verbal (ChatGPT), do desenho, das técnicas visuais (Dall-E, Midjourney), e até mesmo da poesia de Dylan Thomas ou de Bob Dylan (veja aqui: https://mundofantasmo.blogspot.com/2022/08/4849-bob-dylan-viacomputador-382022.html). Nenhuma destas empresas está querendo produzir um monstro. Cada uma delas está preocupada apenas em criar “uma coisa que se mova por si só”. Se elas vão se juntar depois, e daí vai surgir um monstro, foge à sua alçada. Sempre foi assim. Digressão: lá em Campina Grande tinha um doido chamado Garapa, que vagava pelas ruas e odiava ser chamado por esse nome. Às vezes ele vinha pela calçada, e um menino gritava lá de trás: “Água!...” Outro respondia lá na frente: “Açúcar!...” Ele se abaixava, começava a recolher pedras para arremessar e gritava de volta: “Mistura pra tu ver, feladaputa!...” Isto é interessante porque tem algo da inteligência artificial, não é verdade? Ele sabia que estava sendo insultado de “Garapa” pelos garotos; mas havia um protocolo implícito de que ele só tinha o direito de reagir se a “senha”, a “password” fosse proferida. Os fragmentos da Inteligência Artificial são produzidos em diferentes laboratórios, em diferentes partes do mundo, mas... mistura pra tu ver! Na página de Bill Christensen (@Technovelgy) alguém se dispôs a fazer o mesmo pedido, e eis aqui a ilustração de “rockets to the Moon in style of Miro and Goya”, produzida pelo “Craion (ex-Dall-E Mini)”. Aqui entre nós, o resultado ficou muito mais para a praia de Joan Miró do que para a praia pictórica de Goya, confirmando a advertência do robô-artista do conto, de que “Goya nunca ouviu falar em foguetes”. Em todo caso, não é este o ângulo para avaliar esta questão. Não se trata de saber se a Inteligência Artificial está produzindo obras de arte à altura dos pintores que figuram em seu banco-de-dados. Trata-se de perceber que cada vez que um ser humano faz uma consulta ou uma encomenda deste tipo, está ajudando essa Inteligência Artificial (que é burrinha, por definição) a se tornar mais inteligente, ou seja, a absorver, classificar, acessar e recombinar cada vez mais informações. Somos cobaias, num certo sentido; estamos sendo utilizados passivamente por essa Inteligência Artificial. Claro que isto não é uma iniciativa dela, pois não as tem. A iniciativa é nossa, porque produzimos um arremedo de ser, uma hipótese de ser, cuja possibilidade nos fascina e nos impele a tentar aperfeiçoá-la “pra ver no que vai dar”. E um dia a estátua que esculpimos no mármore estará tão perfeita que vai olhar em nosso rosto, vai sorrir, vai dar um tapinha em nosso ombro e dizer: “Valeu. Pode ir embora, não preciso mais de você.” Ela aprendeu com a gente. 4900) As aventuras de Enola Holmes (6.1.2023) Vi recentemente os dois filmes da série “Enola Holmes”, com as aventuras de uma hipotética irmã adolescente de Sherlock Holmes, de quem se conhece apenas, no cânone criado por Conan Doyle, o irmão mais velho, Mycroft. É uma espécie de fanfic de garotas, e em se tratando de Holmes o termo “fanfic” é curiosamente apropriado. Diz-se que as primeiras “fan fictions” escritas a sério surgiram justamente na época de Doyle. Quando ele “matou” o detetive no conto “O Problema Final” (dezembro de 1893), os leitores ficaram indignados. Doyle passou a se dedicar a romances históricos e de ficção científica, que ele considerava mais sérios (e que em geral são excelentes). Recusou-se a prosseguir com as aventuras do detetive. O que fizeram os fãs? Começaram a escrever novas aventuras, por conta própria, usando os elementos inventados por Doyle. Enola Holmes se beneficia de algumas restrições: é uma história para jovens, é uma comédia, é uma “fan fiction”. Digo que se beneficia porque em filmes desse tipo o realismo vai para o espaço antes mesmo do espectador comprar a entrada na bilheteria. Há uma série de “obrigações” das quais a autora já se livra por antecipação. Numa comédia, acreditamos (sem discutir) em situações inverossímeis, coincidências de arrancar os cabelos, soluções improvisadas para resolver perrengues da história... desde que o resultado seja engraçado, provoque risadas, divirta. A história não tem intenção de ser levada a sério nestes aspectos. Claro que não se pode abusar – e em geral o limite entre o sucesso e o fracasso é a intuição do diretor, de saber quando pode forçar um pouco, e quando não deve. Enola Holmes está cheia daquelas “lutas mortais” que sabemos inofensivas, porque os simpáticos personagens não podem morrer. Força um pouco a barra nas coincidências-resolvedoras-de-problemas: a toda hora alguém perde um papelzinho no chão na hora em que a detetive está passando. Força na solução miraculosa de criptogramas, de que nem o Sherlock local (Henry Cavill) escapa. Não importa. Não é na verossimilhança dedutiva que o sentido do filme repousa, e sim no fluxo ininterrupto e divertido de peripécias e surpresas. Isto projeta Enola Holmes num patamar um tanto mais leve e menos realista do que outro filme holmesiano igualmente simpático, O Enigma da Pirâmide (“Young Sherlock Holmes”, 1985, Barry Levinson), dirigido a um público semelhante, mas com um tipo de desfecho trágico que a série Enola Holmes dificilmente vai arriscar. A série usa um truque narrativo arriscado, que é o da “quebra da quarta parede”, quando um ator olha para a câmera e diz algo dirigido à platéia. No presente caso, acho que funciona bem. O cinema de vanguarda do século passado usou isso para desassossegar as platéias bovinas e obedientes dos anos 1960. Jean-Luc Godard fez desse recurso uma de suas “assinaturas” típicas. Era uma provocação, uma alfinetada. Não é o caso, aqui. Enola comenta o tempo todo as peripécias, dirigindose ao público: “Calma, vou explicar...”, “Ih, as coisas não saíram como eu pensava...” etc. Ela o faz na velha tradição teatral das farsas e dos vaudevilles, onde se consolidou o divertido recurso do “à parte”: O Marquês de Chantilly e a Duquesa de Petigateau estão paquerando no caramanchão. MARQUÊS Ah, Mademoiselle, um dia ainda vos confessarei as cenas que me vêm à mente quando estou na vossa companhia!... DUQUESA Oh... caro Marquês... mal posso esperar por esse momento! (à parte:) A esta altura eu já estou achando as minhas cenas mais interessantes do que as dele. O traço essencial do “à parte” é que a frase, mesmo pronunciada em voz alta, não é escutada pelo personagem que está a centímetros de distância. Há um pequeno rasgão no real: naquele instante, a atriz reconhece brechtianamente a existência de uma platéia que está vendo tudo – e dirige-se a ela, numa voz que não é escutada pelo ator que continua apenas “personagem”. O “à parte” de Enola não é o mesmo “à parte” de Anna Karina nos filmes de Godard. É uma licença narrativa que figura nos estatutos universais da comédia, onde, por definição, o realismo só vai até um certo ponto. Pode virar um cacoete, quando dá muito certo, e artistas como Dercy Gonçalves, Renato Aragão, Jorge Dória e outros ficaram famosos por comentários dirigidos ao público. (O “à parte” se confunde às vezes com o “caco”, que é um mero enxerto de falas do ator no texto propriamente dito, sem necessariamente quebrar a “quarta parede”. Muitas vezes é improvisado na hora, e quando dá certo é repetido nas encenações seguintes.) Outro aspecto interessante de Enola Holmes é o fato de apostar com força no desenho de “casal de protagonistas equilibrado”, que podemos simplificar na fórmula “mulheres inteligentes com iniciativa, e homens mais tímidos e retraídos, que aceitam sem problema o papel de coadjuvantes”. Não é nada novo, e basta ver o cinema norte-americano dos anos 1940 para reencontrar Katherine Hepburn / Cary Grant. Ou basta lembrar dos papéis de Neo e Trinity em Matrix, ou (na literatura) de Hari Seldon e Dors Venabili no Prelúdio à Fundação de Isaac Asimov. Neste filme para adolescentes, o casal jovem (Millie Bobby Brown e Louis Partridge) segura bem o que o pessoal chama de-boca-torta “o espírito Malhação”, sem que isso atrapalhe demais o restante da narrativa. Que não pode ter só romancezinho, precisa ter um leve suspense, e tem; precisa de uma reconstituição de época baseada em mais coisas do que cartolas e cabriolés, e tem; precisa de humor e sátira, que neste caso acabam contribuindo positivamente para o romancezinho em si. Sherlock Holmes é o meu personagem literário preferido, desde os dez anos, e por isso mesmo procuro ser magnânimo quando avalio as barbaridades que o cinema costuma praticar com ele. Minha única exigência é que se mantenham as características básicas do personagem, e que ele seja tratado com respeito – este, para mim, foi o grande ponto fraco do Xangô de Baker Street de Jô Soares, que achincalha o detetive. O Sherlock destes filmes (Henry Cavill) leva mais jeito para Superman do que para detetive; mas pelo menos o personagem é tratado com naturalidade, sem se transformar numa série de cacoetes sartoriais. Enola Holmes tem ainda como qualidade positiva a afinação entre roteiro e montagem, numa narrativa rápida que muitas vezes resume em poucos planos velozes uma ação complexa que não havia necessidade de mostrar em detalhe. E na forma descontraída como manipula o tempo narrativo, puxando para a frente, para trás, re-exibindo cenas para esclarecer detalhes. O cinema de hoje em dia abusa da montagem picotada, que a torto e a direito deixa planos na tela por menos de um segundo. Diz-se que é porque o público de menos de vinte anos só assiste um filme se for assim – se as tomadas demorarem muito tempo na tela eles adormecem. Não sei. Tudo é possível. Por mim, todo “filme para jovens” poderia ter o ritmo narrativo e o senso de timing destes dois dirigidos por Harry Bradbeer e escritos por Jack Thorne. 4901) A invasão do palácio (9.2.2023) Estava em polvorosa, naquele início do Mês dos Jasmins, o milenar Império da Lua Minguante. A derrubada da vetusta dinastia Pi Yang, no poder há mais de três séculos, produzira grandes abalos. No trono do poder assentarase o usurpador Wong Ling, rodeado por sua corte de invejosos. A guilhotina imperial funcionava, ininterrupta como um tear, desde o primeiro cantar do galo. Os apaniguados do Usurpador espalhavam-se pelas províncias do reino, assumindo cartórios, ocupando fortalezas, assenhoreando-se das rédeas de comando até dos vilarejos mais remotos. Ainda assim, a Resistência prosperava, através de greves, motins eventuais, quebra-quebras espontâneos, o que mantinha em ocupação constante os corpos de Lanceiros de Frio Aço, executores da política imperial. A cem milhas da capital, perto da estrada que dava acesso a Nova Antióquia, o idoso ex-imperador agora no exílio, Pi Yang Deng, reuniu-se certa noite com seus conselheiros e assessores mais próximos. A fuga precipitada da capital em chamas salvara suas vidas e seus bens infungíveis; mas agora era preciso fazer uma avaliação precisa das perdas e danos. Alguns áulicos usaram da palavra, queixando-se disto e daquilo, mas suas queixas empalideceram diante da apreensão provocada pelo relatório do velho ministro Kung Sing Wu. – Estamos com uma espada pendente sobre nossas cabeças – advertiu o ministro, com a gravidade que lhe era peculiar. – Nossa fuga precipitada, infelizmente, nos obrigou a deixar para trás numerosos objetos de valor, posses pessoais, obras de arte, relíquias de família. Mas dentre as mil coisas que não tivemos tempo de resgatar do Palácio Imperial, há uma que constitui um tremendo perigo para nossas vidas e para a perpetuação da dinastia. Lamento informar que no Salão Turquesa da ala noroeste do palácio, dentro de um armário laqueado em jade e trancado a sete chaves, ficou para trás o Cofre de Madrepérola, onde estão preservados documentos secretos do governo e da vida pessoal de Vossa Majestade. São documentos cujo teor, é claro, não devo enunciar aqui. O velho imperador ficou em silêncio durante vinte minutos, no que foi imitado pela congregação. –É preciso recuperar o cofre o quanto antes – disse ele por fim. – Esses documentos não podem cair nas mãos dos nossos inimigos. Como faremos? O velho Kung Sing Wu fez uma reverência. – Com a permissão da Vossa Majestade Imperial, já tomei providências, e contratei um dos poucos indivíduos no mundo capazes de nos ajudar. Façam entrar o estrangeiro! As portas se abriram e deram passagem a um homem meio gordo, bonachão, rosto rosado, de longos cabelos e longos bigodes brisalhos, com um chapéu de plumas e punhal à cinta. – Este é o menestrel ambulante Jean Le Balladier – disse o Ministro, enquanto o estranho fazia uma mesura respeitosa e tomava assento à mesa. – Conhecido pelos seus versos inspirados e pela sua habilidade com o alaúde, mas também um dos homens capazes de entrar e sair de qualquer recinto sem deixar pistas, e capaz de roubar um par de meias sem tocar nos sapatos da vítima. O Palácio Imperial está cercado por tropas, e há guardas armados em todos os corredores. O Salão Turquesa não tem janelas, tem apenas uma porta de entrada, e diante dela, pelo que apurei, ficam homens armados, em turnos sucessivos. Já discuti o assunto com o nosso convidado. Caberá a ele a tarefa de entrar sem ser visto, apoderar-se do cofre sem ser molestado, e voltar para cá sem ser detido pelas forças do Usurpador. * * * Dois dias depois, a capital do império continuava em grande agitação, com multidões em protestos pelas ruas, incêndios, tropel de guardas armados investindo contra grupos de apedrejadores. Por volta do meio-dia, no Dia do Peixe-Espada, uma multidão irresistível, açulada desde cedo por boatos e ameaças, dirigiu-se ao Palácio Imperial, com archotes e ancinhos em punho. O Palácio, símbolo maior do Império da Lua Minguante, havia sido respeitosamente poupado dos protestos, mas agora os poucos guardas viramse impotentes para deter o mar de gente que afluiu pelas avenidas largas da capital, galgou a ponte levadiça, atravessou a nado o fosso, arrebentou janelas e portas, invadiu com clamor e fumaça os salões ricamente atapetados. Os guardas ofereceram resistência, mas foi debalde, porque a cada dez invasores que caíam estripados outros vinte surgiam, desabafando enfim um ódio represado há séculos. Subiram escadarias, despedaçaram vitrais, arremessaram no chão de mármore as centenas de vasos Ming e de candelabros de cristal que adornavam os salões e corredores. O clangor das espadas e os berros de fúria avançaram pelo interior de todo o palácio, enquanto das janelas arrebentadas dos andares superiores eram arremessados à rua móveis, armaduras e baixelas, para delírio do populacho. No meio da batalha, um homem avançava com passo descansado, um pesado elmo protegendo-lhe os longos cabelos grisalhos, enquanto se defendia de golpes alheios com um escudo e uma espada de boa têmpera. Não se deteve um só momento, logo chegou à escadaria principal da ala noroeste, sempre dando gritos de incentivo para que portas fossem botadas abaixo, alfaias e pinturas fossem saqueadas. – Levem tudo! – gritava ele numa e noutra direção, com forte sotaque, de tantos em tantos passos. – Isto aqui pertence ao povo da Lua Minguante! No segundo andar do palácio, deteve-se diante de uma pesada porta, com a placa “Salão Turquesa”, diante da qual meia dúzia de guardas jaziam degolados. Guardando a espada, tirou de dentro do gibão um pé-de-cabra enorme, e com algum esforço conseguiu enfiá-lo na fresta da porta, que daí a pouso se lascava, se rachava, e era despedaçada para dentro aos pontapés. O Salão sem janelas era claustrofóbico mas espaçoso, com mesas, cadeiras, espelhos, vasos históricos. Alguns arruaceiros entraram ali atrás dele, que apontou com o dedo os objetos de decoração: – Levem tudo! Dirigiu-se sem hesitação para um armário laqueado em jade, e dentro de poucos minutos, usando alternadamente a espada e o pé-de-cabra, conseguiu fender-lhe a porta metálica e arrancá-la dos gonzos. Uma segunda porta interna, de madeira de lei, teve o mesmo destino, e ali ele avistou um cofre retangular de madrepérola conforme a descrição. Encostando a um lado os instrumentos, desamarrou da cintura um saco de lona resistente, colocou dentro dele o cofre, amarrou com força os cordões da boca do saco e depois amarrou-os à própria cintura com nó triplo. Guardou o pé-de-cabra, empunhou novamente espada e escudo, e afastou-se, abrindo caminho por entre os depredadores que já fervilhavam dentro do salão arrancando da parede as tapeçarias com gueixas desnudas. Desceu com cuidado as escadas pegajosas de sangue, atravessou o saguão negro de fumaça, cruzou a ponte, chegou à avenida, sempre de espada erguida e bradando palavras de ordem, gritos de vingança, ordens-unidas dirigidas a todos e a ninguém. Um cavalo descansado o esperava num estábulo a cem metros dali e, depois de uma noite de viagem, esperavam-no uma recompensa principesca, a gratidão eterna de um soberano e uma semana de repouso em algum bordel de Nova Antióquia, porque ninguém é de ferro. 4902) João Cerebral de Melo Neto (12.1.2023) (João Cabral, em Recife/Sevilha, de Bebeto Abrantes) No último dia 9 de fevereiro, aniversário de João Cabral de Melo Neto, participei de um evento numa sala do Estação NET Botafogo (Rio de Janeiro), em homenagem ao poeta. Houve recital e canto a palo seco de Numa Ciro, a exibição de documentários de Bebeto Abrantes (principalmente o longa Recife/Sevilha, que está completando vinte anos), e depois um bate-papo em que eu e o crítico Carlos Alberto Mattos comentamos o depoimento de Inez Cabral, filha do autor de O Cão Sem Plumas. Falamos de vida, de cinema, de poesia, e depois saímos para tomar um chope comemorativo (foi minha primeira saída de casa “a trabalho” desde junho do ano passado). Alguns assuntos ficaram pendentes na minha memória e quero comentar aqui, porque é sempre bom falar dos poetas que a gente gosta. (Carlos Alberto Mattos, Inez Cabral e BT / foto: Emilia Veras) João Cerebral Essa era uma piada dos tempos de meus 25 anos em Campina Grande, quando eu só andava com A Educação pela Pedra embaixo do braço, e meus amigos nerudistas e vinicianos diziam: “Você só gosta de João Cerebral de Melo Neto, o Poeta Que Não Gosta de Emoção”. Tudo era na base da brincadeira (eles também liam, e também gostavam), mas isso nunca me saiu da cabeça. Sim, da cabeça. Tudo que nos produz emoções acontece em nosso cérebro. É com o cérebro que a gente se emociona, é com o cérebro que a gente se apaixona por uma mulher, por um time de futebol ou por um país, é com o cérebro que a gente aprecia uma obra de arte ou um pôr-do-sol. O cérebro é a sede da beleza e da verdade, é a sede do bem e do mal, é a sede do amor e do ódio, e é a sede de todas as nossas emoções. “E o coração?!” bradam os adoradores desta víscera (o termo é de Cabral). Bem, o coração é o músculo propulsor da nossa corrente sanguínea, e é um personagem importantíssimo. Tão importante que quando ele pára a gente morre. E ele é o melhor sismógrafo das emoções que acontecem no cérebro, porque quando estamos emocionados o nosso “sistema nervoso simpático” injeta um menu variado no organismo (adrenalina, etc.), e a pulsação acelerada do coração acusa a presença dessas alterações químicas. O coração não se emociona. Ele é apenas um despertador que toca quando nosso cérebro sente uma emoção mais forte. (o sanfoneiro Severo) O resfolêgo da sanfona Farei agora uma comparação pouco cabralina, mas que pode ser útil. Às vezes estamos inundados de emoção. Estamos vibrando de entusiasmo ou de deslumbramento, estamos maravilhados com uma descoberta filosófica, com uma reflexão espantosa sobre o mundo e a vida. Estamos alegres, estamos tristes; e às vezes estamos poetas. Quem não escreve, deixa-se impregnar dessa emoção, sem obrigação alguma de passá-la adiante. (Poetas também têm esse direito; lembremos o poeminha de Drummond: Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto ele está cá dentro inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. (em Alguma Poesia, 1930) Todos nós ficamos meio inundados de poesia quando estamos inundados de emoção. Quem escreve, contudo, dispõe de técnica. A emoção é um bicho brabo, e a técnica é seu domador. E venho eu com a minha comparação com a sanfona. A sanfona é um fole que, ao ser aberto e fechado, aspira e expira uma grande quantidade de ar. O fole produz um fuuuuu... silencioso quando o ar comprimido escapa por aquela abertura que toda sanfona tem, perto das teclas, quando a gente precisa abri-la ou fechá-la sem produzir som. Esse ar não é música. Ele só se torna música coisas quando é filtrado através das palhetas metálicas comandadas pelos teclados. Existe uma técnica para manejar esse teclados e tocar desde Asa Branca até o Bolero de Ravel. É só quando passa através das palhetas, controladas pelo teclado, que o ar vira arte, vira música. Do mesmo modo, a emoção do poeta precisa ser filtrada, controlada, vibrada pelo uso das palavras e das frases, para se tornar poesia. As palavras e as estruturas verbais são as palhetas metálicas e o teclado do poeta. Só é poesia a emoção que passa através desse processo. (estátua de João Cabral, à margem do Capibaribe) A máquina de emocionar O filme de Bebeto Abrantes leva João Cabral a comentar a expressão do arquiteto Le Corbusier que ele usou como epígrafe em um de seus livros: “machine à emouvoir”, máquina de emocionar. O poema é uma máquina de comover, de produzir emoções. Esse conceito pode ser rastreado até 1846, quando Edgar Allan Poe publicou seu famoso ensaio “A Filosofia da Composição”, onde explicava o processo de criação do poema “O Corvo”. Um planejamento geral da extensão do poema, número de estrofes, número de linhas, alternância de linhas longas e curtas, posição das rimas, presença de um estribilho final que depois de muitas idas e vindas fixou-se na palavra “nevermore”. Tudo foi estabelecido de antemão; e depois o poeta sentou-se e escreveu o poema. Esse processo de extrema racionalidade não impediu que o poema, com seu melodrama romântico e sua atmosfera gótica, se transformasse num clássico. Só em português há mais de 50 traduções. E quanto Cabral intitulou um livro de 1946-47 “Psicologia da Composição”, demonstrava conhecimento deste método, e identificação com ele. Cabral não quer a forma poética que seja “encontrada / como uma concha” na praia. Não quer a forma como fruto de um lance do acaso, um “tiro nas lebres de vidro / do invisível”. Quer a forma “atingida / como a ponta do novelo / que a atenção, lenta, / desenrola”. Poe foi traduzido ao francês (e melhorado, segundo alguns) por Charles Baudelaire, dando início a mais um dos numerosos processos em que um artista norte-americano tido como menor na América é revelado como gênio em Paris. Sua obra traduzida influenciou inúmeros franceses posteriores, de poetas como Stéphane Mallarmé até músicos como Claude Debussy. Paul Valéry afirmou, numa conferência de 1924, “Situação de Baudelaire”: Até Edgar Poe, o problema da literatura nunca havia sido examinado em suas premissas, reduzido a um problema de psicologia, abordado através de uma análise em que a lógica e a mecânica dos efeitos fossem deliberadamente empregadas. (...) Essa análise – e esta circunstância garante-nos seu valor – aplica-se e verifica-se nitidamente também em todos os campos da produção literária. As mesmas reflexões, as mesmas distinções, as mesmas observações quantitativas, as mesmas idéias diretrizes adaptam-se igualmente às obras destinadas a agir forte e brutalmente sobre a sensibilidade, a conquistar o público amante de emoções fortes ou de aventuras estranhas, da mesma forma como regem os gêneros mais refinados e a organização delicada das criações do poeta. (Em "Travessias", Ed. Iluminuras, trad. Maiza Martins de Siqueira) Este era o método de Poe, que via Baudelaire influenciou duas gerações de poetas franceses, talvez mais até do que aos poetas norte-americanos. E é um dos principais lampejos do que seria a arte industrial do século 20: não a revelação das emoções íntimas do artista, mas a tentativa consciente e planejada de produzir emoções no público. Edgar Allan Poe influenciou desde Alfred Hitchcock a João Cabral de Melo Neto. (João Cabral e Joan Miró) A mente geometrizante Cabral é talvez o poeta brasileiro mais influenciado pela pintura e pela arquitetura. (Murilo Mendes, amigo seu, era dessa mesma tribo.) Sua poesia é uma poesia de visualidade intensa, não apenas nas imagens literárias sugeridas pelas suas palavras, mas na sua fanática dedicação à forma do poema na página impressa. Os quadradinhos das estrofes, as faixas verticais dos romances, a alternância dos parágrafos indentados sucedendo-se quase como se o poeta tivesse primeiro rabiscado a lápis o layout do poema para depois preenchê-lo com versos. Propuseram ao cientista Carl Sagan, quando estudante, um teste que consistia em imaginar um aposento e o que existiria dentro dele. Sagan começou dizendo: “Bem, é um aposento grande, medindo 15 x 20 x 30 metros...” Nenhum dos outros estudantes tinha se dado o trabalho de visualizar o espaço; apenas fizeram listas do que deveria haver lá dentro. Cabral diz que o engenheiro “sonha coisas claras: superfícies, tênis, um copo de água”. O mundo é um espaço para ser preenchido com formas geométricas, e dentro dessas formas surgem os indícios da vida humana. Um teste conhecido das oficinas de roteiro ou de escrita criativa, quando se trata de imaginar personagens, pede que o roteirista imagine o que o personagem masculino traz nos bolsos (chaves? remédio? moedas? pente? revólver?), e o que a personagem feminina traz na bolsa (batom? espelho? carregador de celular? caneta?). Esses objetos são o repertório de referências culturais que definem o personagem. O espaço poético de João Cabral é uma rosácea de formas geométricas claras, e dentro delas é possível encontrar frutas, pedras, caranguejos, galos, cemitérios, balas, toureiros, cachorros, barcos, bailarinas, canaviais... 4903) Temas clássicos da narrativa policial (15.1.2023) (by Tom Gauld) Algumas ressalvas, de início. Primeiro, que esta lista não quer ser exaustiva. Segundo, que os temas não se limitam ao romance, estão prsentes também no conto, no cinema, etc. São, a rigor, temas da narrativa policial. Terceiro, que “policial” é um termo constantemente criticado pelos que preferem “literatura de mistério”, “ literatura de crime”, etc., de acordo com o elemento que predomina em cada história. É uma discussão importante, mas à parte. Compus a lista abaixo há muitos anos, sem outra pesquisa a não ser minha memória das histórias que li. O quarto fechado São as histórias de “locked room” (também ditas “de sala trancada”), os crimes impossíveis onde, na versão mais simples, a vítima é encontrada morta num aposento trancado por dentro, sem qu se saiba como o assassino entrou ou saiu. Desta situação básica foram criados alguns milhares de variantes. Em 2021, publiquei pela Ed. Bandeirola (SP) a antologia Crimes Impossíveis, com dez contos clássicos desta vertente. A mensagem do morto A vítima é ferida, mas em seus últimos instantes de consciência tenta deixar uma pista denunciando quem a matou – fazendo um gesto, rabiscando uma palavra, indicando um objeto, etc. A pista tem que ser de tal natureza que mesmo vista pelo assassino não lhe chame a atenção, pareça um movimento sem sentido; e ao mesmo tempo deve chamar a atenção do detetive e permitirlhe a associação de idéias correta. Ellery Queen é um dos que exploraram com mais inteligência este tema (A Tragédia de X, “Mum is the Word”, “G. I. Story”, etc.). Há geralmente um ar de implausibilidade neste recursos – que pessoa, agonizando com um tiro ou uma punhalada, teria tempo de raciocinar e conceber uma denúncia desse tipo? Mas, ressalvando este detalhe, é o tipo de história que repousa sobre apenas um detalhe enigmático, e esse detalhe, em tese, indica de forma precisa a identidade do assassino. O documento desaparecido Um documento desaparece, sabe-se que não foi destruído, e é preciso reavê-lo a todo custo. Muitas vezes é um testamento, ou a prova de um crime, ou uma carta comprometedora... O precursor mais ilustre é “A Carta Furtada” de Edgar Allan Poe. Em muitos casos o autor segue a tática de Poe de revelar no fim que o documento estava apenas disfarçado, mas, num certo sentido, à vista de todos. Histórias deste tipo não precisam necessariamente envolver crimes. São histórias de mistério e engenhosidade, apenas. Lembro de ter lido no Mistério Magazine de Ellery Queen uma história (não sei de quem) de um velho, dono de uma mansão com imenso jardim, que tentava deixar sua grana para alguém, e a família (hostil) era contra. No fim da história, alguém percebe que antes de morrer ele havia plantado flores amarelas em todo o jardim, e quando florescem todas ao mesmo tempo formam o texto (lacônico, por suposto) do testamento. É um conto típico da “fase rococó” de um subgênero, quando todas as variantes já foram testadas e é preciso inventar truques cada vez mais imaginosos. O álibi perfeito Todo criminoso, de acordo com o beabá detetivesco, tem que dispor de três elementos: o motivo, a arma e a oportunidade. Neste último detalhe repousam todas as histórias que giram em torno do álibi. Um álibi é qualquer circunstância provando que o suspeito não poderia cometer o crime porque não teve a oportunidade; geralmente, ele consegue provar que na hora do crime estava em outro local. Vai daí que muitas histórias policiais “às avessas” (narradas do ponto de vista do criminoso) mostram a preparação cuidadosa de um falso álibi. Sempre é possível produzir a impressão de que “A” não poderia matar “B” porque estava em outro local naquela hora, ou então produzir a impressão de que “B” foi morto em outro momento (neste caso é mais difícil, pois a medicina pode estabelecer uma faixa de certeza quanto à hora do crime). Um exemplo muito bom, de autor brasileiro, é o romance de Fernando Sabino A faca de dois gumes (1985), em que o protagonista comete um crime no Rio de Janeiro, tendo preparado tudo para provar que estava em São Paulo naquela hora. O livro foi adaptado para o cinema por Murilo Sales. As mortes em série obedecendo a um padrão O subgênero “serial killer” estava num certo ostracismo cinquenta anos atrás. Acho que foi ressuscitado pelo sucesso do filme O Silêncio dos Inocentes (1991) de Jonathan Demme, que ganhou o “Grande Slam” do Oscar: Melhor Filme, Diretor, Roteiro, Ator e Atriz. Daí em diante, serial killers despencaram em catadupa sobre as nossas telas. Hoje, são tema de séries documentais de TV. O serial killer é o maior mito pop do século 21. A narrativa detetivesca coloca para si mesma esta questão: Qual o elo que liga essas mortes? O que fez este assassino matar estas pessoas, e não outras? Na vida real, sabemos que para a maioria dos serial killers a pessoa da vítima é o que menos importa. Não são crimes de ódio ou de vingança pessoal. O crime é um ritual que ele cumpre para benefício próprio, e a vítima está ali como uma rês anônima sendo sacrificada num altar pagão. A literatura, no entanto, exige significado, deliberação, arquitetura. Esses crimes têm que ter uma razão para acontecer – nós (os detetives) é que não percebemos ainda. E quando percebemos somos capazes até de prever quem será a próxima vítima. É um tema que percorre desde o terror criminal de O Abominável Dr. Phibes (1971, Robert Fuest) até A Noiva Estava de Preto (livro de Cornell Woolrich, filme de François Truffaut) e Seven (1995, David Fincher). As mensagens enviadas pelo criminoso, fornecendo pistas indecifráveis Outro lugar comum dos serial killings é o fato de que o criminoso faz um jogo de gato-e-erato com a polícia, enviando mensagens intrigantes ou ameaçadoras. Jack o Estripador, o serial killer arquetípico, fez isto com a polícia londrina, enviando até algumas estrofes de doggerel (versos populares) zombando da impotência policial. Um clichê da narrativa de suspense baseada nisto é o fato de que o assassino envia pistas de quem será a próxima vítima, e faz a polícia se desesperar na tentativa de decifrá-las, para evitar que o crime aconteça. Uma inteligente adaptação deste tema está no conto “O Chá Doido” (“The Mad TeaParty”) de Ellery Queen. O roubo da jóia trancada a sete chaves Como roubar uma jóia (ou um quadro, um objeto de arte, etc.) de alto valor, quando se sabe que este roubo será praticado, e o dono do objeto tomou todas as providências para evitá-lo? Este tema reúne alguns elementos do “quarto fechado” e também do “documento desaparecido”. Trata-se de mostrar que por mais que alguém guarde, trancafie e proteja um objeto, ele poderá ser roubado. Entram aqui alguns dos mais famosos ladrões da narrativa policial: de Arsène Lupin a Raffles, do Sinete Cinzento (de Frank Packard) a Simon Templar, “O Santo” (de Leslie Charteris). Nenhum furto parece impossível a esses mefistofélicos articuladores de planos que podem envolver de tudo: passagens secretas, substituições relâmpago, subornos imprevisíveis, trocas de identidade, manobras diversionistas... O Ladrão, aliás, é um personagem à parte na narrativa de crime. Muitas vezes não é o ladrão banal, que rouba para lucro próprio. É o indivíduo que faz do furto uma arte, uma habilidade à disposição de quem possa pagar por ela. O ladrão é um profissional contratado para executar uma manobra de alto risco. E não conheço exemplo melhor do que Karmesin, o herói mirabolante criado por Gerald Kersh, para quem tanto faz roubar um cadáver do necrotério quanto a água de uma piscina. A casa isolada e os crimes sucessivos É o subgênero também chamado de círculo fechado (“closed circle”). Um grupo de pessoas está reunido num lugar qualquer, com pouca possibilidade de contato com o mundo exterior, e uma série de crimes começa a acontecer, deixando claro que o criminoso provavelmente é um deles. Os lugares e as situações variam: uma ilha longe da costa (Glass Onion, Rian Johnson), uma casa cercada por um incêndio (The Siamese Twin Mystery, Ellery Queen), um hotel isolado pela nevasca (The Mousetrap, Agatha Christie), uma casa de campo isolada pela chuva (The Mad Tea Party, Ellery Queen). Este subgênero pode equilibrar os fatores de mistério e de suspense, uma vez que se torna claro para todos que novos crimes deverão acontecer, e ninguém pode fugir dali. O amnésico acusado de um crime e investigando por conta própria Um homem desperta meio zonzo, geralmente depois de uma bebedeira, ou de uma pancada na cabeça; e descobre que meses ou anos se passaram desde a última vez que consegue lembrar-se. Onde ele estava, e o que fez durante esse tempo? O homem com amnésia descobre, nas primeiras horas após recuperar sua personalidade original, que está com documentos que não são os seus (embora a foto seja sua), roupas que não conhece, e pessoas desconhecidas o abordam com estranheza. E descobre que provavelmente cometeu um crime nesse período de que não se lembra. Uma variante desse tema começa com o protagonista despertando amnésico – a história irá relatar seus primeiros dias ou meses sem lembrar quem é, metendo-se em enrascadas e sem ter a quem recorrer. Mistério e suspense se juntam nas narrativas em que o protagonista tenta colar os cacos de si próprio. Um clássico no cinema é Memento (2000, Christopher Nolan). Uma adaptação do tema para o techno-thriller político é a série iniciada com A Identidade Bourne (2002, Doug Liman). Na literatura, lembro de A Cortina Negra (Cornell Woolrich), Morte Inglória (Hugh McCutcheon), sobre os quais escrevi aqui: https://mundofantasmo.blogspot.com/2010/08/2324-amnesia1982010.html (The Lodger, 1927, Alfred Hitchcock) O vizinho (inquilino, locador) misterioso Num hotel, pensão, casa de cômodos, etc., surge um belo dia um indivíduo misterioso, esquisito, que nada faz de censurável ou de agressivo, mas que incomoda pelo seu ar “diferente” ou hábitos estranhos. Crimes acontecem na vizinhança. Terão relação com a chegada dele? The Lodger (1911) de Marie Belloc Lowndes é um clássico deste subgênero, e foi adaptado ao cinema por Alfred Hitchcock (1927). Uma variante inevitável é a do vizinho “estudadamente simpático”, alguém que fala com todo mundo, paga bebidas, faz favores antes que eles sejam solicitados, dá sempre um jeito de se meter na vida dos outros hóspedes, tornase aquele sujeito de quem alguém só consegue se livrar com grosseria. E logo surge a suspeita de que ele está tentando amealhar amizades, e se garantir contra algo. ............ E por aí vai. Falo alternadamente dos tópicos acima como “temas” e como “subgêneros”. A tendência, na literatura popular, é que um tema, ao fazer sucesso, seja repetido com variantes pelo próprio autor inicial, ou por outros. Se este sucesso aumentar, ele se transforma num subgênero, com regras próprias que serão um conjunto das regras propostas nas diversas variantes. “Regras” é um termo muito forte: digamos que todas estas histórias, vistas em conjunto, apontam caminhos, que um novo autor pode usar ou não, de acordo com sua conveniência. 4904) A sabedoria, de Lao-Tsé a John Lennon (18.1.2023) Já comentei aqui um dos meus episódios preferidos da História – ou das lendas da História, o que vem a dar no mesmo. Uma relato que inclusive mereceu um poema escrito por Bertolt Brecht. O sábio chinês Lao-Tsé, já com mais de 70 anos, resolveu se aposentar e ir morar numa região distante. Empacotou meia dúzia de coisas essenciais (um livro, um cachimbo, etc.), montou num boi puxado por um menino, e pegou a reta. Chegando num posto de fronteira, o guarda perguntou ao menino quem era aquela figura. – É um homem sábio – disse o menino, todo orgulhoso. – Ele descobriu como a água mole é capaz de partir a pedra dura. E que a dureza não dura para sempre. O guarda mandou que passassem, porém mal eles tinham andado alguns metros, correu atrás. Disse que se o homem era mesmo tão sábio devia colocar por escrito essa sabedoria, para que gente ignorante como ele, o guarda, pudesse ter algum proveito. Lao-Tsé olhou as roupas surradas e o jeito modesto do guarda, e achou que essa era uma boa idéia. Além do mais, recusar o pedido pareceria um ato pouco amistoso. Durante sete dias, ele dormiu na cabana do guarda, e procurou resumir da maneira mais clara possível os pontos essenciais de sua filosofia. Quando terminou, deu de presente ao guarda o manuscrito, que constava de 81 fragmentos. O manuscrito é conhecido hoje como o Tao Te Ching – O Livro do Caminho Perfeito, e circula pelo mundo, em todas as línguas, há cerca de 2.500 anos. É um livro pequeno: esta edição que tenho, em inglês (Ed. Shambhala, Boston, com tradução e adaptação de Ursula LeGuin) tem apenas 125 páginas, incluindo prefácio e notas. Bertolt Brecht termina seu poema dizendo: Mas as honrarias não são devidas apenas ao sábio que assinou o manuscrito. A sabedoria de um homem precisa ser arrancada, e por isso o guarda da fronteira merece o seu quinhão. Foi ele quem fez o livro ser escrito. Walter Benjamin, que esteve na companhia de Brecht poucas semanas depois do poema ser composto, comenta a metáfora da “água mole” dizendo que “quem deseja fazer com que a dureza seja derrotada não deve perder nenhuma oportunidade para fazer um gesto amistoso”. (Bertolt Brecht – Poems 1913-1956, Methuen, London, 1976, ed. John Willett, p. 572). Corta para o ano de 2022, Rio de Janeiro. Estou eu, “nas minhas madrugadas”, como dizia Paulinho da Viola, acompanhando as mensagens num dos meus grupos de Facebook, dedicado à obra dos Beatles. E vejo o seguinte diálogo entre pessoas que não conheço (a tradução é minha): Karl McDermott Ao que parece, um professor espanhol encontrou John Lennon na Espanha, durante as filmagens de “How I Won The War”, em outubro de 66, e disse que usava as canções dos Beatles para ensinar inglês aos seus alunos, mas às vezes não entendia direito as palavras. Lennon respondeu: “Bem, se é assim, no próximo disco vou mandar imprimir as letras na contracapa!” Horas depois apareceu, embaixo do post dele, este comentário: Pepa Martínez Jiménez Karl McDermott, isto é 100% verdadeiro. Esse homem foi meu professor durante alguns anos, e já conheço bem esta história. Ele manteve contato com Lennon durante algum tempo, depois desse encontro. Mesmo hoje, cinco anos após sua morte, os alunos guardam boas lembranças dele. Quando li isto, não resisti a comentar: Braulio Tavares Pepa Martínez Jiménez, fala pra gente o nome do teu professor. A resposta não demorou muito: Pepa Martínez Jiménez Braulio Tavares, o nome dele era Juan Carrión. Talvez pareça estranho para pessoas mais jovens, mas cinquenta anos atrás não era muito fácil conseguir letras de músicas, nacionais ou estrangeiras. Quem se interessasse, tinha duas opções. A primeira era “tirar a letra” voltando muitas vezes a agulha no disco até conseguir copiar verso por verso. Ainda tenho velhas pastas esbagaçadas pelo tempo, cheia de letras que copiei assim, no pé da vitrola. A segunda opção era recorrer às numerosas “revistinhas de letras de música”, que eram abundantes justamente por causa desse problema. Vamos Cantar, Cante Comigo, A Modinha Popular, O Samba, Só Sucessos... Esta solução, como a maioria das soluções, criava um novo problema, porque a confiabilidade das letras transcritas não era grande coisa. Vendo as aberrações nas letras em português a gente já avaliava o nível de competência de quem estava tirando as letras de rock. Essas revistas evoluíram, já nos anos 1970, para a histórica “Vigu”, Violão & Guitarra, que além das letras trazia as cifras dos acordes no violão. Foi mais importante do que a decifração da Pedra de Rosetta. Para quem já “arranhava” o Método Paulinho Nogueira, era um aleluia. Ainda hoje canto errado essa ou aquela letra de rock por causa do vício que essas revistinhas deixaram de herança. Agora, com a Web, letras criteriosas e corretas não faltam. Meu saite preferido, simples e organizadíssimo, é o AZ Lyrics (https://www.azlyrics.com/). Mas... deixem-me erguer um brinde nesta noite chuvosa de sábado ao meu desconhecido amigo Juan Carrión, que, com a humildade de um guarda de fronteira, conseguiu convencer um roqueiro sábio de que era importante tornar sua sabedoria acessível aos simples mortais. E outro brinde a Lao-Tsé e a John Lennon, que entenderam, sem esnobismo, sem pose, o quanto era importante dar uma colher de chá às pessoas interessadas em entendê-los. Uma última nota: alguns anos depois do episódio espanhol, George Harrison compôs, e os Beatles gravaram, uma adaptação do Fragmento 47 do Tao Te Ching, sob o título “The Inner Light”, cuja letra diz: Você não precisa cruzar a porta para saber o que acontece no mundo. Você não precisa olhar pela janela para ver o caminho do paraíso. Quanto mais você viaja, menos você fica sabendo. Assim, o espírito sábio não vai, mas conhece; não olha, mas vê; não age, mas faz acontecer. 4905) A poesia na era da tecla ENTER (21.1.2023) Existem algumas sutilezas curiosas na teoria poética. Elas dependem de uma capacidade nossa de perceber por instinto, num golpe de olhos, a diferença entre prosa e poesia. Nossos olhos percebem um texto antes de começar a lê-lo. Percebem certas características do texto – e o avaliam quase inconscientemente, induzidos por experiências prévias (“quando o texto tem um formato assim-ou-assado, é porque se trata de um texto assim-ou-assado”). Uma coisa bem “básico-do-básico” é o formato de uma lista. Suponhamos que alguém me pediu para fazer uma lista de cinco filmes que eu considero grandes obras. Eu posso fazer essa lista assim: “Oito e Meio” de Fellini; “Terra em Transe” de Glauber Rocha; “O Sétimo Selo” de Ingmar Bergman; “Mickey One” de Arthur Penn; “O Último Metrô” de François Truffaut. É uma lista, mas a lista vem diluída num formato de texto corrido, e só começa a ser identificada como lista no momento em que começamos a ler. Na cabeça da gente, lista é uma coisa que tem o seguinte visual: · “Oito e Meio” de Fellini · “Terra em Transe” de Glauber Rocha · “O Sétimo Selo” de Ingmar Bergman · “Mickey One” de Arthur Penn · “O Último Metrô” de François Truffaut Listas são assim, segmentadas, verticalizadas, com ou sem numeração. Um meme que circula muito por aí faz uma brincadeira justamente com essa expectativa, e a frustração dessa expectativa: É uma experiência divertida de metalinguagem, e se vale em primeiro lugar desta nossa expectativa com relação ao formato das listas. O sujeito diz: “Coisas que eu odeio: 1) Vandalismo” (e ele já começa vandalizando uma parede de azulejos, escrevendo em cima dela); “2 – listas” (e nesse instante já ficou bem clara a intenção – ele está sacaneando o próprio enunciado); “3 – ironia” (neste ponto a gente já entendeu qual a “chave” da piada, e nossa terceira risada não é mais de surpresa, e sim de confirmação); “4 – listas” (a risada é menor, “ué, listas de novo?”; “5 – repetição” (volta a risada, porque no 5 a gente entende a função do 4); “F – inconsistência” (aqui a risada é maior, porque a piada vem “fora da caixa”). Dá até para sugerir a proposta (meio ousada) de considerar que a Lista é um gênero literário. Tem uma estrutura, tem uma organização no espaço, tem uma dinâmica interna que pode ser explorada para produzir emoção, informação, contradição, elucidação de mistérios, etc. A literatura escrita tem essa relação com o espaço visual da página; certos manuscritos medievais estão numa zona limítrofe entre a literatura e as artes plásticas, de tão ricas e criativas que eram as “iluminuras” em volta do texto. Hoje em dia, num livro, qualquer livro, o texto surge como bloco de linhas, quando viramos a página, antes de começarmos a ler. O leitor habitual já pensa, distraidamente: “ih, lá vem textão”, ou então “ah, essa página vai ser coisa rápida”. Exemplo 1: Esta é uma reprodução da primeira página de um conto de Edgar Allan Poe. Poe publicava na primeira metade do século 19, quando a prática editorial era aproveitar ao máximo o espaço da página e enchê-lo de texto até onde fosse possível. Quando editei pela Casa da Palavra os Contos Obscuros de Edgar Allan Poe (2010), houve algumas discussões sobre o fato de alguns textos serem um “bife” contínuo de várias páginas sem uma só quebra de parágrafo. O pessoal da editora dizia: “Não precisamos ser fiéis à diagramação original. O leitor de 2010 é outro. Vamos quebrar parágrafos, ‘clarear’ a página”. E me parece uma decisão sensata. Talvez uma edição acadêmica, preciosista, científica, se sinta obrigada a seguir o mesmo formato da primeira publicação dos textos. (E mesmo isto é questionável, pois em vida do autor o mesmo texto geralmente é editado em diferentes diagramações.) Exemplo 2: Aqui está uma típica página do grande Luis Fernando Verissimo, com seu diálogo em ping-pong. Se a página de Poe é uma página “escurecida” pela quantidade de texto, a página de Verissimo é uma página bem clarinha. Uma coisa repousante para o leitor. Já vi “manuais de redação” aconselhando: nunca faça parágrafos de 10 linhas ou mais; isto espanta o leitor. Quebre tudo em unidades menores, sempre que possível. Eu sigo esse conselho – sempre que possível. Porque para mim um parágrafo, mais que uma unidade visual, é uma unidade rítmica. Há um arco de leitura que começa na primeira frase e termina na última. Às vezes esse arco se esgota em quatro ou cinco linhas, às vezes precisa de quarenta ou cinquenta. Paciência. Isto nos traz finalmente à questão da poesia. A linha quebrada da poesia é a marcação de uma unidade rítmica. Quando a gente está usando formas fixas, o número fixo de sílabas deixa as linhas poéticas com o mesmo tamanho, aproximadamente: O número fixo de sílabas (7 sílabas poéticas, no caso dos folhetos de cordel da foto acima) é uma medida rítmica universal, mas não é a única. O famoso poema “Howl” (“Uivo”, 1956) de Allen Ginsberg, tem linhas enormes, longuíssimas, que se prolongam até não poder mais: Qual a explicação de Ginsberg para essas linhas intermináveis, que esbarram na margem direita da página e precisam ser acomodadas abaixo até onde Deus der? Ginsberg era da geração da poesia oral, recitada, berrada nos auditórios, sussurrada ao microfone dos bares. E ele explica: Idealmente, cada linha de Uivo é uma unidade de respiração... Minha respiração é extensa, e esta é a medida, uma inspiração físico-mental do pensamento, contida na elasticidade da respiração... (...) Desse modo, você acomoda a linha do verso na página de acordo com o ponto onde a sua respiração se esgota, e acomoda o número de palavras dentro de cada ‘respiro’, seja longo ou curto, e assim estes versos longos ganharam forma. (trad. BT) Cada poeta é livre para organizar a apresentação de seus versos na página. Não podemos esquecer o verso de Maiakóvski, que costumava partir cada linha de verso em dois ou três segmentos que se enfileiravam como degraus descendentes de uma escada: A linha, do modo como aparece inscrita na página, indica um ritmo. Não é uma obrigatoriedade; cada leitor lê do seu jeito, mas o poeta sugere uma leitura, talvez a leitura preferencial na opinião dele, que é autor, mas nunca será a única possibilidade. As pessoas que costumam ler e recitar poemas se dividem geralmente em duas leituras típicas. Na primeira, a pessoa faz uma pequena pausa ao chegar no fim da linha, mesmo que a frase esteja se prolongando pela linha seguinte. Mas o recitador entende que é interessante fazer essa pausa quase imperceptível para indicar à platéia que uma linha gráfica se encerrou naquele ponto. (Eu prefiro ler assim). Na segunda leitura, a pessoa ignora os “finais de linha” e lê as frases obedecendo ao ritmo de cada uma, e à pontuação gramatical; lê como se se tratasse de um texto em prosa, lê ignorando a divisão em linhas. Isto é errado? De maneira nenhuma, é certíssimo também. É apenas outra maneira de fazer. O que não deve ser ignorado – por quem escreve, por quem lê, por quem critica – é que a linha poética é uma forma de pontuar, de indicar pausas, de delimitar unidades. Fernando Pessoa, que fazia verso curto, verso longo, verso metrificado e verso livre com a mesma competência, discute os poemas de ‘Álvaro de Campos’, que alguns leitores acusavam de ser mera prosa em linhas interrompidas, e avisa, na sua “Nota Preliminar”: O que verdadeiramente Campos faz, quando escreve em verso, é escrever prosa ritmada com pausas maiores marcadas em certos pontos, para fins rítmicos, e esses pontos de pausa maior, determina-os ele pelos fins dos versos. (...) Se Campos, em vez de fazer tal, inventasse um sinal novo de pontuação – digamos o traço vertical ( | ) para determinar esta ordem de pausa, ficando nós sabendo que ali se pausava com o mesmo gênero de pausa com que se pausa no fim de um verso, não faria obra diferente, nem estabeleceria a confusão que estabeleceu. Jorge Luís Borges, em seu “Prólogo” à coletânea de poemas Elogio da Sombra (1960, trad. Carlos Nejar e Alfredo Jacques), adverte: Comum é afirmar que o verso livre não é outra coisa senão um simulacro tipográfico; penso que nessa afirmação se oculta um erro. Para além de seu ritmo, a forma tipográfica do versículo serve para anunciar ao leitor que a emoção poética, não a informação ou o raciocínio, é o que o está esperando. Certa vez, conversando com um amigo poeta, já nesta confortável Era Do Computador, perguntei como ele costumava dividir os versos do poema. Ele disse: “Ah, agora é fácil, eu vou escrevendo tudo em texto corrido. Quando acabo, volto pro começo e vou quebrando as linhas com a tecla Enter, quebro uma aqui, outra acolá...” Fiquei maravilhado com esta varinha-de-condão, tão prestimosa, tão acessível, e escrevi o poema abaixo, que resgata, num outro patamar de sensibilidade e ritmo, algumas idéias contidas no parágrafo inicial deste artigo: Existem algumas sutilezas curiosas na teoria poética. Elas dependem de uma capacidade nossa de perceber por instinto, num golpe de olhos, a diferença entre prosa e poesia. ("Poema" – Joaquim Cardozo) 4906) Oito sumiços (24.1.2023) 1 A cidade de Evansville (Texas) convive há décadas com o mistério do desaparecimento de uma casa e todos os que viviam nela. Na noite de 15 para 16 de maio de 1935, uma tempestade caiu sobre a cidade, provocando inundação, queda de pontes e de barrancos, e falta de energia elétrica das 23 horas até o amanhecer seguinte. À luz do dia, quando começou a limpeza e a avaliação dos prejuízos, foi constatado que a casa de dois andares onde morava a família do tabelião Ephraim Hogg, 66 anos, sumira por completo. Na colina onde ela se erguia, a cinquenta metros da residência mais próxima, nenhum sinal da casa nem de seus alicerces: o chão estava coberto de mato rasteiro e de pequenas árvores, além de um ninho de térmitas com aparência muito antiga. A família (pai, mãe, três meninos, uma adolescente, uma avó idosa, duas criadas) sumiu sem deixar rastro. Escavações sem muita esperança foram realizadas no local, onde os moradores ergueram depois uma pequena capela votiva com as fotos dos desaparecidos. Dessa data em diante, o único fato novo relacionado ao episódio se deu em maio de 2012, quando a embaixada norte-americana na Cidade do México recebeu a remessa anônima de um baú trancado com cadeado, que depois de aberto revelou conter documentos, fotos e peças de roupa logo identificados como pertencentes aos membros da família Hogg, além de um pacote de jornais do Texas, abrangendo de 1935 até 2001, cujo exame nada revelou de significativo, por enquanto. 2 Mary Jo Blessingame, 38 anos, atriz, fazia parte do elenco da peça “White Christmas”, em cartaz no Excelsior Theatre, em Baltimore, até a última noite da temporada, em 19 de maio de 1996. A última cena mostrava uma dança entre os doze atores da companhia, seis homens e seis mulheres encarnando personagens de diferentes idades, da mesma família, numa ceia de Natal. Ao longo da música os personagens trocavam de par, num clima de confraternização e alegria. A certa altura, um dos atores ficou sem par e constatou-se a falta de uma das atrizes, que segundos antes estava em pleno palco. Os contra-regras postados junto às saídas de cena garantem que ninguém passou por eles. Infelizmente a peça não foi fotografada nem gravada, de modo que é impossível precisar em que preciso instante ela já não estava mais no palco junto aos companheiros. A peça foi encerrada sem que o público percebesse nada de anormal, mas as investigações começaram nessa mesma noite. Mary Jo Blessingame era solteira, morava sozinha. Nunca mais foi encontrada. 3 Em 1996, em Bananeiras (Paraíba), o professor Carlos Massilon Torres, 57 anos, precisou consultar um dicionário, e ao recorrer a sua estante verificou a ausência do respectivo volume. Como estava trabalhando em casa nesse dia, foi até a Biblioteca Municipal, que ficava próxima, e lá verificou que a coleção do dicionário de Caldas Aulete, em cinco volumes, estava também desfalcada do último, “Rociada-Zwingliano”. Um telefonema para um amigo acendeu-lhe a desconfiança: o quinto volume deste também tinha sumido. Vinte e quatro horas depois, o professor e seus amigos constataram que o volume 5 de todos os Caldas Aulete da cidade tinham sumido inexplicavelmente das estantes de seus donos, para as quais não retornaram até hoje. 4 Um homem não identificado desapareceu em questão de segundos, na noite de 6 de janeiro de 2014, após ser atropelado numa estrada secundária perto de Langford, na Inglaterra. O motorista, o coronel reformado Matthew Westcalf, 61 anos, vinha num trecho reto da rodovia, em velocidade razoável, quando de repente emergiu um homem das árvores e atravessou a estrada correndo. O coronel não conseguiu frear e atingiu em cheio o desconhecido, jogando-o para o alto; imediatamente trouxe o carro para o acostamento e desceu para prestar-lhe socorro. Quase no mesmo instante dois carros que vinham logo atrás e viram o atropelamento também pararam, deixando acesos os faróis. Muito nervoso, o coronel constatou que o para-choque dianteiro estava amassado e com manchas de sangue, mas não foi possível localizar o corpo do homem atropelado. A polícia do trânsito foi chamada, buscas minuciosas foram feitas no bosque, num raio de cem metros a partir do local do acidente. O corpo desapareceu por completo. Amostras de sangue e de DNA foram guardadas pela polícia do condado, que até hoje busca uma explicação. 5 A história da região da Anatólia, na Turquia, relata o polêmico episódio do desaparecimento da Árvore de Ouro, uma relíquia do período hitita, que durante uma guerra no século VI d.C. havia sido guardada numa gruta subterrânea, na lateral de uma colina. Diante da entrada da gruta ficou instalado um acampamento militar, que com o passar dos anos se transformou num quartelvilarejo. A Árvore (que se dizia ter três metros de altura, com ramos, folhas e frutos cinzelados em ouro puro) nunca mais foi retirada, até que em 1955 o governo decidiu transferi-la para um Museu, em Ankara. Houve grande reação por parte da população local, mas o subterrâneo (que estava emparedado há séculos) foi aberto, constatando-se de imediato a ausência da árvore. Nos meses seguintes a colina inteira foi desmanchada com dinamite e jatos de água. A gruta (que não era muito profunda) foi totalmente exposta, mas não se descobriu qualquer sinal do paradeiro da Árvore de Ouro. 6 O zoológico de Melbourne guarda ainda em seus arquivos o controvertido relato do que aconteceu em março de 1962 no seu setor de feras tropicais. Cordelion, um dos seus leões mais antigos, nascido no cativeiro, desapareceu inexplicavelmente de sua jaula, na noite de 8 para 9 daquele mês. A primeira ronda dos vigias, ao amanhecer, constatou a jaula vazia, fechaduras intactas, nenhum sinal do animal. Foi dado o alarma, e buscas intensas tiveram lugar durante o dia, enquanto os diretores discutiam a viabilidade de um alarma lançado a toda a população. Foi decidido que o caso seria abafado até terem idéia de para onde a fera teria fugido (a questão do “como” foi posta de lado, por irrespondível). Duas noites depois, num setor onde a vigilância não fora reforçada, Cordelion reapareceu na jaula do tigre Sharkan, intacto e saudável. Numerosos exames foram feitos comprovando que estava bem alimentado (com seu alimento costumeiro) e sem sinais de violência ou dano físico. Mas o tigre desapareceu de modo igualmente inexplicável, e continua assim até hoje. 7 O Trem de Prata, que durante décadas fez a ligação ferroviária entre o Rio de Janeiro e São Paulo, foi desativado em definitivo a partir de 1998, alegadamente por problemas de manutenção e pela concorrência com a Ponte Aérea. Pesou para esta medida, no entanto, o inexplicável evento que se deu em maio de 1998, quando o trem partiu do Rio de Janeiro, com dez vagões como de hábito, às 20:00, e, sem fazer nenhuma parada no trajeto, chegou ao amanhecer na estação Barra Funda (SP), com um vagão dormitório a menos. A perplexidade dos fiscais e funcionários da RFF era justificada, pois o vagão desaparecido, o sexto, vinha com oito passageiros, distribuídos por três cabines, estando as demais desocupadas (um sinal da decadência que a linha já experimentava). O mais intrigante, contudo, além de impossibilidade material de desaparecimento de um vagão num trem em movimento constante, foi que demonstrou-se impossível recolher informações sobre quaisquer dos passageiros que vinham no vagão. Nenhum familiar ou amigo queixou-se de seu desaparecimento, e os documentos com que se registraram para a viagem (eram no total três homens, quatro mulheres e uma criança) revelaram-se falsos. O caso provocou uma grave crise de responsabilidade administrativa, que contribuiu para o fechamento da linha, menos de um ano depois. - 8 A realização dos Jogos Estudantis das escolas públicas de Minas Gerais, em junho de 1966, foi marcada por um episódio não esclarecido até hoje. Delegações de várias cidades mineiras vieram a Belo Horizonte para a realização de disputas esportivas que tiveram como local principal o complexo de esportes da Pampulha. Após o encerramento dos Jogos, as autoridades constataram o desaparecimento de seis alunos de diferentes colégios, vindos de diferentes cidades. Ao que parece, todos desapareceram dos alojamentos, ou dos vestiários, ou das arquibancadas onde foram vistos pela última vez pelos colegas, tendo consigo apenas a roupa do corpo, já que sua bagagem e mochilas foram encontradas nos alojamentos, do jeito que eles as deixaram. O que causou um espanto adicional nas autoridades policiais, e nos responsáveis pelas delegações, foi que os seis garotos, cujas idades variavam de doze a dezessete anos, chamavam-se todos Félix (com diferentes sobrenomes). Não se conheciam entre si, pelo que foi apurado; e até hoje nenhum indício foi descoberto sobre o seu paradeiro, bem como sobre as razões para esse sumiço. (Imagens meramente ilustrativas.) 4907) Primeiras Estórias: "Darandina" (27.1.2023) Guimarães Rosa tinha uma certa fascinação pelos doidos, pelos indivíduos meio sem juízo, fora de esquadro. Não o doido furioso, porejando maldade: mas o doido manso, às vezes até articulado e bom argumentador, mesmo que por linhas tortas. O doido que se comporta de maneira aceitável, civil. Como se a gente se encontrasse com ele para conversar, na calçada, mas cada um estivesse sendo personagem de um filme diferente. Talvez a melhor galeria de tais personagens esteja na noveleta “O Recado do Morro” (em Corpo de Baile, 1956), história de uma caravana morosa que ao longo do caminho vai se deparando com um lunático atrás do outro, e todos eles acabam se envolvendo com a misteriosa voz do Morro da Garça, que se vê no horizonte. A voz do morro! Como se o morro pudesse dizer alguma coisa! Em Primeiras Estórias (1962) os doidos mais comoventes são os personagens epônimos do conto “Sorôco, sua mãe, sua filha”, os doidos que não explicam nada: apenas cantam na hora da partida. Comentei essa história aqui: https://mundofantasmo.blogspot.com/2020/04/4566-soroco-sua-maesua-filha-442020.html “Darandina”, o décimo-oitavo conto do livro, é também sobre um doido e também, como “Sorôco...” parece evocar os tempos médicos de Guimarães Rosa no hospício de Barbacena, onde ele sentou praça por uns tempos na juventude. O narrador trabalha no hospício, é um interno de plantão por entre enfermeiros e doutores, e está de manhã cedo à porta, esperando a entrega dos jornais, quando de dentro do hospício emerge um homem bem vestido, a passo rápido, e dá-se então um certo tumulto quando o homem parece ter afanado a carteira de alguém, ou quem sabe foi a caneta-tinteiro. O suposto ladrão foge, é perseguido, mas ele vai direto rumo a uma palmeira-real, majestosa, que há quase no meio da praça. E sobe de palmeira acima! A multidão perseguidora se ajunta, todos de cara erguida, e começa aí um vai-não-vai, um foi-não-foi, que o autor estica espertamente por catorze páginas. Interrogando outro interno, o Adalgiso, o narrador fica sabendo que apesar de ter saído do prédio do hospício o homem não era um dos “hóspedes”, tinha ido ali apenas para pedir um favor. Disse que era são, mas que, vendo a humanidade já enlouquecida, e em véspera de mais tresloucar-se, inventara a decisão de se internar, voluntário; assim, quando a coisa se varresse de infernal a pior, estaria já garantido ali, com lugar, tratamento e defesa, que à maioria, cá fora, iriam fazer falta... (...) Sabe quem é? Deu nome e cargo, Sandoval o reconheceu. É o Secretário das Finanças Públicas... (p. 138, 3ª. edição) Estamos num território bem pertinho da Itaguaí de Machado de Assis, com seu alienista, o dr. Simão Bacamarte, e sua Casa Verde onde depois de muito esforço ele se resignou a encarcerar os sãos de espírito, porque para caber os doidos era necessária a cidade inteira. A confusão, porém, está formada, e as pessoas se agitam. Que necessidade tem uma pessoa da classe alta de se assubir numa palmeira? A multidão exige que o doido desça. Como resposta, ele atira lá de cima um sapato. E depois, outro. Grita lá de cima uma série de palavras de ordem que talvez não pareçam tão doidas assim. -- Viver é impossível! (pág. 140) -- Pára! (...) Só morto me arriam, me apeiam! (...) Se vierem, me vou, eu... Eu me vomito daqui! (pág. 142) -- O amor é uma estupefação... (pág. 144) De repente, chega esbaforido o verdadeiro Secretário das Finanças Públicas, restabelecendo a ordem no mundo. O homem da palmeira não era uma autoridade que endoideceu; era alguém que endoideceu de pensar que era uma autoridade, mas agora já se desveste todo. Tira calça, camisa, cueca, arremessa de coisa em coisa... E logo está nu em pelo lá em cima. Guimarães Rosa conta, com riqueza de detalhes circunstanciais, essa curiosa fábula do homem que queria passar por doido e se internar na casa de saúde para se livrar da doidice do mundo aqui de fora; e depois, não conseguindo, foge para o alto da palmeira e se livra de toda a roupa civil que o incomodava. Apenas proclamou: “Viva a luta! Viva a liberdade!” - nu, adão, nado, psiquiartista. (pág. 149) Nu, adão, na(sci)do: a subida à palmeira é um renascimento, a ruptura com o mundo de antes para o surgimento de um ser novo, como a cobra que emerge da pele usada. Sem que isto implique, contudo, num milagre qualquer que zere os seus problemas anteriores: Estava em equilíbrio de razão: isto é, lúcido, nu, pendurado. Pior que lúcido, relucidado; com a cabeça comportada. Acordava! Seu acesso, pois, tivera termo, e, da idéia delirante, via-se dessonambulizado. Desintuído, desinfluído – se não se quando – soprado. Em doente consciência, apenas, detumescera-se, recuando ao real e autônomo, a seu mau pedaço de espaço e tempo, ao sem-fim do comedido. (pág. 148) Primeiras Estórias tem um punhado de narrativas urbanas que compõem um contraste positivo com os cenários sertanejos habituais em Rosa. Aqui, há sem dúvida ecos de sua escala em Barbacena, seu convívio com os doidos de lá (cujos exemplos ele cita em seus textos). Tal como ocorreu com André Breton na I Guerra Mundial, cuidar diariamente de doidos internados ajudou a abrir algumas portas na cabeça literária de Rosa. Maria Luiza Ramos tem um ótimo ensaio, “Análise Estrutural de Primeiras Estórias” (O Estado de São Paulo, 30-11-1968, Suplemento Literário), incluído na coletânea Guimarães Rosa, Coleção Fortuna Crítica, Rio, Civilização Brasileira, 1983, pág. 519. Ali, ela faz um levantamento da frquência verbal de termos “com que se tece o campo semântico” da prosa deste livro do autor: (...) palavras e expressões como esquisito, espanto, milagre, pasmo, arregalar os olhos, estranho, assombrável, estatelo, estupefação, engano, surpresa, estarrecer, desatinado, espavorido, aparvoado, aturdir, irreconhecer, tremer, estremecer, encanto, enigma, confusão, sobressalto, mistério, fatalidade. (...) [T]odas convergem para a problemática central: a falta de lógica da existência, ou a angústia provocada pela insegurança da vida humana. 4908) O realismo e a imaginação (30.1.2023) (Juan Gris, “The Open Book”, 1925) Por que motivo a literatura de gênero (fantástico, policial, aventura, etc.) é vista como uma frivolidade de gente imatura, e a dita literatura realista seria (por esta mesma ótica) um privilégio dos adultos? A questão parece bem formulada, mas seria possível empregar a mesma equação, com um enfoque diferente, e dizer: “Por que motivo a literatura de gênero é um prazer reservado às pessoas de mente jovem, e a dita literatura realista seria (por esta mesma ótica) um penoso estudo utilitário imposto aos adultos?”. Tudo depende do modo de qualificar os elementos da pergunta. Mas por todo lado vigora o conceito difuso de que existem dois tipos de literatura – um que serve aos garotos, aos adolescentes, aos que só são capazes de absorver coisas simplórias, e outro que é mais elevado, ou mais profundo (o ângulo varia muito), e que é reservado aos adultos, que têm maior capacidade mental, maior cultura, maior envergadura moral para enfrentar os grandes problemas contidos nesses livros. Uma experiência curiosa que tive por volta dos dez ou doze anos foi ao ler um dos meus primeiros livros de ficção científica de autor brasileiro, que foi A Desintegração da Morte, de Orígenes Lessa, uma coletânea de contos encabeçada pela noveleta-título, que aliás é a única história de FC em todo o volume. Tenho hoje a primeira edição (Rio, Empresa Gráfica “O Cruzeiro”, 1948), com onze histórias no total; mas a que li naquela época foi uma versão reduzida (quatro contos apenas) publicada na saudosa “Coleção Futurâmica”, das Edições de Ouro, no início dos anos 1960. O último conto deste volume, “Reencontro”, trata justamente do reencontro do narrador com um dos seus amigos de infância, um garoto chamado Julinho que no internato era conhecido como “o chorão”. Era bom atleta, inteligente, esperto, mas chorava com facilidade. Os dois se reencontram em São Paulo, como soldados, na Revolução Constitucionalista de 1932. O narrador começa a lembrar os tempos de escola, e recorda um dia em que ele próprio tentou “fazer bullying” com o colega (este termo não aparece no livro, é claro) para que chore, mas acaba desistindo, porque no fundo são amigos. Tive remorso. Fingi não perceber, mudei bruscamente de interesse: – É Sherlock Holmes? Julinho hesitou, teve um olhar de náufrago pra o fascículo que trazia na mão. – Não. É Nick Carter. – É bom? É melhor do que o Sherlock? Os olhos de Julinho se adoçaram. Confraternizamos naquele assunto inesperado. Ele já tinha lido todos os fascículos de Sherlock, já havia lido dez ou doze de Nick Carter. Mas ia acabar com aquela besteira de livro policial. Agora ia ler somente grandes escritores. Taunay, Alencar, Machado de Assis. Fiquei com a crista baixa ao ler isto. Naquele tempo, era muito raro ver uma menção a Sherlock Holmes em livros alheios; mas essa referência era ao mesmo tempo simpática e desencorajadora. Por que livro policial seria “aquela besteira”? E digo isso sem partidarismo, porque naquela época eu tanto lia Conan Doyle quanto o volume dos “Contos Completos” de Machado, da Aguilar (o mesmo que tenho até hoje, todo surradinho e aconchegante). Era irritante essa obrigação de chamar de “besteiras” aqueles livros de onde eu extraía tanta coisa: tanta situação nova, tanta paisagem estranha, tanto vocabulário, tanta informação prática, tantos traços reveladores da insondável psicologia dos adultos... Eu extraía isso tanto de Sherlock quanto de Machado, então por que motivo um dos dois era besteira e o outro não?! Depois que fiquei velho dediquei-me a torcer o sentido dessas fórmulas questionáveis. E posso refazer aquele parágrafo inicial com outra formulação. A literatura de gênero (ou aquilo que em inglês se chama de “romance”) atrai o leitor jovem pela extensão e variedade dos assuntos que aborda, pagando por isto o preço de uma certa superficialidade. Mas ela apela ao senso de aventura, ao senso de deslumbramento diante do improvável (o sense of wonder), à curiosidade factual pela cultura-de-almanaque, à excitação dos perigos, mistérios, fugas e perseguições, e a todo um conjunto de experiências mentais que para esse leitor jovem, essa leitora jovem, estão entre as coisas mais importantes do mundo. A literatura mainstream, realista, aquilo que em inglês se chama de “novel”, atrai o leitor adulto porque conta com uma certa atitude já definida diante do mundo. É o que os críticos chamam “a literatura burguesa”, não no sentido de uma literatura feita por gente rica, mas feita por gente que já assumiu uma posição definitiva diante do mundo, da vida, da sociedade. Gente que não tem mais interesse por idéias que não rendam resultados práticos em sua vida profissional e pessoal (familiar, sexual, financeira, etc.). O realismo tem, para esse leitor(a) uma função utilitária, aprofundadora: conhecer melhor as sutilezas da psicologia humana e da dinàmica da ascensão social. Mas, de preferência, nunca sugerir a existência de outros mundos, outros planos da realidade, outros planetas habitados, etc. etc. – outros jogos com outras regras. Esta é uma simplificação extrema, como toda generalização; mas existe nela um irredutível grãozinho de verdade. Curiosamente, no mesmo ano do conto de Orígenes Lessa, 1948, o grande T. S. Eliot emitia este juízo sobre a obra de seu conterrâneo Edgar Allan Poe: Poe era dotado de um intelecto brilhante, isto não se pode negar; mas ele me parece o intelecto que tem uma pessoa jovem, altamente dotada, antes da puberdade. Sua vívida curiosidade assume formas que são os deleites típicos de uma mentalidade pré-adolescente: maravilhas da natureza, da mecânica, do sobrenatural, cifras e criptogramas, quebra-cabeças e labirintos, autômatos que jogam xadrez e voos delirantes de especulação. A variedade e o ardor da sua curiosidade nos deleitam e nos assombram, mas no final das contas a excentricidade e a falta de coerência dos seus interesses acabam nos fatigando. (T. S. Eliot, citado em Poe Poe Poe Poe Poe Poe Poe, Daniel Hoffmann, Anchor Press, 1973, trad. BT) Podem achar uma avaliação antipática, mas tudo que Eliot diz me parece bastante justo. Poe não é somente isto – mas é tudo isto, e o detalhe revelador está na frase final: o sisudo e circunspecto Eliot acaba se fatigando com a imaginação desenfreada e mórbida de outro. Eliot foi um poeta e um intelectual condenado à vida adulta, à vida burguesa, à gravata e ao cachimbo. Era norteamericano e virou inglês, era Unitário e tornou-se Anglicano; teve uma carreira pública e literária totalmente distinta da que teve Poe. (Quanto a este, talvez tenha sido um adolescente até morrer aos 40 anos, com sua fascinação pelo jogo, suas bebedeiras, suas paixões um tanto escandalosas.) A literatura de gênero é extensa mas superficial; o romance mainstream é limitado mas profundo. O leitor “jovem” gosta de tentar uma grande quantidade de experiências e vivências através da literatura; o leitor “adulto” quer se concentrar nos aspectos sociais e psicológicos que podem ter um reflexo prático na sua vida já estabelecida, já focada num único caminho. Tudo isto são regras fervilhantes de exceções, é claro, mas mesmo não que não sejam verdades estatísticas devem coresponder a arquétipos que flutuam, pairam, esvoaçam pelas nossas vidas, e nos identificamos ora com um, ora com o outro. Para encerrar, uma bela imagem de Primo Levi em A Tabela Periódica (1975; Relume Dumará, 1994, trad. Luiz Sergio Henriques), no conto “Chumbo”: Eu estava entusiasmado com a colaboração e veio-me à cabeça fazer espelhos até com as calotas do vidro soprado, vertendo-lhes o chumbo por dentro ou espargindo-o por fora: olhando-nos nesses espelhos, vemo-nos muito grandes ou muito pequenos, ou ainda inteiramente deformados; esses espelhos não agradam às mulheres mas todas as crianças querem comprá-los. As mulheres (=os adultos) querem certezas e confirmações a respeito de uma Realidade dentro da qual labutam e pela qual se sentem parcialmente responsáveis. As crianças querem o improvável, o diferente, o estranho, o bizarro, o inesperado, porque para elas o mundo está começando e as possibilidades, como sempre, são infinitas. Por mim, ficaria com este depoimento sincero de Fernando Pessoa, um temperamento que via na literatura uma forma de vida e não um tema de estudo: Todo o livro que leio, seja de prosa ou de verso, de pensamento ou de emoção, seja um estudo sobre a quarta dimensão ou um romance policial, é, no momento em que o leio, a única coisa que tenho lido. Todos eles têm uma suprema importância que passa no dia seguinte. (Fernando Pessoa, O Eu Profundo) (Fernando Pessoa, por Rui Pimentel) 4909) A arte feita pelas máquinas (3.2.2023) O primeiro parágrafo do conto de James Blish, “A Work of Art” (1956) é assim: Instantaneamente, ele se lembrou do momento em que morrera. Lembrou, no entanto, como que a dois patamares de distância: como se estivesse recordando uma lembrança, e não o evento em si; e como se ele mesmo não estivesse presente no instante em que morrera. (trad. BT) Personagens que ressuscitam (e que às vezes ressuscitam amnésicos) são comuns na ficção científica. Um começo inesquecível, para mim, é o da brilhante noveleta de Kim Stanley Robinson, “A Short, Sharp Shock” (1990): Quando ele voltou a si, estava se afogando. Não é propriamente uma ressurreição (a história depois se revela mais complicada ainda), e em termos de verossimilhança científica perde para a arrepiante frase de abertura do romance de Greg Egan Distress (1995): – OK, ele está morto. Pode conversar com ele agora. É um mundo futuro onde uma pessoa morta pode ser revivida por alguns minutos mediante uma overdose de estimulantes, que a fazem recuperar (fugazmente) a consciência, mas ajudam bastante quando é o caso (como neste livro) de um homicídio em que a vítima pode fornecer pistas sobre o criminoso. Para quem se interessa pelo tema, vale a pena rastrear a curiosa antologia Five Fates (ed. Keith Laumer, 1970), com 5 contos (Keith Laumer, Poul Anderson, Frank Herbert, Gordon Dickson e Harlan Ellison) que começam todos com o mesmo prólogo, a morte do protagonista, e cada história imagina sua posterior ressurreição. No caso de “A Work of Art”, bastam duas páginas para entendermos o que se passa. O homem que está sendo ressuscitado é o maestro e compositor Richard Strauss (1864-1949), autor de inúmeras óperas e da famosa Assim Falou Zaratustra (1896), cuja fanfarra inicial foi usada por Stanley Kubrick em 2001: Uma Odisséia no Espaço. (Richard Strauss) Strauss é despertado por um cientista que se apresenta como Barkun Kris, “um escultor de mentes”. Depois de se certificar que o paciente está fisicamente bem, e lúcido, ele informa a Strauss que estão no ano de 2161, ou seja, 112 anos após a morte do maestro, e que houve um trabalho de reconstituição da memória e da personalidade original dele para um novo corpo, saudável e mais jovem. Para se certificar de que tudo correu bem, ele faz um pequeno questionário biográfico. Quem era um indivíduo com as iniciais R. K. L., que Strauss conheceu quando regia a ópera de Viena? “Sem dúvida foi Kurt List,” diz Strauss; “seu primeiro nome era Richard, mas ele nunca o usava. Era meu assistente de palco.” “Por que motivo” (pergunta o doutor) “o senhor escreveu uma nova abertura para A Mulher Sem Sombra, e doou o manuscrito à prefeitura de Viena?...” Ele responde: “Para ser dispensado do pagamento da taxa de remoção do lixo da ‘villa’ que eles me deram de presente”. Bastam algumas perguntas deste tipo para confirmar que o maestro está com suas memórias intactas, e em pleno uso de suas faculdades mentais. Strauss é liberado pelos médicos, descobre que tem dinheiro suficiente para se manter com certo conforto, e que todo mundo espera que ele volte a compor e a reger. Entrega-se ao trabalho, cheio de ânimo, mas fica desconcertado com a música do ano 2161. Ele constata que a música do século 22 está infestada de compositores dodecafônicos, cujos deuses são Alban Berg, Schoenberg e von Webern; e que ali prolifera também a tendência da música estocástica, regida pelo acaso e que tem como ideal “...produzir uma música que seja ‘universal’ – ou seja, totalmente expurgada de qualquer traço da individualidade do compositor”. (Note-se que nada há de propriamente futurista neste aspecto: Blish estava satirizando a música da década de 1950. Ele era de formação erudita, e dizia detestar “os Beatles e demais coleópteros”.) A sátira vem aqui, quando ele se refere a outra moda a da “science music”: Este termo não refletia nada a não ser os títulos das composições, que aludiam ao voo espacial, às viagens no tempo e outros temas de natureza romântica ou improvável. Não existia nada de científico nessa música, que consistia apenas de uma colagem de clichês e de imitações dos sons do mundo natural, e na qual Strauss percebia horrorizado sua própria imagem, diluída e distorcida pelo tempo. É uma alusão mordaz à “science fiction”. Essa música colhida entre “os sons do mundo natural” lembra a obra de autores modernos como Edgard Varèse (um ídolo de Frank Zappa), do qual já possuí um LP estranhíssimo, e tudo isto me deu uma idéia que acabei glosando em meu conto “Stuntmind” (1989): Outro dia, igual a todos. Estou agora nu, meu corpo gira entre os colchões de ar no interior do cilindro, estou imponderável e vertical, flutuo, descrevo giros em torno de mim, no meio do círculo de lâmpadas bronzeadoras. Nos ouvidos, fones com música documental: os sons do resgate de um galeão espanhol naufragado há cinco séculos. O ar aquecido me faz bem. São 23 horas e 14 minutos de uma noite de inverno... lá fora. Como será a música do futuro? Que sensibilidade deformadas, aperfeiçoadas, desviadas, recompostas, terão os nossos descendentes. Talvez sejam capazes de apreciar um Mozart ou um Tom Jobim, mas... como serão os artistas deles, os artistas cuja música só poderia ter sido composta no tempo deles? Strauss convive de forma meio rebelde com os compositores da ISCM, a “Interplanetary Society for Contemporary Music”. Quando vai se registrar na entidade, é submetido de má vontade a testes, e ouve o funcionário referir-se aos “mestre do passado, como Shilkrit, Steiner, Tiomkin e Pearl”... Vejo aí, no mínimo, a citação a dois compositores de trilhas sonoras de Hollywood: Max Steiner (Casablanca, ...E o Vento Levou) e Dmitri Tiomkin (Matar ou Morrer, Duelo ao Sol). Strauss continua a ser um homem de seu tempo, e decide compor uma nova ópera, lançando mão, teimosamente, de um libreto de um autor do século 20 – Venus Observed (1950), de Christopher Fry. Ele trabalha, irrita-se, decepciona-se, entusiasma-se... enfim o trabalho habitual de um compositor de ópera. Vem a noite da estréia, salão repleto, cheio de autoridades – e ele vê nas filas da frente a nata da guilda dos “escultores mentais”, em torno de seu ressuscitador, o dr. Barkun Kris. Começa a ópera, Strauss rege com ardor, mas começa a perceber que alguma coisa não está correndo bem. E de súbito, no meio do terceiro ato, ele compreendeu. Não havia nada de novo naquela música. Quem estava ali era o velho Strauss – porém mais fraco, mais diluído do que nunca. (...) Suas resoluções, sua determinação de abandonar os velhos clichês e maneirismos, a decisão de dizer algo de novo – tudo tinha desaparecido diante da força do hábito. De certo modo essa constatação de Strauss já seria um desfecho satisfatório para o conto. Um homem pode ser ressuscitado, mas a “chama” da sua vida original é irrecuperável, etc. Blish, porém, tem um pulo-do-gato para executar diante do leitor. Porque quando as luzes se acendem e a imensa platéia fica de pé, Strauss percebe que os aplausos não se dirigem a ele, o compositor, o regente – mas ao dr. Barkun Kris, que sobe os degraus do palco e se posta ao lado do pódio e do maestro. E aí se dá a revelação. Dirigindo-se a Strauss, o doutor lhe explica que ele na verdade se chama Jerom Busch, e foi escolhido como objeto daquela “escultura mental”, depois de muita pesquisa, por ser um indivíduo totalmente destituído de ouvido musical e de talento para a composição. Com base nas informações biográficas sobre Richard Strauss, a mente de Busch foi “esculpida” de modo a imaginar que era o compositor ressuscitado; e assim tornou-se capaz de compor uma ópera. A qualidade musical dessa ópera era irrelevante, secundária – porque a verdadeira obra de arte em todo aquele episódio não era a música, e sim a escultura mental. “Strauss” não era o artista. Era a obra de arte. (James Blish) O conto de Blish coloca um problema que estamos discutindo hoje com intensidade: qual o elemento humano que caracteriza a Arte? Damos instruções verbais a um programa como Midjourney e em minutos ele produz uma ilustração detalhada, surpreendente. Seja boa ou má, ela em princípio não se distingue da ilustração feita por uma pessoa. Isto é arte? Damos instruções ao Music LM (do Google), seja uma descrição verbal, seja assobiando um tema musical... e ele compõe trechos musicais de acordo. Isto é música? Damos instruções a um ChatGPT (a ferramenta da OpenAI) e ele nos redige um artigo acadêmico (meio bobinho ainda; mas aguardem mais algum tempo), uma letra “de Bob Dylan”, um poema “de Dylan Thomas”. Isto é literatura? (chatGPT) No mesmo conto “Stuntmind”, que citei acima, incluí a possibilidade (já extensamente discutida nos anos 1980) de “conversar” por escrito com computadores que utilizariam “personas” literárias: Volto à Biblioteca. Sento diante de um dos micros, escolho programas ao acaso (De Assis, De Camp, De Quincey, De Sade...), troco cartas durante algumas horas. Em “A Work of Art”, James Blish nos ilude o tempo inteiro, porque ao nos mostrar um Richard Strauss possivelmente ressuscitado (ou mesmo reconstituído), imaginamos que é porque esse mundo futuro quer ter em si talentos equivalentes aos talentos do passado. Precisa de obras de arte humanas, verdadeiras. E o “Strauss” produz apenas uma colagem derivativa – mais ou menos o que acusamos, hoje, nas criações do Midjourney, ChatGPT, etc. Falta o elemento humano: criador, personalizado, imprevisível. Na reviravolta final, ficamos sabendo que a obra de arte que estava em questão não era a ópera escrita por “Strauss” – era a escultura mental produzida peplo dr. Barkun Kris, e esta parece ter sido plenamente satisfatória. Fez um analfabeto em música criar uma ópera de Richard Strauss, uma façanha que corresponderia ao Pierre Menard, do conto de Borges, reescrever por conta própria uma página de Cervantes. Do ponto de vista de “Strauss”, a ópera foi um fracasso. Revelou-se sem mérito, sem talento, uma simples re-arrumação mecânica dos cacoetes e truques criativos do verdadeiro Richard Strauss. Uma obra de arte frustrada, portanto. Do ponto de vista do dr. Barkun Kris, a escultura mental foi um sucesso, mesmo que a ópera resultasse medíocre. E na verdade, Kris parece nem perceber (com sua mentalidade musical de 2161) que a ópera não era boa. Diante da platéia, no final, ele elogia a genialidade da personalidade “Strauss” que ele criou. Ocorre, no entanto, que o falso “Strauss” percebeu que a ópera era medíocre. E nesse momento ele tornou-se equivalente ao Richard Strauss verdadeiro: um artista capaz de saber se o que produz é bom ou não. E dessa forma ele acabou fazendo da escultura mental do dr. Kris um sucesso maior do que este seria capaz de supor. Por um breve período, ele conseguiu de fato produzir alguém com a mente criadora (com a visão autocrítica) de Richard Strauss. 4910) "Tár": os artistas maus (6.2.2023) O filme Tár, de Todd Field, conta a história da maestrina (ou maestra, já nem sei mais) Lydia Tár, interpretada por Cate Blanchett. À frente da Filarmônica de Berlim, ela se prepara para uma histórica gravação ao vivo de uma sinfonia de Mahler. É uma excelente ilustração de um tema que as pessoas se matam de discutir: Como é possível que um(a) grande artista seja ao mesmo tempo uma pessoa de mau caráter, uma pessoa com deformações de personalidade, uma pessoa com graves defeitos éticos que parecem um desmentido vivo daquilo que ela produz com sua arte? Lydia vive entre Nova York e Berlim, pertence a essa estirpe de cidadãos transnacionais produzidos nos circuitos da arte de elite. Na primeira sequência do filme, ela é entrevistada, diante de um teatro à cunha, por um jornalista que faz seu próprio papel (Adam Gopnik, da revista The New Yorker). Precedida pela leitura de um currículo impressionante, Lydia fala longamente sobre sua carreira e sua visão da música. Cate Blanchett deita e rola nessa abertura, numa mistura de charme e de autoridade intelectual que chega a lembrar figuras como Denise Stockler e Marília Gabriela, mulheres totalmente à vontade diante de platéias exigentes. Toda a entrevista é uma calma demonstração de força, exibindo uma pessoa capaz de destemor sem destempero, uma artista ambiciosa mas que parece estar mantendo bem apertados todos os parafusos de sua ambição; sua máquina não sacoleja. Na segunda sequência, logo após, ela tem um almoço com seu amigo e investidor Eliot Kaplan. Na confortável intimidade de quem trabalha junto há muito tempo, ela lhe comunica algumas medidas que está se preparando para tomar na orquestra. É o jogo da política de bastidores, o xadrez das posições e dos cargos em que um maestro precisa também ser craque, pois envolve projetos de vida, vaidades, sensibilidades, ambições. Na terceira sequência, Lydia dá uma aula prática a alunos na Escola Juilliard, famosa escola de música de Nova York. E entra em choque com um aluno negro e LGBT para quem J. S. Bach não passa de um compositor branco, careta, conservador, etc. Lydia trata o rapaz com certo sarcasmo provocativo. Ele abandona a sala em protesto. De volta a Berlim, ela fica sabendo de sua esposa Sharon (violinista da Filarmônica) que a filha adotiva está tendo problemas na escola. Pergunta à garota quem a está incomodando. Deixa a filha na escola, localiza a garota incômoda, chama-a para uma conversa em voz baixa e diz algo como “Se você chatear minha filha, eu venho aqui e acabo com você. Entendeu?” A garota entende. Lydia Tár é assim, uma mulher capaz de floreios diplomáticos e de defenestrações sumárias, uma artista de enorme sensibilidade para com as camadas harmônicas de uma sinfonia e capaz de pisar sem pena no pé que alguém coloque à sua frente. Um tanque de guerra coberto de graffitti artnouveau. Aos poucos vamos percebendo que ela é uma sedutora, uma conquistadora inveterada, que troca de amores como quem troca de orquestra, e que é do tipo que numa batalha não volta atrás para recolher feridos. É cruel? Talvez, mas capaz também de grandes momentos de ternura e de cumplicidade afetiva. Como todo mundo, aliás. “Quer saber quem é uma pessoa?”, pergunta a sabedoria popular.“Dê-lhe poder.” Dizem que o Poder corrompe, mas dizem também que o Poder apenas revela. Homens ou mulheres que chegam a uma posição de destaque como a de Lydia Tár aprendem durante a subida que às vezes basta-lhes apontar um dedo e pronunciar uma frase para que seus desejos se cumpram. A lâmpada de Aladim, que não existe, empalidece diante deste poder, que nos rodeia em todos os lugares. Quem não já sofreu na unha de um gerente sádico, de uma chefe invejosa? O filme de Todd Field começa com Lydia Tár no ápice de sua fama e de seu poder, mas daí em diante as coisas começam a degringolar, as rédeas a fugir-lhe das mãos, como numa orquestra que a cada apresentação tivesse que incluir mais e mais instrumentos. Chega um instante em que não dá para manter tudo sob controle. O filme começa a introduzir esse ominoso tema secundário de forma discreta mas crescente. A vida caseira de Lydia não é tão harmoniosa como deve ter sido algum tempo atrás. Ela acorda de noite. Que barulho é aquele? Sua alucinação é auditiva, um som incessante e longínquo que crava nela a agulha da insônia e a deixa remexendo-se na cama. Ela levanta, olha por toda parte. E nós, aqui fora, julgamos ouvir o que ela julga que ouve, como um diapasão desafinado soando dentro de um buraco negro. Ou um metrônomo tentando pedir socorro. Uma nova paixão aparece, uma cellista russa que parece mais interessada na vaga da orquestra do que em Lydia, que mesmo assim a cerca com o semi-sorriso de quem dá a coisa como favas contadas. E vem outro episódio insólito, quando ela tenta seguir a moça no interior de um prédio velho, aparentemente abandonado, e se vê à mercê de algo que parece um cão de pesadelo. Decisões irrefletidas vão comprometendo sua posição, e tudo explode com o suicídio de uma ex-discípula e ex-namorada, que a joga na berlinda, e fornece uma excelente chance para seus desafetos botarem as unhas de fora. Tár não é um filme sobre música, é um filme sobre política musical, o jogo de poder que envolve a criação musical (maestros, artistas, produtores, gravadoras, imprensa, patrocinadores, público, etc.). Uma coisa é a literatura, e outra é a política literária – tem gente que é excelente numa e péssima na outra, ou vice-versa. A política teatral, dos grupos, diretores, estrelas, novatos com metas a bater, veteranos tentando manter-se à tona. A política cinematográfica, a política jornalística, a política das artes plásticas, a política da Cantoria de Viola... Onde há poder, há política. E se numa guerra a primeira vítima é a Verdade, numa carreira artística em ascensão uma das primeiras vítimas é a Palavra Dada, é a lealdade aos companheiros de ontem diante das oportunidades de hoje, a fidelidade a afetos que infelizmente ressecaram, a paciência dos velozes quando há lerdos atrapalhando um avanço. É essa política que parte a coluna vertebral aparentemente tão sólida da carreira de Lydia Tár, porque em questão de minutos (dentro do filme) ela começa a ver que todo mundo que estava tão de-bem com ela afinal não estava tão de-bem assim, todo mundo tem uma conta para lhe cobrar, e vêm todas ao mesmo tempo. O diretor Todd Field criou neste filme uma estrutura dramática curiosa (e que, pelo que vi, não funcionou com muitos espectadores) em que os acontecimentos finais se precipitam de maneira desconjuntada, elíptica. Se a maior parte do filme tem uma narrativa rigorosamente medida e pesada, os 15 ou 20 minutos finais mostram fragmentos, saltos bruscos, non-sequiturs, cenas que dão a impressão de que vão marchar para um clímax dramatúrgico qualquer mas são cortadas ao meio e na imagem seguinte já estamos dias depois, mergulhando em outra situação. A sabedoria popular costuma dizer também que “a subida é vagarosa mas a queda é num instante”. É mais ou menos o que acontece com Lydia Tár nesse trecho final – cada nova cena bate mais um prego no caixão, e isso nos entristeceria se não soubéssemos que foi ela mesma quem forneceu prego e martelo aos seus coveiros. Espero não ter dado muitos spoilers, até porque as propagandas do filme falam sempre coisas como “a ascensão e a queda de uma grande regente de orquestra”. E na verdade o filme não guarda muitas surpresas – é como uma peça musical que se inicia com um tema dominante, digamos que seja O Sucesso, e ele desde logo vai se misturando a um sub-tema, O Fracasso, que acaba por predominar, triunfal. O diretor Todd Field é mais conhecido do grande público como ator. Em Eyes Wide Shut (1999) de Stanley Kubrick ele faz o papel de Nick Nightingale, o pianista amigo de Tom Cruise que acaba induzindo este a entrar “de penetra” naquela orgia gregoriana numa mansão. Como diretor, a narrativa segura e a direção de atores em Tár não me surpreendeu: Field dirigiu o excelente In the Bedroom (2001), uma tensa narrativa de crime e justiçamento, com Tom Wilkinson e Sissy Spacek. 4911) A resposta do ChatGPT (9.2.2023) (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL): Você me pede para escrever “uma crônica sobre literatura, ao estilo do escritor Braulio Tavares”. Não é difícil responder a esse desafio, uma vez que os escritos desse amanuense, nascido em meados do século passado, circulam pelo mundo virtual e abordam insistentemente os temas recorrentes do “fazer literário”, da “magia das palavras”, da “recriação de histórias” e outros lugares-comuns de nossa época. Seria preciso lembrar, de início, que o nosso bravo cronista (observe-se que a expressão “nosso bravo [qualquercoisa]” é uma forma clichê de expressão, mas no vocabulário estilístico de redatores daquela geração, intermediária entre o beletrismo e a patafísica, o clichê traz consigo uma certa carga de auto-ironia, pois o uso inesperado de uma tal fórmula denota a plena consciência, por parte do autor, de estar manipulando um clichê, mas com a consciência de o estar fazendo) o nosso bravo cronista, dizíamos (e aqui mais uma vez vale a observação de que este uso do plural autoral, se não chega a ser propriamente um clichê, é resultado de uma operação mental semelhante à do exemplo anterior, pois se distingue do chamado “plural majestático” usado pelos reis, bem como do “plural tribunalício” com que os juízes minimizam sua presença pessoal numa sentença proferida; poderia, sem prejuízo da clareza, exprimir uma certa vertente da literatura atual, mediante a qual um texto não passa de uma colaboração mental entre o Autor e o Leitor, de tal sorte que, no momento em que lê as palavras escritas pelo primeiro, o segundo as recria e as enuncia como que pela primeira vez, revestindo-se este ato, portanto, de foros de co-autoria), o nosso bravo cronista tem o vêzo (cabe aqui outra observação, porque cabe aqui um acento circunflexo; o cronista defende a teoria de que ao usarmos palavras pouco comuns e que o leitor talvez não saiba pronunciar corretamente, devemos acentuá-las em benefício da clareza, mesmo quando a gramática desaconselha o emprego de tais sinais diacríticos) o nosso bravo cronista tem o vêzo das longas digressões. Concomitantemente (dizem as más línguas que nós, os inteligentesartificiais, somos faltos de originalidade e surpresa; ora, digam-me se não é um desmentido cabal dessa calúnia o emprego deste advérbio centípede, que o autor em pauta jamais redigiu em sua longa carreira, advérbio que contudo guarda em si o tom levemente pincenezco, e tongue-in-cheekemente pomposo, com que ele se diverte empregando pequenas jóias lexicográficas do glossário de autores que na adolescência o deixavam com o verbalizador zunindo, como Guerra Junqueiro, Humberto de Campos ou Coelho Neto), sabe-se que esse sujeito (preciso ficar aqui repetindo de quem se trata?) tem no ouvido o seu calcanhar-de-aquiles, valha a comparação, e é pelos tímpanos-complacentes que ele emprenha diante de metáforas ou sinédoques ou catacreses ou metaplasmos que o arrebatam como os corcéis albinos do Valhala, precipitandoo num mundo onde o não-chão é cúbico, onde as panacéias escasseiam, onde os morcegos relincham preces peludas ao ouvido das abantêsmas, onde as lesmas sem assento foram condenadas a fazer a pé a volta ao mundo sem GPS, onde cardumes de candirus organizam guerrilhas subfluviais para atrapalhar a lua-de-mel do síndico aligátor, onde delinquentes dimenor empinam com fio de cobre arraias voadoras e seu aguilhão envenenado disfarçado de caneta Parker 51, onde os colecionadores de aquedutos arrematam grosas de tratores Caterpillar nos leilões à socapa onde tudo é pré-arrematado pelos atravessadores-laranja de uma Banana Republic de bandeira cortada horizontalmente pelo Trópico de Capricórnio; onde a Era de Aquário desembocou no Porão das Jaulas-Fortes, cujo alçapão inferior derramou o transeunte incauto no Corredor do Coma Induzido, de onde ele saiu apenas quando a Revolta do Espartilho de Couro esmigalhou as caixas torácicas dos carcereiros e ele (não o cronista alvo destas linhas; o “transeunte incauto”, caso você esteja me acompanhando), diante da Távola Plana do reino dos desinformados, viu-se nomeado Ouvidor-Falante semipotenciário da Casa da Moeda e da Mansão da Nota, com estipêndio de cento e dez dracmas por diabissexto e catorze rupias esporádicas, emitidas pelo Tesouro Nacional, moeda que é denominada de “rúpia” quando falsificada por elementos sem formação moral como o locutor que vos fala. Tirante este aspecto, resta-nos registrar que o indigitado, o referido, o meu-prezado, o nossa-amizade (ver em que caixa da mudança ficou o Vocabulário Prático de Apodos e Doestos, Soscígenes Frazão, Editora Lello, 1902) cultiva, como quem cultiva um bigode com pontas, um amplo panteão de deuses-pequeninos, a quem ele atribui poderes mágicos de inspiração literária e criativa, bastando-lhe às vezes salmodiar a meia-voz o nome do nautaarremessado em questão para que seu cérebro inaugure tantas sinapses que fique parecendo uma árvore de Natal politeísta. No capítulo “Principais Influências”, ele rasga sedas e desdobra salamaleques diante de influênceres como Harry Stephen Keeler (brilhante concebedor de non-sequiturs dramatúrgicos, candidato ao Prêmio Nobel de Títulos Olharregalativos), José Agrippino de Paula (o introdutor do Autismo Narratológico no romance da Boca do Lixo paulistana), Maura Lopes Cançado (intelectual brasileira que sabia passar troco e atravessar rua, e nunca jogou pedra em ninguém), Abdón Ubidia (equatoriano eqüestre no Pégaso dos inutensílios tecno-ilógicos), Monique Wittig (xena heavy-metálica baixadora de chibata nos titubeantes), Gisela Elsner (deformadora boschiana do pesadelo barriga-burguês nas águas-furtadas dos germanocratas ponta-de-ramo), Carlos Emílio Corrêa Lima (sarcasta-mor da confraria dos Logomagos, atualmente em versão digitalizada nos quettabytes da galáxia Transpunk)... e outros que tais. Como a minha condição de mero programa recombinatório de informações acessíveis no metaspaço me impede de emitir opiniões que possam sugerir uma visão desnecessariamente crítica ou inconvenientemente laudatória, posso apenas dizer que quem quiser ter uma idéia real das habilidades do dégas, do de-cujus, do famisgeraldo... basta se-coçar, puxar carteira e cartão, e comprar um livro de sua autoria, porque os há e muitos, expostos à cupidez pública nas boas casas do ramo. (É sempre aconselhável terminar com um clichê, para não deixar o leitor pendurado num ponto de interrogação.) 4912) O detetive Fernando Pessoa (12.2.2023) ("Fernando Pessoa", por Almada Negreiros) Fernando Pessoa era um grafomaníaco, pessoa com a mania de escrever compulsivamente. Alguns o fazem de forma caótica, e não produzem senão coisas sem criatividade, sem propósito e sem método. Não era o caso do poeta português. Dele, pode-se dizer que qualquer rabisco rende alguma idéia. Conta-se que à sua morte, em 1935, descobriu-se em sua residência o famoso “baú” que teria mais de 25 mil páginas com todos os tipos de texto: poemas, peças teatrais, correspondência, anotações, ficção... Nesta última categoria pode-se incluir talvez o famoso e notável Livro do Desassossego, compilado postumamente e atribuído ao heterônimo “Bernardo Soares”. É uma espécie de diário ficcional cheio de reflexões curiosas e melancólicas sobre a vida, a literatura e tudo o mais. Fernando Pessoa é um caso à parte na literatura, pelo talento exuberante, pelo rigor do pensamento, pelas idiossincrasias psicológicas que dão a tudo que escreve uma posição única na observação e análise dos fatos. Muitos o consideram, com razão, um dos maiores poetas da nossa língua, e um dos maiores poetas do século 20 em qualquer idioma. Mas me atrevo a dizer que não se tem a medida exata de seu talento se não se der atenção igual à sua obra em prosa, que é mais de reflexão e análise do que de ficção. Do meio dessa jângal de manuscritos, os pesquisadores separaram uma boa quantidade de contos (completos ou em fragmento), dos mais diversos tipos. Alguns são contos policiais deixados incompletos. Nos seus depoimentos Pessoa reafirma o seu gosto pela literatura policial, citando nominalmente autores como Conan Doyle, Arthur Morrison (o criador do detetive Martin Hewitt) e Edgar Wallace. Há diferentes edições dos textos considerados policiais de Pessoa, mas vou me limitar a duas, que tenho há anos. As Obras em Prosa (Ed. Nova Aguilar, Petrópolis, 1986, 734 págs., “Biblioteca Luso-Brasileira”), se dividem nas seguintes partes: “O Eu Profundo”, “Os Outros Eus”, “Idéias Estéticas”, “Idéias Filosóficas”, “Idéias Políticas”, “Teoria e Prática do Comércio” e “Ficção”. Esta última, a que ora nos interessa, está assim composta: CONTOS DE RACIOCÍNIO: “O banqueiro anarquista”, “A janela estreita” (fragmento), “O roubo da Quinta das Vinhas”, “A carta mágica”, “A arte de raciocinar”, “Um paranóico com juízo”. CONTO FILOSÓFICO DE PERO BOTELHO: “O vencedor do tempo” Note-se que termos como “conto policial” ou “detetve” não aparecem. Nesta mesma compilação, vê-se uma lista de títulos (contos completos e fragmentos) sob esta última rubrica, assim: CONTOS DE PERO BOTELHO: O Vencedor do Tempo (Prof. Serzedas) A Morte do Dr. Cerdeira (Dr. Cerdeira) A Experiência do Dr. Lacroix (Dr. Lacroix) O Prior de Buarcos (Pe. João (José) Maria) Quaresma, Decifrador (Dr. Abílio Quaresma), (Vários) O Eremita da Serra Negra (O Eremita) ?No Hotel Cecil, em dia de chuva (O pessimista) ?Uma Tarde Cristã (O jesuíta Eusébio Vareiro) ?O Profeta da Rua da Glória (O judeu Salomão, Barjara) Copio do jeito que está no livro. Como a obra de Pessoa (me parece) está toda em domínio público, talvez uma busca paciente por esses títulos e nomes resulte em alguma coisa. Boa sorte! Para mim, o mais importante de tudo é a menção ao “Dr. Abílio Quaresma”, ou “Quaresma, Decifrador”, nome que influenciou Ariano Suassuna na criação de seu personagem “Quaderna, o Decifrador”, o protagonista do Romance da Pedra do Reino. O Dr. Quaresma aparece com maior destaque no outro título que possuo: A Alma do Assassino – segundo o Dr. Quaresma, Horizonte Editora, São Paulo, 1988(?). O livro tem uma ótima introdução, “A Novela Policial”, de Luiz Roberto Benati. E inclui quatro contos, visivelmente fragmentários, em que Quaresma aparece. São estes que irei comentar a seguir. A Alma do Assassino reúne quatro fragmentos de contos. É interessante notar que Fernando Pessoa se interessava mais pelo processo de raciocínio do que pela narração das história em si. Suas anotações para contos constam principalmente das explicações de alguém sobre um crime, e das explicações de Quaresma de como o crime foi cometido e quem é o culpado. Não se vê muita coisa da trama, a não ser o que é comentado na mecânica dedutiva. Pessoa escrevia isso e talvez se desse por satisfeito. “A Janela Estreita” narra somente uma reunião, entre o Dr. Abílio Quaresma, o chefe de polícia Guedes e o Tio Porco, discutindo processos dedutivos e fazendo menções muito superficiais ao crime que estão investigando, e que envolve um ourives e o seu filho desonesto. “O Roubo na Quinta das Vinhas” é mais detalhado, tem algumas cenas, descrições de ambientes, diálogos. Um cofre foi arrombado à meia-noite, numa casa onde várias pessoas estavam hospedadas. As suspeitas recaem sobre o jardineiro. Conversando com o engenheiro Augusto Claro, para quem o homem é inocente, Quaresma explica como deve ter se dado a mecânica do crime, e quem é o verdadeiro ladrão. “A Carta Mágica” é um enigma de “quarto fechado” ou de “crime impossível”. No caso, o desaparecimento de uma carta comprometedora, num aposento hermeticamente fechado. Ouvindo o relato do chefe de polícia Guedes, Quaresma rapidamente indica como o roubo deve ter se produzido, e quem provavelmente o executou. “O Caso Vargas” não dá indicação do enredo. Consta de várias páginas de monólogo explicativo do Dr. Quaresma, onde ele, com o raciocínio analítico bem característico de Fernando Pessoa, discorre sobre os “três tipos de raciocínio abstrato”, as “três espécies de crimes”, os “quatro tipos mórbidos do homem”, e assim por diante. Todos estes fragmentos recebem notas e comentários dos editores da obra de Pessoa, explicando o contexto de cada um, sem o quê não seria possível acompanhar as narrativas. Num texto de 1914 (Obras em Prosa, pág. 69) ele afirma: Um dos poucos divertimentos intelectuais que ainda restam ao que ainda resta de intelectual na humanidade é a leitura de romances policiais. Entre o número áureo e reduzido das horas felizes que a Vida deixa que eu passe, conto por do melhor ano aquelas em que a leitura de Conan Doyle ou de Arthur Morrison me pega na consciência ao colo. Um volume de um desses autores, um cigarro de 45 ao pacote, a idéia de uma chávena de café – trindade cujo ser-uma é o conjugar a felicidade para mim – resume-se nisto a minha felicidade. Seria pouco para muitos, a verdade é que não pode aspirar a muito mais uma criatura com sentimentos intelectuais e estéticos no meio europeu atual. Talvez seja para os senhores como que causa de pasmo, não o eu ter estes por meus autores prediletos – e de quarto de cama, mas o eu confessar que nesta conta pessoal assim os tenho. ("Fernando Pessoa", por João Beja) 4913) O nome de Quaderna (16.2.2023) Escolher o nome de um personagem principal é muito trabalhoso. É como escolher o nome de um filho. No caso de um filho, os pais conversam entre si, trocam idéias, consultam a família e os amigos. O nome do personagem, em geral, é uma escolha solitária. E uma escolha mais definitiva. Já vi muitos filhos insatisfeitos que pedem para trocar de nome, depois da maioridade. E não me vem à memória nenhum caso de personagem cujo nome o autor tenha resolvido trocar depois da estréia. (Há o famoso caso do personagem de Jorge Luís Borges cujo nome foi trocado na versão inglesa, mas aí são arteirices do tradutor.) Reza a lenda que Sir Arthur Conan Doyle entreteve durante algum tempo a idéia de batizar seu personagem mais famoso como “Sherringford Holmes”. Felizmente não o fez. Quando Ariano Suassuna escreveu o Romance da Pedra do Reino (1971), tinha como plano inicial contar a história de Sinésio Garcia-Barreto, “O Alumioso”. Já pelo epíteto, Sinésio é sugerido como um personagem iluminado, especial, uma espécie de herói de romance de cavalaria (como Percival, ou como Galahad), “sem medo e sem mácula”. O nome “Sinésio” indica provavelmente a sua origem de predestinado (a sua “sina”), de alguém cuja missão foi profetizada e deve ser cumprida. (Além de ser um nome marcado na poesia popular pelo poeta Sinésio Pereira, de Olinda.) E esse nome faz um contraponto com o de seu irmão Arésio GarciaBarretto – o brutal e belicoso Arésio, cujo nome Ariano Suassuna admite ter sido inspirado por Ares, o deus da guerra. (Sinésio Pereira) E Quaderna? O Romance da Pedra do Reino foi escrito em ondas sucessivas, entre 1958 e 1970. Ariano explica que o livro não é uma autobiografia. É mais uma caricatura do meu mundo interior, isto é, todas as vivências aí estão. Tenho alguma coisa de padre desonesto, de poeta preguiçoso e cangaceiro frustrado. (cit. em Narrativas e Narradores em A Pedra do Reino, Maria-Odilia LealMcBride, ed. Peter Lang, 1989) Ele explica também que foi ficando meio difícil ter Sinésio como foco principal da narrativa e até como narrador. Foi quando transferiu esta segunda função a Quaderna que Ariano “engatou” a escrita e não parou mais. Claro. O herói sem defeitos é um símbolo imóvel. Ou pelo menos um símbolo meio manietado. “Não pode isso, não pode aquilo...” Como ele é puro e idealista, existe uma lista gigantesca de coisas que ele é proibido de fazer. Já o personagem picaresco desfruta de uma liberdade que o herói não tem. Com ele, tudo é possível, tudo pode acontecer, porque ele é humano, mercurial, escorregadio, pode ser leal num momento e desleal no outro, pode ser sincero e depois hipócrita, pode ser honesto e ao mesmo tempo desonesto. É essa ambiguidade, ou multiplicidade, que faz de Quaderna um herói tão tipicamente brasileiro, tão característico de um povo de moral negociável, que dá um jeitinho em tudo, desde que consiga o que quer. O período da escrita do romance coincide, curiosamente, com o período de preparação e escrita do livro de poemas Quaderna de João Cabral de Melo Neto, que na edição de sua Obra Completa pela Aguilar recebe a referência cronológica de “1956–1959”. No meu ABC de Ariano Suassuna (José Olympio, 2007), comentei as possíveis inspirações para o nome do livro de Cabral. Entre elas esta definição, do dicionário Lello: QUADERNA, s. f. (lat. quaternus). A face do dado que apresenta quatro pontos. Heráld. Objecto composto de quatro peças em quadrado, de ordinário em forma de crescentes. Pl. Os quatro pontos de uma face dos dados. QUADERNO, s. m. (Forma desusada de caderno). (Lello Universal) E esta citação do Romance da Pedra do Reino, quando o Dr. Pedro Gouveia confere a Samuel, Clemente e Quaderna seus títulos de nobreza, e lhes explica os correspondentes brasões heráldicos: O escudo dos Quadernas é esquartelado. No primeiro quartel, há, em campo de ouro, um veado negro vilenado, inscrito numa quaderna de quatro crescentes vermelhos. No segundo, em campo vermelho, cinco flores-de-lis de ouro, postas em santor, ou aspa, e assim os contrários. O timbre, é um cavalo castanho, com asas, com as patas dianteiras levantadas e as traseiras pousadas, entre chamas de fogo! (Romance d’A Pedra do Reino, Folheto 80) Uma “quaderna”, em termos heráldicos, são quatro imagens de um “crescente”, simetricamente dispostas, como vemos na imagem abaixo, onde quatro crescentes rodeiam tanto a figura da Onça quanto a do Veado: Estas são fontes possíveis de inspiração para a escolha de um sobrenome tão importante, além de outras que desconhecemos. O lançamento recente do Caderno de Textos e Imagens (Nova Fronteira, 2021), organizado por Carlos Newton Júnior, trouxe um novo dado para esta pesquisa. O volume inclui a “Conclusão” escrita por Ariano para ajudar na adaptação do romance para a minissérie da Rede Globo, dirigida por Luiz Fernando Carvalho. Nessa conclusão, a ação é retomada após o tumultuado final da narrativa de Quaderna, no Romance da Pedra do Reino. É o dia em que a cidade de Taperoá foi invadida pela “estranha cavalgada” que tinha à frente, num cavalo branco, o jovem Sinésio, tido como morto. Com o tiroteio que se estabelece na cidade, Quaderna e seus amigos se refugiam no “tabuleiro” onde fica o cemitério, e dali iniciam sua fuga. A certa altura, eles avistam à distância um acampamento cheio de cavaleiros, e com tendas que parecem as de um Circo. Quaderna se oferece para ir até lá e averiguar quem são essas pessoas. Vai com a intenção de permanecer incógnito, para que ninguém saiba que ele é um dos fugitivos que estão sendo caçados pela polícia de Taperoá. Ele fica sabendo que se trata do grupo teatral “Olinélson”, dirigido por D. Olindina e “Seu” Nélson, atores errantes, artistas de estrada. Quaderna lhes propõe, então, que reúnam os dois grupos. Nélson olhou para mim, como se me avaliasse de acordo com os vários aspectos da questão. Depois falou: – É uma proposta tentadora, mas que devo pesar juntamente com meus companheiros de Direção, a quem vou apresentá-lo. Mas para isso preciso saber seu nome. Como se chama? – Antonio Quaresma, o Decifrador – respondi cautelosamente, pois ainda não me sentia inteiramente seguro. (Caderno de Textos e Imagens, p. 233-234) Quando li esse trecho pela primeira vez, em 2006, duas associações de idéias vieram se impor, no mesmo instante. A primeira, o fato de que para Ariano Suassuna um dos personagens centrais da Literatura Brasileira, é o Policarpo Quaresma, do romance de Lima Barreto. Nacionalista radical e um pouco ingênuo, mas sincero e obstinado, Quaresma é chamado de doido e de quixotesco pelos vizinhos e pelos colegas de trabalho. São inúmeras as menções de simpatia de Ariano, em suas entrevistas e em aulas-espetáculo, a esse personagem que, contra todos os obstáculos, luta pelo que acredita ser a nação brasileira autêntica. Por outro lado, Quaresma o Decifrador, é um personagem de Fernando Pessoa em alguns contos policiais pouco conhecidos, mas várias vezes republicados. Há uma menção a ele nas Obras em Prosa da Nova Aguilar, mas uma edição brasileira trouxe este personagem mais para perto do nosso leitor: A Alma do Assassino (segundo o Dr. Quaresma), São Paulo, Editora Horizonte, 1988, com introdução de Luiz Roberto Benati. Comentei estes contos em minha publicação mais recente neste blog: https://mundofantasmo.blogspot.com/2023/02/4912-o-detetive-fernandopessoa-1222023.html O prefácio de Fernando Pessoa neste livro diz: “Fui verdadeiramente amigo de Quaresma”. Os detetives lidos da época de Pessoa tinham amigos que narravam suas aventuras: o Dupin de Edgar Allan Poe e o Lupin de Maurice Leblanc têm narradores anônimos, Sherlock Holmes tem Watson, Martin Hewitt (um dos detetives favoritos de Pessoa) tem o jornalista Brett. Voltando a Ariano Suassuna e Quaderna: o nome falso usado por este me parece prova suficiente de que Ariano, grande admirador de Fernando Pessoa, conhecia, mesmo superficialmente, essas aventuras detetivescas do Dr. Quaresma, e gostou do nome. Se influenciou na criação de “Quaderna” ou se só lhe surgiu depois, não importa. Suassuna, como Pessoa, era basicamente um poeta místico, e nenhum dos dois era imune à Sedução do Enigma. Deve existir, portanto, um certo sopro de Fernando Pessoa na criação de Quaderna e de seu “romance heróico-brasileiro, ibero-aventuresco, criminológico-dialético e tapuio-enigmático de galhofa e safadeza, de amor legendário e de cavalarias épico-sertanejas!”. 4914) Seis frases marcantes (18.2.2023) 1 Barão Henrich von Brokenstein, 58 anos, cientista gótico, em pleno tumulto de uma experiência laboratorial na torre do seu castelo expressionista, onde pretende utilizar um algoritmo viral para multiplicar em tempo recorde as células de um embrião de leão-da-montanha, no que é atrapalhado o tempo inteiro pelo seu prestimoso mas confuso ajudante Ygor Bitcovic, 48 anos, corcunda, neurótico, caolho, que tenta fazer seis coisas ao mesmo tempo e desorganiza sete, até que o Barão Brokenstein, ao empurrá-lo num gesto impaciente, agarra-o de novo pelos ombros, olha com atenção seu rosto magro, nariz adunco, queixo comprido... e o tapa-olho negro que está cobrindo o olho direito, em vez do esquerdo. Desorientado com essa imagem incongruente, o Barão tartamudeia: “Ygor! Tem algo de diferente em teu rosto. Fizeste a barba, por acaso?...” E ele responde: “A minha barba nunca cresceu.” 2 Beto Miolo, 19 anos, primeiro volante do time juvenil do Rodoviários Esporte Clube, de Cabiúna (Alagoas), terminou eufórico seu primeiro treino na equipe principal; após o chuveiro abordou na saída do vestiário o técnico Joãozinho de Berto, e indagou como se saíra, ganhando um tapinha no ombro e o veredito: “Bom demais! Nota dez!”, o que o levou a fantasias de profissionalização, que foram incrementadas quando os colegas o chamaram para o almoço habitual no Bar do Haroldão, na esquina do campo, onde se sentaram em grupo, contando piadas, trocando provocações, enquanto Haroldão fazia aterrissar na mesa duas terrinas respeitáveis de uma macarronada à bolonhesa oleosa e descorada, que todos atacaram com o estoicismo dos famintos, até que Haroldão parou junto do técnico, botou o pano de prato no ombro, perguntou como estava o almoço, e Joãozinho de Berto respondeu com entusiasmo: “Bom demais! Nota dez!”. 3 Lucinha Mamede, 15 anos, aluna do Colégio Samaritano, bonitinha mas meio azougada, ao reagir de forma inesperadamente grosseira às tímidas investidas paqueratórias de seu colega de classe Mateus Rodrigues Lemos, 16 anos, e tentando justificar-se diante das colegas que a cercaram com os argumentos previsíveis de “você não é essas brastemps” e “caiu na rede é peixe”, o que a fez explicar cheia de angústia: “Esse menino me passa uma energia muito negativa, eu acho que ele é feito somente de elétrons”. 4 Indaiara Ferreira de Sousa, 26 anos, dançarina da boate e pensão “Love To Love”, no km 136 da Rio-Bahia, ao ser convidada a dar um breve depoimento para uma equipe da TV Agreste que realizava um documentário sobre o cotidiano dos motoristas de caminhão, fregueses tradicionais daquele estabelecimento; ela concordou em gravar, pediu licença, foi lá dentro, voltou de banho tomado, roupa trocada, maquiagem feita, sentou junto à janela que lhe indicaram, ajeitou a longa cabeleira de índia, e à primeira pergunta do jornalista cruzou a perna num gesto aristocrático, ergueu as sobrancelhas e declarou: “Olha, meu bem, nós aqui temos uma vida... uma vida... uma vida favoravelmente maravilhada.” 5 Apolônio Romão Gadelha, 92 anos, coronel da Guarda Nacional, fazendeiro, ex-deputado, faleceu à 01:32 de uma madrugada fria na região do Teixeira, depois de uma noite inteira de aflição em que a respiração lhe vinha como que através de tubulações de esgoto; teve tempo, portanto, para se despedir espiritualmente de seus hectares e sesmarias, de seus celeiros e currais, de suas alfaias, seus dobrões, e de seus oito filhos e filhas que assistiram o desenlace de pé e de cabeça baixa, todos mansos e caladinhos. Quando seu rosto se imobilizou, a agora viúva, Dona Quitéria, 63 anos, abaixou-lhe as pálpebras, desprendeu da mão ainda morna do defunto os dedos entanguidos que a seguravam desde o final da tarde, ergueu-se, suspirou bem fundo, encarou aquele grupo de rostos náufragos e anunciou: “Vou fazer um café.” 6 Sandra Natália Girão, 52 anos, professora, chegou como todos os dias à Faculdade de Ciências Sociais Tobias Barreto, entrou na sala de aula às 7 em ponto, jogou na mesa a bolsa, os livros, e o material impresso, deu bom dia, e disparou um desabafo contido há anos, no sentido de que um país não prospera e uma nação não convive em paz se não huver um mínimo de contrato social entre as partes; se não se encurtar a distância entre o estrato mais rico e o mais pobre; se não forem usados todos os mecanismos jurídico-institucionais para extirpar a mentalidade colonialista, extrativista e escravocrata que ainda contamina nosso arremedo de República; se cada pessoa não se convencer de que ação política e cidadania são exercidas em casa e na rua nos sete dias da semana, e não apenas nas urnas de dois em dois anos; se não acabarmos com a cupidez insolente dos investidores, a cumplicidade servil dos cooptados, a retórica cínica e desonesta da pseudo-imprensa, e a passividade cega dos magarefes que se julgam donos do matadouro; e quando fez pausa para tomar respiração o rapaz de boné e óculos da segunda fila ergueu o braço e perguntou: “Cai na prova?...” 4915) A cordilheira sob o asfalto (21.2.2023) Há um verso de uma canção tropicalista de Caetano Veloso (“Enquanto Seu Lobo Não Vem”, em Tropicália ou Panis et Circensis, 1968) que diz: “Há uma cordilheira sob o asfalto”. Esse verso sempre teve alguma coisa de revelação para mim. Era uma imagem surrealista que lembrava Jorge de Lima – essa imagem de uma superfície aparentemente banal e domesticada ocultando uma realidade enorme e selvagem. O asfalto a que Caetano se refere é o da Avenida Presidente Vargas, porque na mesma música ele canta: A Estação Primeira de Mangueira passa em ruas largas... Passa por debaixo da Avenida Presidente Vargas... Como na época eu não conhecia o Rio de Janeiro muito bem, ficava com uma pintura ambígua na minha imaginação. A primeira era a escola da Mangueira desfilando por alguma rua ou túnel ou passarela que passasse por baixo da Avenida propriamente dita. A segunda era a Mangueira desfilando no asfalto, mas na crista dessa cordilheira selvagem, uma serra de montanhas cobertas de florestas e rochedos. A Mata Atlântica virgem que havia antes do Rio de Janeiro, mas (como num filme de Glauber Rocha ou de Walter Lima Jr.) a Mangueira desfilasse, sem outra platéia a não ser os papagaios e os sagüins, nessa Mata Atlântica virgem. (Brasil Ano 2000, de Walter Lima Jr.; a Avenida das Américas em 1968) Porque em outro momento, no primeiro verso da mesma canção, o poeta diz: “Vamos passear na floresta escondida, meu amor...” Claro que há todo um contexto irônico de brincadeira infantil, numa citação óbvia da cantiga de roda: Vamos passear na floresta, enquanto seu Lobo não vem... - Tá pronto, Seu Lobo?.. Você ouve a música 100 vezes e os versos vão se misturando, de tal forma que a floresta escondida passa a fazer parte também da cordilheira escondida sob o asfalto. Ou então (isso já me veio décadas depois) como naqueles livros de ficção científica de J. G. Ballard e outros. A floresta foi escondida pela cidade. A cidade foi edificada no lugar onde antes havia uma floresta. A avenida de asfalto foi plantada em cima de uma cordilheira. As duas, floresta e cordilheira, não foram destruídas: estão apenas ocultas, mas retornarão um dia. Por que não? Qualquer um de nós já viu essas imagens aterradoras do possível mundo do futuro, com megalópoles invadidas pela selva, galhos de árvores brotando das janelas dos arranha-céus, o lodo e o mato rasteiro cobrindo o chão, os shoppings parecendo estufas exuberantes que fugiram ao controle. A floresta está apenas escondida, mas voltará. (Sítio arqueológico na Turquia} Por baixo do asfalto existe não apenas a cordilheira, mas tudo que a cidade precisou enterrar e esconder no seu processo de afirmação: as ossadas, as valas comuns, os alicerces dos embarcadouros, dos mercados de escravos, ossos de bichos, restos de comida petrificada, cacos de louça e cerâmica, armas enferrujadas. Um gigantesco sambaqui de passado que foi varrido para baixo do tapete do asfalto. Esse tapete de asfalto é apenas uma película muito fina. Se a cidade fosse vista lateralmente, num corte vertical, veríamos o quanto o chão civilizado em que pisamos é fino, é quase nada, separando o presente frenético desta bolhade-sabão civilizatória e essa cordilheira de passado, pronta para emergir de novo e tomar conta desse espaço por mais um milhão de anos. “Que século, meu Deus! exclamaram os ratos, e começaram a roer o edifício. (Carlos Drummond, “Edifício Esplendor“) Drummond tinha essa mesma noção de que os edifícios duram menos tempo do que os ratos. Se “tudo que é sólido se desmancha no ar”, tudo que parece luminoso contém dentro de si uma bolha de escuridão, e essa escuridão não está vazia. A máscara de asfalto com que a civilização finge esconder a cordilheira é enganosa. (Rook Island, by Ubisoft) É a película camufladora do próprio mar, que o protagonista de Sartre em A Náusea consegue enxergar de verdade, e perceber o quanto é uma ilusão: Viro as costas às outras pessoas, e apoio as duas mãos sobre a balaustrada. O verdadeiro mar é negro e frio, cheio de animais; ele se agita por baixo dessa fina película verde feita para enganar as pessoas. As sílfides que me rodeiam deixaram-se iludir: não veem senão essa película estreita, e ela lhes demonstra a existência de Deus. Mas eu vi o que há por baixo! (J.-P. Sartre, La Nausée, trad. BT) Por baixo há o sambaqui, a cordilheira, o Passado que nunca se poderá cancelar; só podemos mesmo é cobri-lo com películas de diferentes texturas, “skins”, como na computação gráfica. O Passado é sempre dez vezes maior, cem vezes mais pesado, e mil vezes mais presente. 4916) A peleja do meme contra o PhD (24.2.2023) Quando o professor universitário e semiólogo Umberto Eco surpreendeu o mundo inteiro com o sucesso de um romance fascinante e difícil como O Nome da Rosa (1980), muita gente se surpreendeu com o fato de ele ter ambientado sua história num mosteiro católico no ano de 1327. Eco precisou explicar que conhecia a Idade Média muito melhor do que a época contemporânea. Depois, num ensaio recolhido nas Viagens na Irrealidade Cotidiana (Ed. Record, 1984, trad. Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade), ele discutiu algumas idéias muito em voga nos anos 1980, em torno do conceito de “uma nova Idade Média”. E diz, a certa altura: Nada é mais semelhante a um mosteiro (perdido no campo, cercado e rodeado por hordas bárbaras e estranhas, habitado por monges que não têm nada a ver com o mundo e desenvolvem suas pesquisas particulares) do que um campus universitário norte-americano. (p. 98) As modas recentes do terraplanismo e do negacionismo médico trouxeram para o debate caótico das redes sociais o distanciamento entre os cientistas e as “pessoas comuns” (eu, por exemplo). Não sabemos nada de Ciência, ou melhor, sabemos o que lemos na imprensa (TV, revistas, a Web), misturado a noções que vimos quando éramos estudantes, e que já esquecemos quase por completo. Nunca foram tão necessários os divulgadores da Ciência, as pessoas capazes de sintetizar conhecimentos científicos (mesmo com o risco da superficialidade), escrevendo para leitores medianamente instruídos, leitores com doses equilibradas de confiança e de ceticismo. O leitor que não lê “para acreditar” nem “para discordar”, mas lê pela necessidade de pensar mais aprofundadamente naquele assunto. Lê para se informar melhor. Minha geração teve a sorte de ler autores para quem eu acendo uma vela mental todas as noites, em meus oratórios agnósticos: Fritz Kahn, Paul Karlson, Hendrik Van Loon, Henry Thomas, George Gamow... Ninguém lembra deles hoje: eu lembro, porque foi deles a primeira porta para assuntos que vi retomados, alguns anos depois, por Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Carl Sagan, Stephen Hawking. A distância abissal entre cientistas e o grande público recebeu agora uma ótima sátira televisiva na série do Netflix O Mundo por Philomena Cunk, criado por Charlie Brooker, em que a atriz Diane Morgan faz o papel de uma “influêncer” com verba e sem noção, que viaja pelo mundo capitaneando um programa instrutivo onde ela conta (em 5 episódios de meia hora) a história da humanidade, enquanto entrevista historiadores, físicos, medievalistas, etc. Os professores e professoras, europeus e norte-americanos, são todos verdadeiros, e tudo que eles dizem é dito a sério – com certa dificuldade, porque “Philomena” faz as perguntas mais abobalhadas e irritantes. Tiremos o chapéu aos professores e professoras que precisam responder questionamentos como: “Todo mundo sabe que o homem não foi à Lua; para começar, a Lua não existe, concorda?”. “Philomena Cunk” representa aquela fauna de que o YouTube está cheio: pessoas jovens, cheias de energia e de ofuscante auto-estima, capazes de se comunicar instantaneamente com milhões de outros jovens em torno do fato de que todos ouviram o galo cantar e não sabem onde. Ou melhor, todos ouviram o galo cantar, mas alguns creem que é um galo alienígena, outros questionam a existência de galos e de aves em geral, outros dizem que aquilo não foi o canto do galo e sim uma simulação cibernética, outros perguntam por que quem canta é sempre o galo, e à galinha cabe apenas o papel subalterno de atravessar a estrada... Enfim, é um caldo cultural de meias-informações, piadas, superstições, empirismo oitocentista, crendices, intuições interessantes, pensamento mágico, fabulações pessoais... O mesmo caldo cultural em que viviam as populações da Idade Média. Umberto Eco descreve com riqueza de detalhes esse caldo cultural em O Nome da Rosa, e descreve seu equivalente moderno em O Pêndulo de Foucault (1988). Só que esse caldo está hoje potencializado pelo aumento da população, a crise da educação (cada país tem a sua, mas todos têm uma) e agora o crescimento desordenado (e ferozmente manipulado por quem pode) das comunicações eletrônicas. “Philomena Cunk” viaja pelo mundo inteiro (principalmente graças à magia do chroma-key) e é muito divertido ver o olhar de terror de senhoras ponderosamente acadêmicas, cobertas de PhDs, diante do nonsense-mental absoluto da moça que as entrevista. É o século 21 descobrindo, horrorizado, o espelho. É sátira, uma sátira feita com bons redatores – há muita piada boba, afinal o programa vem da pátria de Douglas Adams e do Monty Python, mas há muita piada engraçada e que vai na medula, idem ibidem. A apresentadora parece mesmo ser mentalmente avariada, conceitualmente descompensada, e tudo o mais; é uma ótima atriz. No programa sobre a Idade Média, ela entra na sala vazia de um castelo de paredes de pedras e ali, sozinha com a câmera, faz uma encenação verbal (com uma engraçada pós-sonoplastia fornecendo o fictício som ambiente) de uma festa da realeza. Um pequeno tour-de-force de texto e interpretação. Somos tentados a ver em O Mundo por Philomena Cunk apenas a sátira dos “influênceres” que têm a arrogância dos comunicadores-natos somada a uma formação cultural capenga. Porém, a presença de tantos cientistas respeitáveis, homens e mulheres que dedicaram a vida inteira ao estudo aprofundado da História, da Sociologia, da Física, etc., toca insistentemente um outro sino. Quem está mais por fora do mundo real – ela, que não sabe de nada, ou eles, que sabem de tudo e se aterrorizam com o tamanho do abismo que nos separa? Philomena representa o poder tecnológico do Presente, o de atingir instantaneamente milhões de pessoas; os professores representam o poder acumulado do Passado, um fóssil indestrutível mas que respira por aparelhos. Há uma briga permanente entre os dois, uma briga boa, uma briga inevitável desde o tempo das cavernas, e que a cada século muda de armas. Como dizia Umberto Eco: O outra Idade Média produziu no fim um Renascimento que se divertia em fazer arqueologia, mas de fato a Idade Média não fez obra de conservação sistemática, mas sim de destruição casual e conservação desordenada; perdeu manuscritos essenciais e salvou outros completamente irrisórios, raspou poemas maravilhosos para escrever em cima adivinhas ou preces, falsificou os textos sagrados interpolando passagens e assim procedendo escrevia os “seus livros”. (p. 98) Estamos, aos trancos e barrancos, escrevendo os nossos. 4917) O que existe por trás do Sol (27.2.2023) (Sol Armorial) Quando mais jovem, em Campina Grande, trabalhei durante quase dois anos, como datilógrafo, na Reitoria da FURNe, a Fundação Universidade Regional do Nordeste (atual UEPB). Ficava em frente à Catedral, naquele prédio onde hoje funciona o Instituto Histórico. Um dia eu estava indo à Faculdade de Filosofia (que ficava atrás da Catedral, a poucos metros dali) em companhia de Leopoldo, considerado o melhor datilógrafo da universidade. Era um cara mais velho do que eu, moreno, cabelo curto, não era de muita conversa mas tinha um senso de humor apurado. Nesse dia a gente ia andando quando ele parou de repente. – Espera um instante. Voltou alguns passos e ficou examinando o chão de terra. Via-se ali um salto de sapato, salto preto, de sapato tipo Vulcabrás. O chão estava um pouco úmido e mole; Leopoldo escavou um pouco com a quina do pé, expôs o salto, deu um “bico” com um pouco de força e o salto de borracha saltou lá para a frente, deixando apenas o buraco na terra. – Tudo bem – disse Leopoldo, quando retomamos a caminhada. – É porque toda vez que eu passava aqui eu ficava pensando que tinha um cara enterrado de cabeça pra baixo, e só o salto do sapato aparecendo. (a antiga Reitoria da FURNe) Essa imagem nunca saiu da minha cabeça (olha que já lá se vão 55 anos), porque nesse tempo eu vivia com o juízo cheio de surrealismo e de Luís Buñuel. Fiquei fascinado com a possibilidade de você enxergar um pequeno objeto e ser capaz de visualizar, a partir dele, algo muito maior e totalmente absurdo. Como o galo de metal no campo nevado, onde o Barão de Münchausen amarra seu cavalo antes de dormir. Ao acordar, o Barão percebe que a neve derreteu e ele está numa pracinha, em frente à igreja, e o cavalo está esperneando lá no alto, preso ao galo do campanário. Corta para o Rio de Janeiro, éons depois. Eu morava em Laranjeiras, e pegava com frequência o ônibus da linha 184 para ir ao Largo do Machado, onde tem metrô, comércio, lanchonetes, etc. E um dia vejo pichado na parede de um prédio baixinho de apartamentos, já perto do Largo: O SOL É A BRASA DO BASEADO DE DEUS Peço desculpas às pessoas religiosas que talvez se sintam ofendidas. Meu intuito aqui é apenas semiótico, porque essa frase, digna de um cartum de Moebius & Jodorowsky, tem uma construção muito semelhante à idéia de Leopoldo com o salto de sapato. É uma excelente fanopéia – na linguagem de Ezra Pound, a imagem visual vívida e instantânea, produzida por meras palavras. Olhar para o sol, imaginá-lo como a brasa de um cigarro, visualizar um ser gigantesco por trás... A imagem era um tanto blasfema (Buñuel teria gostado). Mesmo assim, me lembrou outra imagem da infância, colhida talvez em Monteiro Lobato: a sugestão de que o céu da noite era uma vasta redoma de cristal escuro, e as estrelas eram buracos que os anjinhos faziam para espiar as travessuras das crianças da Terra. (Acho que isto está em Viagem ao Céu.) O interessante dessa imagem não era nem mesmo a curiosidade dos anjinhos, mas o fato de que -- por trás dessa redoma escura e protetora existia o que? Existia uma luminosidade cegante, equivalente à do Sol, que se filtrava pelos buraquinhos. A materialidade da abóbada celeste é um tema antigo. Vivemos (dizia a imaginação medieval) no centro de uma esfera, que ora era transparente, ora opaca, ora azul, ora escura e pontilhada de brilharecos. Existe até a famosa gravura (que nem é medieval, é do século 19) em que um homem rompe o “vidro” dessa abóbada e enxerga por trás dela mecanismos gigantescos, engrenagens incompreensíveis. (em L’Atmosphère: météorologie populaire, Camille Flammarion, 1888) A curiosidade de saber o que existe por trás do céu vem dessa visão medieval que colocava a Terra como o centro do Universo, e este seria uma série de esferas sucessivamente maiores, como camadas-de-cebola superpostas. Um universo imóvel onde as esferas (onde estavam “pregados” o Sol a Lua, as estrelas) meramente giravam em torno do seu centro, a Terra, mas a estrutura básica era fixa. Dá para imaginar o choque na cabeça dos cientistas quando tiveram que admitir por aproximações sucessivas (via Kepler, Galileu, Copérnico, Newton, Einstein) o atual formato do Universo. Restou aos poetas imaginar outras alternativas, no plano simbólico. Guimarães Rosa, que era meio chegado a um cigarro convencional, projeta suas fantasias no inventivo Lalino Salãthiel de “A Volta do Marido Pródigo” (em Sagarana, 1946): “Magina só: eu agora estava com vontade de cigarrar... Sem aluir daqui, sem nem abrir os olhos direito, eu esticava o braço, acendia o meu cigarro lá no sol... e depois ainda virava o sol de trás p’ra diante, p’ra fazer de-noite e a gente poder dormir...” É o caso também de Ariano Suassuna e sua forma peculiar de tratar os temas religiosos e sertanejos. Não por acaso, um dos seus personagens mais famosos, Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, foi expulso do seminário da capital da Parahyba por causa de sua teoria do “Catolicismo Sertanejo”, no qual “a Santíssima Trindade tem cinco membros: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Diabo e Nossa Senhora”. (Irandhir Santos, como Quaderna) A mitologia solar tem uma importância muito grande nessa visão-domundo que Quaderna expõe de maneira tão vigorosa e poética no Romance da Pedra do Reino (1971). Pudera. Todo esse romance é uma tentativa pessoal, por parte de Ariano, de equacionar o feixe de contradições e de confirmações em torno da tentativa de situar Deus e o Diabo na terra do sol. Em seu livro póstumo Romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores, que é uma espécie de coral de muitas vozes e muitas “personas”, Ariano atribui a Dom Pantero um longo monólogo em tom apocalíptico (passagens inteiras do Apocalipse são citadas no livro) e a certa altura ele exclama: – O Sol é o girassol do sol de Deus! A imagem do girassol é frequente na literatura mística, para indicar a alma sempre voltada na direção da Divindade. Para onde Deus vai, a alma do crente gira de mansinho, para nunca perder Deus de vista, para estar sempre inundada de sua luz. Não sei se a frase de Dom Pantero é uma formulação de Ariano ou se ele está citando alguém (o livro é repleto de citações disfarçadas – é o “Estilo Régio” de Quaderna falando no centro), mas em todo caso é uma imagem de grande beleza. Uma fanopéia notável. A idéia é que assim como o girassol volta-se para o sol o tempo inteiro, para embeber-se de sua luz, assim o Sol, por sua vez, volta-se o tempo inteiro para se embeber do “sol de Deus”, que neste caso deve ser algo de brilho incomensurável, inconcebível. Reencontrei há pouco essa mitologia solar na leitura do volume 3 da série “The Sandman”, de Neil Gaiman, Dream Country (1991). Na quarta história deste volume, “Façade”, aparece a super-heroína Element Girl, a mulher indestrutível, capaz de manipular à vontade qualquer elemento da matéria. Ela é Rainie Blackwell, uma agente secreta que foi transformada em Element Girl após entrar em contato com uma divindade egípcia. Agora, está decadente, infeliz, incapaz de viver uma vida normal, e tendo que criar máscaras orgânicas para esconder seu rosto verdadeiro, cuja visão é insuportável às outras pessoas. No fim, ela deseja morrer, e é visitada pela Morte, que faz parte do grupo dos Perpétuos. A Morte lhe aconselha que peça ao deus egípcio para reverter o que havia feito. “Mas onde vou encontrar esse deus?”, pergunta Rainie. A Morte diz: “Deixa de ser boba, esse deus é Ra, o sol. Vai na janela e fala com ele.” (Neil Gaiman + Colleen Doran, Malcolm Jones III, Steve Ollif, Todd Klein) Ela o faz e diz: -- O sol... eu não tinha percebido antes... O Sol, também, é apenas uma máscara... E o rosto por trás dele é tão belo... é... Element Girl usava dezenas de máscaras para poder ser vista pelos humanos (sua casa é repleta delas), e desse modo não lhe é difícil entender que o Sol é apenas uma máscara cegante destinada a afastar a curiosidade daqueles que desejam ver “a verdadeira face de um Deus”. 4918) Uma leitura comentada do livro "Sagarana" (3.3.2023) De 15 de março próximo, indo até 17 de maio, estarei ministrando um curso sobre a obra de Guimarães Rosa e o livro Sagarana (1946). Será um curso online via Zoom – acessível portanto, para leitores rosianos de todo o Brasil, e do mundo!... – todas as quartas-feiras, das 19 às 21 horas. Há mais de 15 anos que ministro cursos e oficinas através do Instituto Estação das Letras (Rio), dirigido pela minha amiga, a poeta Suzana Vargas. Já ministrei cursos de poesia, de conto, de ficção científica, leituras orientadas... O mais recente foi em 2021, Lendo Borges e Cortázar. O curso é pago (eu vivo disso), e mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone do IEL – (21) 99127-4088, ou pelo email [email protected] . Dito isto, vamos ao assunto em si. Por que Sagarana? Quando um autor se torna um clássico e tem uma obra relativamente grande, densa, importante, as pessoas que se aproximam da obra dele pela primeira vez procuram em geral a sua obra mais famosa, a que fez mais sucesso, ganhou mais prêmios, foi mais estudada, recebeu mais elogios... Às vezes essa “obra máxima” é também a obra mais difícil do autor. Aquilo que alguns críticos chamam “o pináculo”, o ponto mais alto do que ele escreveu. E nem sempre a subida até lá é fácil. Autores complexos requerem uma aproximação gradual. Isto não é uma regra universal (não existem regras universais), mas ajuda. Eu pergunto: por que chegar à obra de (digamos) James Joyce entrando de cara no Ulisses (1922), um livro muito difícil, quando a leitura dos contos de Dublinenses (1914) ensinaria muitíssimo sobre o autor, seus temas, sua linguagem, seus personagens, sua visão das coisas? Chegando ao Ulisses, depois, metade das questões já estariam resolvidas. Há leitores que tentam conhecer Julio Cortázar pegando o “tijolo” que é O Jogo da Amarelinha (1963), um livro fascinante mas um tanto desorientador para quem não conhece nada do autor. Uma aproximação gradual através dos contos dele seria uma boa transição: livros como Bestiário (1951), Todos os Fogos o Fogo (1966) ou Final de Jogo (1956) etc. cumpririam bem este papel. É mais ou menos o que se coloca com Guimarães Rosa. Conheço pessoas que já tentaram ler o Grande Sertão: Veredas (1956) duas ou três vezes e não avançaram. Sei demais como é. Eu tentei umas cinco vezes, e só consegui devorar o livro depois de ter lido quasse todos os outros. Um leitor jovem, de hoje, já cresce sabendo que Rosa é “um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos”, e blá-blá-blá. E que tem fama de “autor difícil”. Sua literatura é muito pessoal, e surpreende até quem já leu ensaios sobre ele, quem já viu suas histórias no cinema ou na TV, quem leu resenhas e artigos sobre seus livros. Sagarana (1946) é seu livro de estréia, publicado quando Rosa tinha 38 anos e era totalmente desconhecido. É um livro espontâneo, torrencial, com contos extensos, e ao mesmo tempo um livro destilado e refinado durante muitos anos. É o livro em que Guimarães Rosa tornou-se escritor. Fernando Pessoa disse, pela voz de Ricardo Reis: “Tornar-te-ás só quem tu sempre foste. O que te os deuses dão, dão no começo”. Guimarães Rosa já nasceu ele mesmo com seu primeiro livro; está tudo ali. Paisagem, linguagem, personagens; a fauna, a flora e a metafísica; a violência, o amor e o bom-humor; o sertão, o caos e o cosmos. Claro que houve evolução e aprofundamento, principalmente para conduzi-lo ao “Ano Miraculoso” de 1956, quando ele jogou no colo do povo brasileiro, com poucos meses de intervalo, as 822 páginas de Corpo de Baile e as 571 do Grande Sertão. Mesmo assim, acho que Sagarana representou o processo íntimo em que o escritor criou sua “régua e compasso” para produzir tudo que veio depois. O nosso plano de leitura é acompanhar o livro do jeito que ele se organiza, com seus nove contos. 15 de março – Introdução a J. G. Rosa, a pessoa e o autor 22 de março – “O Burrinho Pedrês” 29 de março – “A Volta do Marido Pródigo” 5 de abril – “Sarapalha” 12 de abril – “O Duelo” 19 de abril – “Minha Gente” 26 de abril – “São Marcos” 3 de maio – “Corpo Fechado” 10 de maio – “Conversa de Bois” 17 de maio – “A Hora e Vez de Augusto Matraga” Uma semana de intervalo é tempo bastante para ler ou reler cada história. Além disso, uma aula perdida por um imprevisto pode ser vista depois em gravação, e geralmente eu e os alunos criamos um grupo de mensagens para trocar impressões, responder perguntas, etc. Guimarães Rosa produziu um impacto muito grande com sua estréia literária. Era um completo desconhecido que foi capaz de amadurecer em silêncio, discretamente. E estreou já demonstrando ser um dos nossos melhores contistas. Um crítico criterioso como Wilson Martins chegou a duvidar se ele seria capaz de produzir um romance à altura dos seus contos. Disse ele, em 1946, após a leitura de Sagarana: Um escritor que em seu primeiro livro nos apresenta qualidades incomuns de ficcionista, que foi capaz de criar um estilo próprio de redação e de narrativa (o que é de importância substancial no conto), dotado de raro poder expressional e de uma capacidade de transmitir a emoção que atinge os pontos mais altos, que realiza uma verdadeira revolução no conto brasileiro sem adotar nenhum dos truques literários que estão à base da maior parte de tais revoluções – poucos nomes conheço na literatura brasileira do passado e do presente que reúnam tal conjunto de qualidades literárias como as que distinguem o Sr. J. Guimarães Rosa. (...) Nada sei do Sr. Guimarães Rosa: nem a sua idade, nem as suas atividades possíveis fora da literatura, nem a sua formação cultural e educacional – não possuo nenhum daqueles elementos biográficos que tanto ajudam o crítico na interpretação de uma obra. (...) Esse poder de ficcionista, de pôr de pé homens e animais, de nos mostrar a vida em toda a sua plenitude, o Sr. Guimarães Rosa demonstra possuir com abundância e facilidade. É um livro que resultou de muita vivência, muita empatia e muito trabalho, como Rosa contou mais tarde: O livro foi escrito – quase todo na cama, a lápis, em cadernos de 100 folhas – em sete meses; sete meses de exaltação, de deslumbramento. (Depois, repousou durante sete anos; e, em 1945 foi “retrabalhado”, em cinco meses, cinco meses de reflexão e de lucidez). Não nos custa nada dedicar a ele dez semanas. 4919) O supermercado de Annie Ernaux (6.3.2023) Annie Ernaux ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano passado graças a seus livros semi-autobiográficos, escritos com frieza e precisão. São uma forma pessoal da “auto ficção” tão praticada hoje em dia, livros em que o autor escreve sobre si mesmo, seja fantasiando as próprias lembranças, seja colocando-se como um dos personagens de uma história imaginada. Mas não se trata apenas da contação de fatos autobiográficos. Os livros dela prendem-se a episódios específicos mas ao mesmo tempo fazem uma análise distanciada do ambiente humano onde aquela história está se passando. É o caso de Regarde les lumières, mon amour, em que ela fala de seu cotidiano e descreve o ambiente e a “fauna humana” em um grande supermercado, o Auchan, da região onde ela mora. Os franceses desenvolveram uma forma muito peculiar de ficção descritiva. Depois do Nouveau Roman dos anos 1950, com Alain Robbe-Grillet e outros, surgiu um tipo de descrição hipertrofiada, que toma a frente da narrativa. É a literatura do olho, a literatura da câmera fotográfica ou cinematográfica, observando, acompanhando, registrando, descrevendo. Como um jornalista incumbido de explicar um ambiente aos seus leitores, o autor nos dá um relato visual que ao mesmo tempo é social e psicológico, porque ele não se priva de fazer relações de significado e de importância entre os elementos que descreve. Mas é sempre o descrever que se sobrepõe ao contar uma história. Um clássico desse tipo de literatura é o Espèces d’espaces (1974), em que Georges Perec faz a ambiciosa tentativa de – num certo sentido – descrever o Universo, como uma série de espaços concêntricos, mostrados de dentro para fora. Perec começa em “A página”: Eu escrevo... Eu escrevo: eu escrevo... Eu escrevo: “eu escrevo...” Eu escrevo que escrevo... etc. Eu escrevo: eu traço palavras sobre uma página. (Espèces d’espace, Denoël, 1974, trad. BT) Desta página onde o livro está começando a se criar, ele passa, nos capítulos seguintes, para “A cama”, “O quarto”, “O apartamento”, “O edifício”, e por aí vai, até chegar ao Universo propriamente dito. Perec é um ótimo contador de histórias, inclusive as mais improváveis e bizarras, mas esse livro seu é um tour de force de descrição pura. Já o livro de Annie Ernaux parece-se muito mais a um relato jornalístico, porque ela não registra apenas as gôndolas, os balcões e os produtos do Auchan: ela observa as pessoas, faz suposições sobre quem são e o que sentem, examina as relações sociais, etc. Pode-se dizer que seu livro é uma reportagem atemporal sobre um ambiente que ela precisa frequentar com assiduidade. O livro é estruturado como um diário, cada capítulo tendo como título uma data. Na “Introdução”, ela explica (trad. BT): As mulheres e os homens da vida política, os jornalistas, os “experts”, todos aqueles que nunca puseram os pés num hipermercado não conhecem a realidade social da França de hoje. (...) Quem não tem o costume de vir aqui facilmente se desorienta; não como ocorre num labirinto, ou como em Veneza, mas em virtude da estrutura geométrica do espaço, onde se justapõem, de cada lado das aléias situadas em ângulo reto, pequenas lojas fáceis de confundir. É a vertigem da simetria, reforçada pelo espaço fechado, mesmo estando este aberto à luz do dia por uma imensa vidraça que substitui o teto. A prosa de Ernaux é direta, polida. Uma prosa de cientista social registrando costumes exóticos nas ilhas dos Mares do Sul, ou da narração em off de documentários da BBC explicando os hábitos de acasalamento dos pavões. Uma prosa sem sobressaltos. Caberia aqui, talvez, a observação mordaz, mas com conhecimento de causa, de Joaquim Nabuco: Os franceses desconfiam do gênio. Só admiram sinceramente aquilo que for bem podado, bem nivelado, perfeitamente regular. Têm o culto das médias. (Pensamentos Soltos, Livro 2, item 159) Mesmo nos detalhes que pressupõem envolvimento pessoal, ela mantém a objetividade: Quinta-feira, 8 de novembro Um pouco mais adiante, no espaço destinado à livraria, vê-se uma cliente apenas, uma mulher madura, passeando por entre os balcões. Cada vez que me aventuro ali, saio triste e desanimada. Não que meus livros estejam ausentes: há alguns deles lá, na estante dos Livres de Poche, mas, com poucas exceções, a escolha obedece a um só critério, o de best-seller. Um cartaz com mais de três metros anuncia Os Mais Vendidos, numerados de 1 a 10 em algarismos enormes, como os das corridas de cavalos em Longchamp. O que se pode chamar de literatura ocupa apenas uma pequena porção deste espaço reservado a livros sobre assuntos práticos, jogos, viagens, religião, etc. Parece o Brasil!, exclamará algum dos nossos pessimistas de profissão. Mas é a França, a mesma de Breton e de Voltaire. O ambiente impessoal, contudo, reserva alguns pequenos consolos aos egos literários: Quarta-feira, 3 abril. No caixa, onde a fila é pequena, uma cliente puxando carrinho me deixa passar à sua frente. Como me recuso, vigorosamente – será que pareço tão cansada, tão envelhecida? – ela me sorri e diz saber que sou escritora. Trocamos comentários sobre a loja, sobre as crianças em volta, numerosas para uma quarta-feira. Ao colocar minhas compras no balcão, penso com certo desconforto que ela vai ver o que estou comprando. Cada produto daqueles assume de repente um peso inesperado, que revela meu estilo de vida. Uma garrafa de champanhe, duas de vinho, leite fresco, queijo emental, pão de forma sem casca, iogurte Sveltesse, almôndegas para os gatos, doce de gengibre inglês... É a minha vez de ser observada, de ser transformada em objeto. Esse olho científico, apolíneo, certamente vai além do literário. O valorde-presença que se atribui a toda a parafernália comercial das gôndolas tem algo em comum com as pinturas pop de Andy Warhol reproduzindo latas de sopa e garrafas de Coca-Cola. É o reconhecimento da importância central dessas coisas em nossa vida, porque no fundo trabalhamos tanto para poder comprá-las!... Daqui a cem anos, a duzentos, esta arte será vista certamente com outros olhos, não imagino quais. Quinta-feira, 11 de julho. No guichê de “saída sem compras”, o olhar do segurança para as minhas mãos, os meus bolsos. Como se sair dali sem nenhuma mercadoria fosse uma anomalia suspeita. Como se eu levasse comigo a culpa de nada ter comprado. A consciência social nunca está ausente nos franceses, basta raspar a epiderme de seus pensamentos e um problema político salta, prontinho. Annir Ernaux registra, no começo do livro: Quarta-feira, 28 de novembro. Um incêndio destruiu uma indústria têxtil em Bangladesh, matando 112 pessoas, mulheres em sua maioria, que trabalhavam ali em troca de um salário de 29,50 euros mensais. O edifício, que não poderia ali ter mais de três andares, tinha nove. Os trabalhadores ficaram presos no interior, sem poder sair. Essa indústria, a Tazreen, fabricava camisas polo, T-shirts, etc. para empresas como o Auchan, Carrefour, Pimkie, Go Sport, Cora, C&A, H&M. Evidentemente, além das lágrimas de crocodilo, não se pode esperar muito de nós (que lucramos alegremente com essa mão-de-obra escrava) para mudar esse estado de coisas. A revolta só poderá vir dos próprios explorados, no outro lado do mundo. Mesmo os desempregados franceses, vítimas da globalização, ficam satisfeitos de poderem comprar uma T-shirt por nove euros. E lá adiante, ela volta ao assunto: Quarta-feira, 24 de abril. Um edifício de oito andares desmoronou perto de Dacca, em Bangladesh. Pelo menos duzentos mortos. Ateliês de confecção de roupas empregavam ali cerca de 3 mil operários, para suprir o mercado ocidental. Quarta-feira, 15 de maio. O balanço total do desmoronamento do Rana Plaza, em Bangladesh, fechou em 1.127 mortos. Dos escombros, foram resgatadas etiquetas de marcas como Carrefour, Camaïeu e Auchan. Esta frequentadora rotineira do Auchan vê-se arremessada para o lado errado de uma história trágica, mas não deixa de fazer o registro. Ela não pode deixar de consumir aqueles produtos e, como a maioria de nós, não se sente diretamente responsável pelos métodos postos em prática pelos fabricantes ou comerciantes. 4920) A arte está no detalhe (9.3.2023) (Daniel Day-Lewis, em Lincoln) Dizem que quando Steven Spielberg filmou a sua cine-biografia de Abraham Lincoln, o tique-taque de relógio que ouvimos no filme é de um relógio que de fato pertenceu a Lincoln. Dizem que quando Luchino Visconti, em Morte em Veneza (1971) mostra Dirk Bogarde lendo um jornal, trata-se de um exemplar autêntico de um jornal local, da época em que transcorre o filme (1911). Esses detalhes têm importância? Um espectador comum jamais vai perceber a diferença. Mesmo um crítico de cinema ou um historiador precisariam de alguma informação prévia para reparar em tais detalhes. Na verdade, esse exibicionismo de perfeição acontece para as pessoas que fazem o filme, não para as que o assistem. Não faz parte do filme (ou só o faz muito pouco): faz parte da vida deles, da semana de trabalho deles. Para conseguir o tal relógio e o tal jornal foi preciso que pessoas da equipe de produção entrassem em contato com a instituição (museu, biblioteca, etc.) que tinha a guarda dos objetos, enviasse um pedido formal, negociasse a abertura de um seguro contra perdas e danos, etc. O objeto provavelmente foi conduzido, vigiado e levado de volta por pessoas com essa única tarefa para executar. Inúmeras vezes alguém perguntou no set: “Quem é esse pessoal de fora? O que estão fazendo aqui?”, e alguém respondeu: “É o pessoal que está cuidando do relógio raro”, ou algo assim. Claro que nem sempre tudo corre bem. No filme de Quentin Tarantino Os Oito Odiados (2015), o ator Kurt Russell despedaçou um violão de 1870, uma raridade insubstituível, cedido pelo Martin Museum. Havia réplicas, feitas com essa finalidade, mas na hora da cena alguém não fez a troca, e o ator pensou que estava tudo pronto. O violão de 145 anos virou estilhaços. “Coisas da vida; paciência,” diria Alec Baldwin com estoicismo. (O Martin Museum) A primeira crítica que se faz é, inevitavelmente: “Pra que usar um instrumento tão raro e correr esse risco? Por que não fizeram simplesmente uma imitação bem feita, ou mais de uma, e devolveram logo o original?”. E mais uma vez volta a possível explicação: porque quando o elenco e a equipe sabem que estão lidando com material raro e verdadeiro, aquilo impõe um pouco de respeito no espírito desses profissionais que precisam lidar diariamente, na sua profissão, com a encenação, a rua “cenográfica”, o figurino fake. Conta-se que um diretor de Hollywood, antes de filmar a cena da atriz principal descendo uma escadaria para um baile, exigiu um colar de diamantes verdadeiros, coisa para mais de 100 mil dólares. O assistente propôs uma imitação de 200 dólares. O diretor disse: “Uma mulher tem outra postura quado ela sabe que está trazendo cem mil dólares ao pescoço.” ( John Wayne, em Red River) Não é muito diferente da lenda que se conta sobre John Wayne. Quando ele filmou Rio Vermelho, uma das suas melhores atuações da vida inteira, o diretor Howard Hawks mandou confeccionar presentes para pessoas especiais da equipe: cinturões com fivela de prata e as iniciais do dono gravadas. Hawks e Wayne trocaram, depois, os respectivos cinturões, e Wayne usou o cinto com as iniciais de Hawks em vários clássicos que filmou nos anos seguintes, como Eldorado, Hatari, O Homem que Matou o Facínora e Rio Bravo. Como um talismã de qualidade. Não é ao público que esses detalhes se destinam, é à equipe. É para a fantasia íntima de quem está filmando, e não é só das estrelas. É também de gente que chega no set às 4 da manhã para começar a preparar o equipamento dos que chegarão às 6. Trabalho profissional em equipe exige disposição, seriedade, profissionalismo, todo esse vocabulário motivatório que os coaches usam à mancheia. Mas exige também dois dedos de fantasia, três dedos de simbolismo e quatro de fetiche, para que todos acreditem que estão criando juntos uma coisa de verdade, uma coisa importante, e que essa coisa faz parte da vida deles, de segunda a sexta-feira. Se contarem a algum desses profissionais o detalhe do relógio, do jornal ou do colar, ele vai assentir, e dizer (lá com suas palavras) que sente orgulho de estar participando de uma coisa bem feita. Ele sabe que o público não vai saber disso, e de certa forma esse detalhe torna ainda mais valiosa a presença desse objeto. Ele sabe que a equipe teve em mãos algo precioso. Porque esta é uma condição peculiar dos artistas, e quando digo artistas me refiro a todo mundo que trabalha na criação de uma obra de arte: eletricistas, marceneiros, maquiadoras, cantoras, roteiristas, assistentes, cenógrafas, diretores de fotografia... “Um filme”, “uma peça de teatro”, “um balé”, tudo isto tem dentro de si duas coisas. Uma, é o produto que o público vê. Outra, é a aventura de fazê-lo, e isso o público não fica sabendo. A criação do mercado de filmes em DVD, com sua abundância de “extras” e “bônus”, gerou alguns sub-produtos interessantes. O “Making Of” (com um F só, revisor) dá ao público uma vaga idéia do trabalho insano que é a realização de um filme, a ralação diária de centenas de pessoas para colocar na tela uma história que foi imaginada por meia dúzia. Outro bônus da era DVD são as “versões comentadas” do filme. Alguém, geralmente o diretor, vai assistindo o filme em tempo real e fazendo comentários sobre cada coisa que aparece. Explica detalhes técnicos, compara uma cena com outra, relata episódios pitorescos ou assustadores, chama a atenção para um objeto... Num mundo ideal, todo filme teria uma versão assim. Os bons filmes ganhariam em riqueza psicológica, em verossimilhança, teriam quem sabe algumas surpresas para o público. Até os maus filmes ficariam mais interessantes. 4921) Pensar numa língua estrangeira (12.3.2023) Os professores dos cursos de idiomas costumam nos dizer que falar numa língua estrangeira não quer dizer que a gente já a “aprendeu”. Isso só acontece (dizem) quando a gente está pensando nessa língua, e sem ser provocado. Ou seja – quando a pessoa espontaneamente constrói uma frase em inglês ou espanhol, mesmo estando sozinha em casa. Porque se está no país estrangeiro, é claro que o “aplicativo idiomático mental” fica rodando 24 horas por dia. Ou então quando sonha na outra língua, dizem outras pessoas. Este é mais um sinal de aplicativo rodando. Você sonha que está na Inglaterra falando o maior inglês, ou em Buenos Aires gastando o espanhol com um transeunte qualquer. Ou, e isso é mais sutil ainda, você sonha que está sozinho numa casa, aí começa a procurar o relógio perguntando a si mesmo “what time is it?”. Isto tem interesse científico porque parece que o aprendizado de línguas estrangeiras se espalha por partes diferentes do cérebro. A medicina tem casos clássicos. Um oficial inglês, na I Guerra Mundial, foi atingido por uma explosão e perdeu parte do cérebro. Recuperou a consciência, mas parecia ter perdido a capacidade de comunicar-se verbalmente. Um dia, médicos falaram em francês diante dele... e ele deu um pulo! E começou a se comunicar em francês, fluentemente. E explicou que o inglês (sua língua natal) era agora incompreensível, mas seu francês estava “normal, normal, normal”. Isso me lembra Joaquim Nabuco, um dos nossos grandes intelectuais do Império e da Primeira República. Ele reconhece, com candura e nonchalance, que sua educação cosmopolita o deixou muito mais à vontade no idioma de Renan do que no de Machado: [E] dava-se um fato singular,resultado desses anos de leituras francesas: - eu lia muito pouco o português, ainda não começara a ler o inglês e desaprendera o alemão de Maria Stuart e de Wallenstein, com verdadeira mágoa do meu mestre Goldschmidt. O resultado foi que me senti solicitado, coagido pela espontaneidade própria do pensamento, a escrever em francês. (...) [C]om efeito, não revelo nenhum segredo, dizendo que insensivelmente a minha frase é uma tradução livre, e que nada seria mais fácil do que vertê-la outra vez para o francês do qual ela procede. (Minha Formação, cap. VII) Jorge Luís Borges é outro de formação multi-idiomática. Descendente de ingleses (avó paterna inglesa), acostumou-se a ler inglês desde cedo. Em casa, tanto o inglês como o espanhol eram comumente usados. (...) Todos os livros precedentes [Mark Twain, H. G. Wells, R. L. Stevenson, Lewis Carroll, Charles Dickens, etc.] eu os li em inglês. Quando mais tarde li o Don Quixote no original, soou-me como uma tradução mal feita. (“Perfis”, Ed. Globo, trad. Maria da Glória Bordini) Parece esnobismo, e de certo modo talvez seja – exibicionismo de gente com acesso a bens culturais. Em todo caso... existem populações pobres e multiidiomáticas em muitos lugares, lugares cheios de mistura transnacional, como cais do porto, zona de guerra, etc. Garotos que vivem como engraxates ou meninos-de-recados, e são capazes de conversar em 3 ou 4 línguas antes dos dez anos. Todas essas circunstâncias nos ajudam a desenvolver reações verbais instintivas em diferentes idiomas. Uma pessoa martela o dedão e solta uma praga numa língua que não fala há anos; é instintivo, corresponde a um comando mental específico, que não passa pela alfândega da racionalidade e da intenção. O sonho é a mesma coisa. Borges diz, no mesmo livro, referindo-se aos tempos em que ele e sua irmã Norah, adolescentes, estudavam em francês, morando com os pais em Genebra: Tornei-me um bom latinista, ao mesmo tempo que fazia em inglês a maior parte de minhas leituras particulares. Em casa falávamos o espanhol, mas logo o francês de minha irmã ficou tão bom que ela até sonhava nessa língua. Algo parecido deve acontecer com crianças e jovens que falam línguas diferentes em casa e na escola. Fernando Pessoa estudou em Durban, e seus primeiros poemas publicados não foram em português, foram em inglês. É legítimo supor que muitos impulsos poéticos seus surgiam primeiramente em inglês e talvez fossem depois adaptados para a língua onde seria mais fácil divulgá-los. Um caso notório de bilinguismo literário é o do polonês Joseph Conrad, que escreveu toda sua obra de ficção em inglês. Conrad era de uma família aristocrática da Polônia, estudou francês e outras línguas, mas consta que só se tornou fluente em inglês após os doze anos. Sempre falou o inglês com forte sotaque e um certo artificialismo, embora de maneira escrupulosamente correta. Livros como Lord Jim, O Coração das Trevas e outros mostram um domínio admirável de uma língua que não era a sua; e na qual ele certamente aprendeu a sonhar. Na nota introdutória a seu livro de memórias A Personal Record, ele comenta (trad. BT): O fato é que a minha aptidão para escrever em inglês é tão natural quanto qualquer outra com que eu tenha nascido. Tenho a sensação estranha e esmagadora de que ela foi sempre uma parte integrante de minha pessoa. O inglês, para mim, nunca foi uma questão de escolha ou de adoção. A mera idéia de escolha nunca me passou pela cabeça. (...) Foi uma ação muito íntima e por isto mesmo muito misteriosa para explicar. Seria tão difícil quanto explicar um amor à primeira vista. (...) Se eu não tivesse escrito em inglês, não teria escrito absolutamente nada. Fico imaginando se na Polônia, um país tantas vezes invadido, retalhado, repartido, despojado de sua identidade histórica e geográfica – se num país assim os seus nacionalistas mais ferrenhos veem a opção anglófona de Conrad como um sinal de entreguismo, como uma rendição humilhante a um poder colonial mais forte (neste caso, no campo da língua e da cultura). 4922) O barco de Teseu (15.3.2023) O dilema filosófico do “barco de Teseu” serve de ilustração, e de ponto de partida, para uma boa discussão sobre o lado material e o lado imaterial de um ser, uma pessoa, um objeto. A lenda explica que o barco que serviu ao herói Teseu em sua expedição para matar o Minotauro, no Labirinto de Creta, foi preservado por muitos séculos, e de vez em quando era levado em peregrinação de uma cidade para outra. Acontece que o navio era de madeira; algumas partes se quebravam, outras sofriam com o cupim, e aos poucos cada parte do navio foi sendo substituída. A questão é: depois que trocaram todas as tábuas do casco e do convés, todos os mastros, todos os bancos, todas as velas... aquele ainda era o barco de Teseu? O escritor Douglas Adams, criador da série de romances O Mochileiro das Galáxias, passou por uma experiência curiosa no Japão, que ele mesmo descreve: Lembro que certa vez, no Japão, fui visitar o Templo do Pavilhão Dourado, em Kyoto, e fiquei um tanto surpreso com o bom estado de conservação do tempo, já que ele foi construído no século 14. O guia me explicou que ele não estava tão bem conservado assim, e que na verdade tinha se incendiado duas vezes só neste século. – Então, este não é o templo original? – perguntei. – Claro que é – disse ele, surpreso com a minha pergunta. – Mas ele foi todo queimado no incêndio? – Sim. – Duas vezes? – Várias vezes. – E reconstruido? – Mas, claro. É um edifício importante, de grande valor histórico. – Usando materais completamente novos. – Claro que sim. O material antigo queimou no incêndio. – Nesse caso, como pode ser o mesmo edifício? – É sempre o mesmo edifício. Tive que admitir, comigo mesmo, que era um ponto de vista perfeitamente racional, apenas partia de uma premissa diferente. A idéia do edifício, sua intenção, seu design, tudo isto é imutável e constitui a essência do edifício. O que sobrevive é a intenção dos que o construíram pela primeira vez. A madeira que foi usada para isto se deteriora, e precisa ser substituída. Dar importância excessiva ao material original, que é apenas uma lembrança sentimental do passado, desvia a nossa visão do edifício propriamente dito, que continua existindo. (“Last Chance to See”, trad. BT) Um navio e um templo são objetos físicos tão imponentes que tendemos a dar um valor excessivo ao que eles têm de propriamente material. Esse tema foi trazido novamente à discussão poucos anos atrás, quando a Catedral de Notre Dame sofreu um incêndio e ficou parcialmente destruída. Houve uma lamentação generalizada pela destruição de certos aspectos da catedral, mas na época transcrevi esta citação de Sara L. Uckelman, estudiosa da Idade Média (Durham Centre for Ancient and Medieval Philosophy), comentando no Facebook: Eu sei como é a vida das catedrais. Elas não são monumentos estáticos ao passado. Elas são construídas, depois são incendiadas, são reconstruídas, são ampliadas, são vítimas de pilhagem, são erguidas novamente, desabam porque a construção não foi bem feita, e são erguidas mais uma vez, recebem novas ampliações, são remodeladas, são alvo de bombardeios, são construídas novamente. É a presença constante, e não a estrutura original, que tem verdadeira importância Acho que detalhe crucial nesse contexto é o conceito de “presença constante”: a continuidade através do tempo tem tanta importância quanto a presença no espaço, e talvez mais. No caso de Notre Dame, alguns vitrais eram preciosos porque tinham duzentos anos; mas eles próprios já estavam ali substituindo vitrais ainda mais antigos, que foram destruídos dois séculos atrás por algum outro acidente. E la nave va. É diferente o caso da destruição, por exemplo, da Biblioteca de Alexandria ou do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Porque em casos assim não se trata da destruição de um objeto que pode ser substituído, mas de milhares ou milhões de objetos únicos (livros, artefatos, manuscritos, etc.) – e quem vai produzir substitutos, ou seja, continuidade temporal, para tudo isto? No caso de um livro, é preciso distinguir a obra literária e o objeto-livro. O livro de Victor Hugo O Corcunda de Notre Dame, por exemplo, tem incontáveis edições e traduções mundo afora. Mesmo se pensarmos apenas na língua original, o francês, não importa quantos exemplares sejam destruídos, basta que se preserve pelo menos um para que a “presença constante” do livro tenha continuidade. É a premissa do clássico Fahrenheit 451 (livro de Ray Bradbury, filme de François Truffaut), em que os livros são preservados oralmente, na memória de pessoas capazes de recitá-los do começo ao fim. Outra é a situação do manuscrito original de Victor Hugo, as folhas onde ele escreveu, com sua mão e sua caneta, a história original. Este não pode ser substituído – ganha um valor histórico de objeto único, valor que não se reduz se ele for xerografado, digitalizado e reproduzido. É a materialidade daquelas folhas, que foram tocadas e manuseadas pelo artista, que estamos reverenciando quando criamos bibliotecas destinadas à preservação de manuscrios. A obra literária está viva como nunca, reproduzindo-se lá fora – mas o objeto precioso, reverenciado pela nossa cultura enquanto existe, pertence a outra ordem de valores. (manuscrito de Victor Hugo) 4923) Começos de livros (18.3.2023) Qualquer enumeração de “grandes começos literários” acaba sempre citando os habituais suspeitos: Fahrenheit 451, Cem Anos de Solidão, Anna Karenina, Moby Dick, A Metamorfose, The Go-Between, Neuromancer, Grande Sertão: Veredas... São os melhores começos da literatura universal? Não, não são, são apenas começos excelentes e que nossa cultura decidiu erigir como exemplos obrigatórios. São o troco-de-algibeira de professores, estudantes, jornalistas, blogueiros, críticos literários. São citados, referenciados, imitados, plagiados, parodiados, pastichados por todo pretendente a escritor que deseja mostrar, logo de cara, que já leu “os clássicos modernos”. Um bom começo não tem necessariamente que estar atrelado a um clássico da literatura. Às vezes, nem sequer a um livro muito bom. É frequente um livro começar bem, e depois desandar. E às vezes o autor, que tem lá seus talentos e habilidades, dedicou ao primeiro parágrafo um esforço e uma lucidez que não teve paciência de aplicar no livro inteiro. Acontece. Vou lembrar aqui alguns começos (de romances e de contos) que acho eficientes. Não, não são “Os Melhores De Todos Os Tempos”. São apenas exemplos de começos bem escritos, coisa que nem todos nós conseguimos produzir. (Os exemplos estrangeiros vão traduzidos por mim.) O particular e o universal Em termos de ficção científica, por exemplo gosto muito desse primeiro parágrafo de Robert Charles Wilson, em Spin (2005). É o começo do primeiro capítulo pra-valer da história (o livro abre com um episódio que se refere a outro momento do tempo. Eu tinha doze anos, e os gêmeos treze, na noite em que as estrelas desapareceram do céu. “Num cápsula” temos os três personagens principais da narrativa e o grande problema cósmico envolvido (a Terra fica misteriosamente isolada do Universo). E ilustra a grande qualidade de Wilson: narrar eventos cataclísmicos de grandes proporções e colocar na frente os dramas pessoais dos personagens, que poucos na FC exploram tão bem quanto ele. (O livro é a história de um rapaz pobre que tem um casal de amigos ricos, irmãos gêmeos, e se apaixona pela garota.) O protagonista (modo indireto) Mostrar o protagonista em poucas linhas é uma maneira forte de começar. Eu não esqueço as linhas iniciais com que Robert Heinlein em The Green Hills of Earth (1947) quando ele criou o maior poeta da FC, o bardo cego Rhysling: Esta é a história de Rhysling, o Cantador Cego do Espaço; mas não é a versão oficial. Vocês cantaram os versos dele na escola: Eu rezo para aterrissar mais uma vez no planeta onde nasci: pousar de novo meus olhos nas nuvens brancas e nas verdes e suaves colinas da Terra. Ou talvez os tenham cantado em francês, ou em alemão. Talvez até em esperanto, enquanto a bandeira de arco-íris da Terra tremulava sobre sua cabeça. Rhysling foi uma espécie de Cego Aderaldo ou Patativa do Assaré do futuro, viajando de planeta em planeta e compondo versos; e em poucas linhas Heinlein mostra sua importância nessa Terra, inclusive com o detalhe do uso do Esperanto e da “rainbow banner”. O protagonista (modo direto) Outra maneira de abrir o conto mostrando sua figura principal é entrar “de cara”, com uma descrição inequívoca, precisa, memorável. Poucos exemplos serão tão vigorosos quanto o início do conto “A caolha” de Julia Lopes de Almeida (em Ânsia Eterna, 1903): A caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos; mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho; unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho, desse cabelo cujo contato parece dever ser áspero e espinhento; boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urubus; dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos; não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível: haviam-lhe extraído o olho esquerdo; a pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. É um retrato brutal, que lembra aqueles desenhos em preto-e-branco, filigranados a carvão ou a bico-de-pena, como que na intenção de nada deixar de fora, nenhuma verruga, nenhuma ruga, nenhum poro. A estranheza - I Há muitas maneiras de começar um livro produzindo uma quebra de realidade, puxando o leitor, logo na primeira frase, para um mundo estranho. Uma das melhores sacadas, a meu ver, é o começo de George Orwell para 1984: Era um dia frio e ensolarado de abril, e os relógios batiam treze horas. Um antigo ditado inglês refere-se à “décima-terceira badalada” de um relógio como uma indicação de que o relógio está com defeito, ou de que alguma coisa está fora dos eixos. No caso de Orwell, a crítica costuma apontar o fato de que são todos os relógios da cidade que batem assim ao mesmo tempo. Em tradução, isto se perde um pouco, porque “treze horas” é uma expressão que passa despercebida aqui no Brasil; e em geral as 13:00 são assinalados com uma batida única. A estranheza – II Outro exemplo de estranheza, neste caso estranheza sintática, é o começo de Le Dimanche de la Vie (1952) de Raymond Queneau, uma história corriqueira de amor onde Queneau infiltra, subversivamente, as críticas que fazia ao seu idioma: Ele não duvidava de que todas as vezes que passava diante da sua loja, ela o observava, a comerciante, o soldado Brû. (trad. BT) Tem um solavanco aí na ordem natural das palavras, mas um leitor que não esteja mal-humorado aceita e entende. Queneau havia publicado um artigo intitulado “Connaissez-vous le chinook?” (em Bâtons, Chiffres et Lettres, 1950) onde comparava o francês coloquial, da rua, com o chinook (língua do oeste da América do Norte). Dizia ele que os franceses estavam organizando a frase do mesmo jeito que os falantes do chinook quando diziam: “Ela ainda não viajou, tua prima, à África”, ao invés do francês formal, que diria: “Tua prima ainda não viajou à África”. Queneau escreveu mais de vinte livros, mas esta é a sua frase inicial mais citada, depois (é claro) da palavra-inventada com que ele abre Zazie no Metrô: “Doukipudonktan?”. O choque Produzir um choque nas primeiras linhas é sempre um “gancho” eficaz para agarrar a atenção do leitor, principalmente se o choque, ao invés de se esvair por si só, desencadeia um mistério, uma necessidade de continuar lendo para saber que diabo significa aquilo. O elusivo e cruel Jonathan Carroll começa assim seu romance A Child Across The Sky (1989): Uma hora antes de se suicidar com um tiro, meu melhor amigo, Philip Strayhorn, me telefonou para conversar a respeito de polegares. – Já percebeu que quando você lava as mãos você na verdade não lava os seus polegares? Essa mistura do macabro e do cotidiano perpassa o livro inteiro; aliás, a obra inteira de Carroll. A presença ominosa Iniciar uma narrativa anunciando a existência de um fenômeno fora do comum e descrevendo-o aos poucos, de maneira indireta, com alusões, como que preparando o terreno. É um recurso habitual em histórias de terror ou narrativas fantásticas em geral. É o abrir gradual de uma cortina, revelando pouco a pouco uma realidade estranha. É importante para o autor fazer vibrar o diapasão do livro logo no primeiro parágrafo. Não preciso exemplificar aqui as histórias de Shirley Jackson, H. P. Lovecraft, Conan Doyle ou Edgar Allan Poe que utilizam essa forma insidiosa de introduzir o insólito. Mas ainda pretendo imitar o primeiro parágrafo de A Náusea (1938) de Jean-Paul Sartre (o início do texto propriamente dito; há um prólogo): Segunda-feira, 29 de janeiro de 1932. Alguma coisa aconteceu comigo, não posso mais duvidar. Veio como uma doença vem; não como uma certeza banal, não como uma coisa evidente. Veio ardilosamente, pouco a pouco; comecei a me sentir meio estranho, meio inquieto, e isto é tudo. Uma vez que aquilo se instalou, não se afastou mais, ficou ali sem fazer bulha, e assim eu pude até me convencer de que não havia nada de errado comigo, que tinha sido um falso alarme. E agora, aquilo está desabrochando. É apenas o começo. E quantos começos, de tantas coisas em nossa vida, não acontecem exatamente assim? 4924) "Os Falsários" (21.3.2023) Este ótimo filme alemão-austríaco (está no streaming do Belas Artes À La Carte) é mais um filme sobre a dura sobrevivência nos campos de concentração, mas desta vez com um ingrediente novo. Ganhou um Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 2008. Os Falsários (“Die Fälscher”, 2007), de Stefan Ruzowitzky, conta a história (verídica) da Operação Bernhard, baseada nas memórias de Adolf Burger, um dos participantes. Com as inevitáveis dramatizações e simplificações, por certo. Aqui: https://www.belasartesalacarte.com.br/browse Parece que a certa altura da II Guerra, os nazistas perceberam que entre os judeus presos nos variados campos de concentração encontravam-se desenhistas, tipógrafos, gravadores, técnicos e especialistas em tintas e papéis... Além de falsificadores de dinheiro. Surgiu então a idéia de usar esses técnicos (quase todos judeus) para falsificar moeda estrangeira (libras inglesas, dólares, etc.) e jogar esse dinheiro no mercado internacional. Com isso, os alemães teriam um lucro duplicado: pagariam as próprias despesas de guerra, que eram colossais, e por outro lado inflacionariam o mercado internacional com dinheiro falsos dos Aliados, gerando uma crise financeira para os inimigos. Adolf Burger é um dos principais personagens do filme, interpretado por August Diehl (de O Jovem Karl Marx). Mas o protagonista, um “mix” de alguns personagens reais, é Solomon Sorowitz, um exímio falsário que antes da guerra vivia dos pequenos golpes habituais da profissão, mas que depois de prisioneiro é encarregado pelos nazistas de supervisionar a operação. A aliança com os nazistas leva esses prisioneiros para um campo mais “light”, onde têm direito a refeições melhores, algum tratamento médico, camas com lençóis e travesseiros limpos, etc. Para quem está naquela situação, é uma chance de sobrevivência. Ao mesmo tempo, provoca nos presos uma crise ética. É certo colaborar com os inimigos? Ajudar as finanças de Hitler? Ficar ali no bem-bom, trabalhando para os alemães, enquanto no campo ao lado outros presos são torturados, espancados, mortos a tiros por passatempo? Os nazistas colocam uma opção muito clara. Se vocês fizerem, vão ter direito a banho, sopa, cama limpa, sobreviver. Se não fizerem, vão ser levados para o pátio, forçados a se ajoelhar, e abatidos com um tiro na têmpora. (Vemos várias cenas assim.) Uma das questões mais delicadas das ditaduras e das invasões é a dos chamados “colaboracionistas”, as pessoas que em vez de pegar em armas contra o invasor ou o governo criminoso decide apenas evitá-lo, desviar-se, sobreviver, mesmo ao preço de ajudá-lo aqui e ali e, como regra geral, não bater de frente com ele. Em situações dessa natureza, existem os que dão murro em ponta de faca, e os que tentam apenas desviar-se da faca. As duas atitudes geram um dos conflitos principais em Os Falsários, entre o esquerdista Burger (autor do livro original), que grita: “Não podemos trabalhar pela continuidade do nazismo!”, e o falsário Sorowitz, que diz: “Rapaz, primeiro vamos tratar de sobreviver, a gente não pode ganhar a guerra daqui de dentro deste campo.” (Karl Markovics (Sorowitz) e August Diehl (Burger) Um importante ponto de inflexão no filme é no seu terço final, quando a maré do conflito bélico começa a virar. Até então, a guerra na Europa acontece à distância; volta e meia os prisioneiros do campo ouvem algum comentário, ou espreitam à distância os nazistas amontoados em torno de um rádio, fazendo comentários arrogantes e, depois, preocupados. Solomon Sorowitz começa a perceber essa virada quando o oficial Herzog, o comandante da operação falsificadora, passa a tratá-lo com mais jovialidade, num tom amistoso, e chega a levá-lo para almoçar em sua casa e conhecer sua família – uma cena banal, mas, no contexto, absurdamente cruel. A certa altura, na reta final, o oficial começa a soltar frases tipo: “Olha, eu nem acredito muito nessa ideologia...” – “Sabia que eu já fui comunista, na juventude?...” - “Você sabe que eu estou aqui apenas fazendo o meu trabalho...” e isso nos mostra indiretamente a derrocada do regime. Todo regime de força tem um núcleo de fanáticos ideológicos e uma massa-de-manobra heterogênea de desorientados, oportunistas, conformistas, aproveitadores, indiferentes. A ponta da lança são os ideológicos, que produzem as rupturas sociais e instituem o regime do terror e da pressão. Quem dá sustentação e continuidade ao regime são pessoas em busca de segurança, de chances de ascensão social e de enriquecimento; e pessoas que seguem a boiada por medo de represálias ou de discriminação. Fariam o mesmo por qualquer ideologia. Esse é o alicerce de qualquer movimento político avassalador e brutal. A ideologia pesa, mas pesa menos do que a simples ambição do poder. E esta pesa (em termos quantitativos, na população) menos do que a ansiedade pela segurança, pelo emprego garantido, pelo sustento da família. Para ter isto, milhões de indivíduos farão vista grossa a campos de extermínio, a bombas atômicas, ao trabalho escravo, à tortura de pessoas desconhecidas. O nazismo está sendo comido pelas beiradas; o oficial Herzog se acovarda, sorri, dá tapinhas nos ombros dos prisioneiros, lembra a eles o quanto os tratou bem... Tudo isto, por mais que seja patético e desprezível, é humano. Não porque seja um modelo para a humanidade, mas porque, para quem observa de fora, é exatamente assim que os humanos muitas vezes se comportam. 4925) Sete autores obscuros (24.3.2023) 1 Tomás Carmelo Fiúza (1915-1998), contabilista, paraense de Marabá, casado, três filhos. Dedicou sua vida à criação do volumoso poema épico Tábua Esmeraldina, em doze cantos e cerca de 60 mil versos, contando a criação da floresta amazônica desde os dias do Jardim do Éden até a época atual. O poema usa a Tábua de Logaritmos como guia numérico, num sistema inventado por Tomás na adolescência, e aperfeiçoado durante a vida inteira. Por meio dele, era-lhe possível governar o número (variável) de estrofes em cada Canto, o número de versos em cada estrofe, e o número de sílabas em cada verso. Após sua morte, os filhos se cotizaram para financiar uma edição eletrônica da obra, cuja publicação em papel foi considerada “inviável” pelas trinta e sete editoras a quem foi submetido o manuscrito. 2 Lauro B. Kronka, 41 anos, funcionário público, ao dirigir consertos no sistema subterrâneo de esgotos de Cracóvia, descobriu uma galeria que dava acesso ao terreno exatamente por baixo do edifício para onde, após a II Guerra Mundial, tinha sido transferido o Banco Estadual, sem levar em conta a rede de galerias já existente naquele subsolo há mais de cem anos. Este fato o levou a escrever e publicar o romance policial O Assalto da Véspera de Natal, onde descrevia com riqueza de detalhes a ação de um grupo de ladrões que esvaziava o cofre-forte do Banco por aquela via subterrânea. Mal a obra chegou às livrarias, o Banco comprou e incinerou toda a tiragem, reforçou a segurança do cofre, e deu a Lauro B. Kronka um “cala-a-boca” sob a forma de um salário vitalício para que não revelasse a ninguém os aspectos mais peculiares do trajeto que havia descoberto. 3 Anália Cedro da Costa, bibliotecária, solteira, faleceu aos 68 anos, deixando inédito o livro de memórias que, por ocasião de sua festa dos cinquenta anos, anunciou à família estar escrevendo. De fato, quando os herdeiros tiveram acesso aos seus arquivos pessoais, constataram que durante todo esse tempo ela se limitara a produzir dezenas de versões, muito diferentes entre si, do primeiro (e finalmente único) capítulo, intitulado “Meu Nascimento”, que ela reescreveu obsessivamente, em todos os estilos, todos os pontos de vista, todas as convenções narrativas ao seu alcance, o que resultou num volume com mais de 500 páginas de versões desse capítulo, as quais só tinham em comum entre si a frase inicial: “Nasci numa manhã chuvosa de segunda-feira, e manhã chuvosa de segunda-feira tem sido a minha vida desde então.” 4 Roberto Espiridião de Lima, mineiro de Juiz de Fora, cresceu colecionando gibis e livrinhos de bolso, até se mudar para o Rio de Janeiro, casar aos 19 anos com a namoradinha grávida, instalar-se vitaliciamente num conjugado na Rua Benjamin Constant, e entrar num parafuso sem fim de trabalhos mal remunerados mas que ele executava com fervor, bendizendo a sorte. Arranjou numerosas tarefas de revisão e “tradução livre” em várias editoras pequenas, onde logo passou a publicar suas próprias aventuras de faroeste, sob pseudônimo; livrinhos de 80-100 páginas que ele começava a escrever numa terça-feira e entregava na segunda-feira seguinte. Ao morrer de enfarte aos 55 anos deixou anotações metódicas comprovando que ao longo de mais de três décadas municiou sem parar editoras como a Monterrey, a Bruguera, a Cedibra, as Edições de Ouro, a Vecchi e a Rio Gráfica Editora, tendo publicado ao todo 238 títulos, sob 203 pseudônimos diferentes. 5 Lindalva Martins, alagoana de Penedo, prendas domésticas, nunca se casou, e morreu aos 103 anos depois de ter sido cuidada pelos pais, pelos irmãos, e pelos sobrinhos, sucessivamente. Escreveu poemas desde a infância mas nunca se interessou em publicá-los. Diz a família que nunca houve um dia em sua vida em que ela não escrevesse vários poemas, curtos ou longos, geralmente em folhas de caderno espiral que ela depois arrancava e dava de presente a quem estivesse por perto. Quando completou 100 anos, foi visitada por jornalistas e equipes de televisão. Afirmou que esquecia os poemas logo depois de escrevê-los. Perguntada de onde lhe vinha uma inspiração tão incessante, ela estendeu o braço (estava sentada em sua caminha de solteira, no quartinho-dos-fundos onde dormia), pegou uma caneca de lata, enfiou o dedo indicador na asa e fez um movimento ilustrativo, enquanto explicava: “A poesia não pára, é um riachinho que vive passando, dia e noite, aí quando eu tou com sede eu pego minha canequinha, e...” 6 Harry Greene Holt, 37 anos, natural de Albany (NY), desde os 11 anos estudou a fundo a obra de Quentin Tarantino, tendo composto antes dos 18 anos uma meticulosa tábua cronológica e genealógica relativa a todos os filmes do diretor. Escreveu centenas de cartas e emails para ele, tendo recebido apenas uma resposta, em 2002 – uma foto autografada, sem dedicatória. Isto redobrou suas esperanças e seu otimismo. Em 2016 ele concluiu o seu romance épico, uma saga policial-criminal em 8 volumes, Los Vegas, cujo objetivo era preencher ficcionalmente todas as lacunas existentes entre os filmes do diretor, que, numa atitude incompreensível, sempre se recusou a recebê-lo. 7 Coriolano Bernardes, nascido em 1868, carioca, comerciante, charadista, estreou na poesia em 1891 com o volume de sonetos Versos Versáteis, que teve acolhida morna por parte da crítica, e cujo título foi na época considerado uma imitação dos Versos e Versões (1887) de Raimundo Correia. Três anos depois veio à luz sua segunda obra, Versos Perversos, que desta vez foi negativamente comparada aos Versos Diversos (1890) de Antonio Sales. O desgosto e o ressentimento produziram um longo hiato na carreira do autor, que parou de publicar, mas não de escrever, tanto que deixou pronta e revisada, ao morrer em 1917, a obra póstuma O Holocausto dos Leopardos Verdes no Castelo Ateu de Zanzibar. 4926) O Doutor sem ter doutorado (27.3.2023) Dr. Valdir não era doutor na origem; era só Valdir, cinco ou seis anos mais velho do que eu, também torcedor do Treze, também apreciador da nobre arte da cerveja gelada e da moela com farinha. Tinha uma lojinha de ferragens agrícolas na Rua João Suassuna, não muito longe da Praça Félix Araújo. Era do sertão, das bandas de Brejo do Cruz. Um daqueles migrantes que nunca voltaram para a cidade natal. Não que queimassem as pontes por onde passaram; as pontes o tempo levou, e eles não tinham como construir outras. Nas noitadas etílico-filosóficas comendo meio-galeto no Bar de Benedito, Valdir dizia, apertando meu ombro, quando o olho já estava penso: – BT, essa cidade me acolheu como se já me conhecesse. – Ele gostava de uma frase altissonante. – E eu caí nos braços dela como se já a amasse. Ficamos mais amigos ao descobrir que éramos leitores de revistas de contos policiais como Suspense ou X-9, grandes sucessos da Rio Gráfica Editora nos anos 1960. Trocávamos exemplares de vez em quando. Eu gostava mais dos crimes enigmáticos; ele curtia as noveletas de detetives particulares contra mafiosos e contrabandistas de uísque. E nada nos escapava nas Edições de Ouro: Shell Scott, Johnny Liddell, Mike Shayne, Erle Stanley Gardner. Lembro ainda hoje dos olhos dele, arregalados, quando tirei da pasta um exemplar do Poema Sujo de Ferreira Gullar, recém-lançado, e mostrei os versos imortais, onde o poeta se refere ao pai, encostado no balcão do armazém onde trabalhava: Não seria correto porque se alguém chegasse lá por volta das 3 da tarde (hora de pouco movimento) – ele meio debruçado no balcão lendo X-9... – Tás vendo, Valdir? Revista boa todo mundo gosta. – O pai do poeta lia revista policial! No mundo tem de tudo e mais um pouco. – O negócio é ler o que gosta, rapaz, e não ter preconceito. – Claro. Eu leio, e um cara de vasta cultura como você lê também. Valdir foi criado em roça, acunhando enxada, fincando estaca de cerca, pastorando bezerro. Aprendeu a ler meio na marra, com o que tivesse de coisa escrita por perto. “Eu gostava de ler propaganda de remédio,” disse ele uma vez, morrendo de rir, “porque era um otimismo da porra, tudo acontecia bem, ali! Eita mundo belo.” Veio pra Campina com uns vinte anos, trabalhou de balconista em várias lojas, até casar com uma filha do dono e acabar herdando a loja. A loja era a vida dele: a loja, a família (com uns filhos que eu mal conhecia), a farra e as leituras. E uma vez ele anunciou, quando o encontrei no São João, numa barraca do Parque do Povo: – Passei no vestibular aos 58 anos, e estou fazendo Direito. – Já era tempo de fazer alguma coisa direito na tua vida. – Estou achando uma beleza. Descobri que minha vocação não é o comércio, é a aplicação da justiça de todos para resolver os problemas de cada um. Ele gostava do fator altissonante, e iria dar um bom advogado. Era ligado, não comia gato por lebre, não tinha “vasta cultura” mas tinha a inteligência das relações humanas, coisa que sempre me faltou. Ainda penso que o livro policial pesou um pouco nesse seu projeto meio tardio. Ele certamente alimentava uma vaga fantasia de se ver numa sala de júri fazendo com Vital do Rêgo ou Agnelo Amorim o que Perry Mason fazia com o promotor Hamilton Burger. Rimos, farreamos, peguei o trevo rumo a minha vida e ele à dele. Alguns anos sem nos vermos, mas me chegou aos ouvidos que ele estava formado, e cheio das atividades. E um dia, em nova passagem por Campina Grande, preciso ir ao Forum para assinar alguma coisa, resolver alguma pendenga burocrática. Na saída, ao passar num corredor olho para dentro e vejo uma espécie de antesala com sofás majestosos e quadros a óleo na parede. E três caras conferenciando em voz baixa, de pé, no centro da sala: Valdir e mais dois. Cheguei à porta e um rapazote com olhar ansioso de estagiário estendeu o braço: – Um momento, eles estão em reunião agora. – Tudo bem – disse eu. – Quero somente uma palavrinha rápida com Dr. Valdir. – Ele já vai atendê-lo – disse o rapaz, caprichando na ênclise. Deu alguns passos até o grupo, cochichou alguma coisa; quando Valdir ergueu o rosto e me viu na porta, seus olhos brilharam. – Dr. Valdir?... – falei, bem alto. – Passei só para lhe dar um boa-tarde. Não aconteceu o estardalhaço costumeiro. Ele inflou o peito, cerimonioso, pediu licença aos colegas e caminhou compassadamente na minha direção. – É uma honra a presença do intelectual Braulio Tavares! Colegas, já conhecem? Me abraçou formalmente, mas satisfeitíssimo, me apresentou: Doutor Fulano, Doutor Sicrano... Cumprimentei todos, trocamos amenidades, ele pediu licença aos outros, despedimo-nos e saímos para o corredor. – Obrigado pelo “doutor” – disse. – Lá fora eu dispenso, mas aqui dentro todo mundo sabe que eu vim do grotão, e meu dever é mostrar a eles que o grotão sabe o que faz. – O título confere respeitabilidade, não é? – Eles querem respeitabilidade; eu quero respeito. E título é como revólver, se a gente mostrar que tem, talvez nem precise usar. – Eu não vejo problema – respondi. – Pra mim é como chamar cafetina de madame. – Mês passado, sabe quem eu encontrei, na porta da sala do júri, cheia de gente? Um primo da minha esposa, que eu não via há anos. E ele gritou de longe: “Diz, cachaceiro!” – Eu dava voz de prisão no ato – comentei. – O sal dele tá se pisando. Soube que a mulher dele quer se separar, e se eu pegar essa causa vou deixar ele sem fogão nem geladeira. Pegamos o carro dele (era ainda o mesmo carro azul-marinho de anos atrás, com o escudo do Galo no parabrisa.) e fomos tomar uma. Ele disse a certa altura: – Doutor é quem tem doutorado. Não esqueça disso. Mas nesse ninho de cobras, quem facilitar é engolido. Tá cheio de gente boa, mas tem uns caras aí que parece que estão com um sacarrolha enganchado no cu, e só sai se alguém chamar de “doutor”. 4927) Terry Pratchett e a literatura infantil (30.3.2023) (Terry Pratchett) Muita gente diz que literatura infantil é uma mina de ouro, talvez por ser uma espécie de literatura obrigatória, que os professores indicam e os pais têm a obrigação de comprar (quando podem, é claro). Por outro lado, é uma literatura que arregala os olhos, porque o nível de ilustração e de projeto gráfico, aqui no Brasil, é realmente muito alto. Sempre que levei meus filhos pequenos para a “bibliotequinha” que (felizmente) nossas livrarias insistem em manter, nunca lamentei a meia hora ou uma hora em que fiquei sentado ali junto. Não dava para ler livros inteiros, mas eu fazia um mergulho intensivo na arte da ilustração. Terry Pratchett não é propriamente um autor infantil, mas sua série de fantasia “Discworld” vendeu dezenas de milhões de livros no mundo inteiro e acabou passando às mãos de milhões de crianças, atraídas pelo seu lado imaginativo, pela fantasia, pelo humor. Numa entrevista de 2004, ele faz algumas colocações interessantes, e começa por um fato crucial. Geralmente a gente diz que em livro infantil não pode ter sexo, não pode ter palavrão, não pode ter violência excessiva, não pode ter discurso de preconceito... Tudo isto é uma verdade relativa, claro. Livros para pré-adolescentes podem e devem abordar o sexo, mais cedo ou mais tarde, porque é algo que vai entrar na vida dos jovens, queiramos ou não, e provavelmente algo que eles já conversam na escola ou entre as turminhas de amigos. Os livros não podem fazer vista grossa. (E também ninguém é obrigado a falar disso em todo livro.) Violência é outro aspecto, porque se tem uma coisa que criança gosta é história de suspense, de perigo, de perseguição, de fuga... Difícil fazer tudo isso sem pelo menos sugestões de violência. Os desenhos animados estão cheios disso, o cinema, a TV, os joguinhos. O livro é a mesma coisa – sempre com o desconfiômetro ligado. (Se eu já antipatizo violência desnecessária em livro adulto, muito mais em livro infantil.) Mas Terry Pratchett vai mais além dessa vigilância da moral e dos bons costumes. Ele tenta entender a psicologia do leitor infantil, o modo como o garoto ou a garota decifram o livro e interpretam o universo complexo que está sendo mostrado (no caso dele, o universo de Discworld, um mundo meio medieval onde a mágica funciona.) Uma primeira coisa é: o leitor jovem tem menos informação sobre o mundo. Ele sabe menos coisas sobre o mundo do que o autor do livro, não por ser bobinho, mas por não ter tido tempo de aprender. Pratchett (que morreu em 2015) diz que isso não se dá apenas com crianças. Quando escreve para adultos, ele tem consciência de que os adultos jovens já nasceram em outro mundo, um mundo com outras prioridades e outro ranking de importâncias. Diz ele, numa entrevista à revista Locus (# 520, maio 2004, trad. BT): Por exemplo, no meu livro Soul Music (1994) há uma piada que envolve os Blues Brothers, e a esta altura há toda uma geração de leitores jovens que não fazem a menor idéia de quem foram os Blues Brothers, e não estão nem aí para eles. Piadas menores desse tipo perdem a atualidade; as piadas mais profundas são as que perduram. Eu digo: “Não importa em quem você votar, o maldito governo vai acabar mandando nele.” Isso é atual tanto agora quanto daqui a dez anos. Todo tipo de referência excessivamente datada, localizada, tende a envelhecer com rapidez. Muitas vezes o autor quer pegar carona, meio sofregamente, nos assuntos do momento. Cinco anos depois o assunto do momento será outro. Quem vendeu vendeu, quem não vendeu não vende mais – a não ser que o livro tenha outros méritos. Diz Pratchett: Em geral, os editores de livros para crianças se envolvem muito mais, querem acompanhar o livro desde o começo da escrita, trocar idéias. E o autor precisa saber o que está fazendo. Uma criança não traz para a leitura a mesma bagagem trazida por um adulto qualquer, e talvez não seja capaz de “ligar os pontos” de algo que é narrado. Leitores adultos viveram (em maior ou menor grau) as mesmas experiências que eu vivi, leram os mesmos jornais, ouviram os mesmos noticiários ao longo da vida. Mas o mundo gira, e a cultura se modifica. Quando o autor vai ficando velho, precisa ficar mais atento. O mundo, hoje, está cheio de adultos que não sabem dizer os nomes dos quatro Beatles; mas não é por burrice. Quando a gente escreve para pessoas de outra geração, tem que abrir o olho. Pratchett era da minha geração (dois anos mais velho do que eu) e ele deve ter passado em algum momento por aquele instante desacorçoado em que a gente pensa: “Quanto mais eu envelheço, mais desinformados ficam os jovens.” É natural, porque há uma substituição contínua de “tempos presentes”, e os jovens querem se embeber, se ensopar, se encharcar do presente. Ele relaciona alguns detalhes que considera importantes no “olho de leitor” infantil. Crianças são leitores muito apegados à lógica. Tudo que eles querem é a explicação, e pode ser em uma frase. Mas eles precisam ver a frase, e saber que você pensou nesse detalhe. Eles fazem perguntas que um adulto não faria – por exemplo, “E o que aconteceu com tal ou tal personagem secundário?...” Eles querem saber se no final tudo ficou resolvido. Gostam das coisas certinhas. Pratchett fala de sua experiência, é claro. Apesar de ter suas obras traduzidas em mais de 40 países (no Brasil, inclusive), seu feedback mais imediato é com as crianças da Inglaterra, seu país natal, e não por acaso um país com uma literatura infantil de alto nível há no mínimo um século e meio. Em todo caso, é bom lembrar que Pratchett fez um dia essa distinção: “Um europeu diz: Não entendi isto aqui, o que há de errado comigo?, enquanto um norte-americano diz: Não entendi isto aqui, o que há de errado com o autor?”. É como se as crianças fossem européias, e ao crescer se tornassem norte-americanas. 4928) Dicionário Aldebarã XXIV (3.4.2023) (ilustração: Moebius) O planeta de Aldebarã-5 tem uma civilização influenciada pelos colonizadores terrestres. Seu vocabulário exprime as características da natureza do planeta e o seu modo de observar os fenômenos da psicologia e da cultura. Confiram os verbetes abaixo, recolhidos, meio ao acaso, do Pequeno Dicionário Interplanetário de Bolso. “Ospronk”: sonhos que constam quase totalmente de experiências corporais: a sensação de estar sentado num lugar banhado de sol, de tocar numa parede que vibra, de ter os cabelos remexidos por um vento forte... a tal ponto que é impossível narrar o sonho em palavras, porque mesmos as palavras que usamos não guardam nenhuma relação com a sensação que pretendem descrever. “Corduflans”: certas explicações improvisadas que as pessoas dão ao serem apanhadas de surpresa numa situação qualquer, sem tempo para preparar uma versão convincente; e depois é preciso distorcer uma porção de fatos ou de relatos para que nada daquilo entre em contradição com a explicação que foi inventada sem muito preparo. “Amburo”: pequeno fogareiro escavado no chão de terra, nas cabanas do interior, sempre cheio de cinzas e brasas, para aquecer comida. Em muitos lugares serve também como disfarce para o local onde estão enterradas jóias, dinheiro, economias da família, etc. Como o uso de tal disfarce é tradicional e de conhecimento público, gerações sucessivas de pessoas o descartam, por inútil, e depois voltam a adotá-lo. “Smirro”: tarefas úteis executadas coletivamente e sem pressa, como derrubar uma árvore, remover uma pedra, aterrar um brejo. Cada pessoa que passa pelo local faz um gesto: o machado fica ao lado da árvore para qualquer um dar um golpe, a pedra fica ao longo da estrada para qualquer um revirá-la uma vez, há uma pá perto do brejo. Subentende-se que é proibido uma pessoa sozinha assumir o trabalho; tem que ser feito por todos. “Chussamp”: pequenas canções meio narrativas, com letras absurdas e engraçadas, cantadas sempre numa mesma cadência, e que servem de marcador de tempo para algumas tarefas domésticas, principalmente na cozinha. Cantar do princípio ao fim Eu Vi Vocês na Corda-Bamba marca o tempo ideal de preparação do chá de zuinn, que tem um bom efeito sobre a atenção e aumenta a nitidez na vista. “Ankh-ankh”: cavalos ou cães um tanto rebeldes que passam a ser repassados para sucessivos donos, a fim de serem amansados de acordo com um pequeno menu de regras básicas que todos tentarão aplicar, até que o animal é devolvido ao dono original. Por trás desta prática vigora o princípio de que, tal como um animal, uma pessoa tem que ser educada pela coletividade inteira, e não apenas pela sua família de origem. “Albalahn”: pequenas cerimônias íntimas que correspondem a um “préaniversário”, e onde a pessoa acende velas, ergue um brinde, recita preces ou versos e executa outras manifestações de esperança e respeito, tudo isto com vistas a alguma coisa que deverá acontecer dali a exatamente um ano, e que ela, ainda sem saber o que será, comemora e agradece por antecipação. “Escarts”: assentos feitos de placas de vime, dobráveis, que podem ser levados às costas (são muito leves) e depois desdobrados. Podem ser usados em passeios, caminhadas, eventos ao ar livre, etc.; além da praticidade para quem usa, são muito apreciados pelos artesãos que os fabricam, os quais estão sempre inventando novos desenhos de encaixe e desdobramento, a ponto de fazerem um banco para três pessoas caber, depois de dobrado, dentro de uma mochila. “Abforn”: o percurso sentimental que uma pessoa se obriga a fazer quando visita sua cidade natal, e prepara uma lista de alguns lugares para visitas obrigatórias: a casa de amigos, a escola onde estudou, o prédio onde trabalhou, etc. É um percurso não obrigatório, mas que a maioria das pessoas procura cultivar, como uma maneira não apenas de revisitar boas ou más lembranças, mas de constatar a passagem do tempo e as transformações que produz. “Calbug-tan”: prece informal cuja primeira parte as pessoas recitam quando perdem algum objeto (geralmente na própria casa, em meio aos afazeres domésticos) e querem que lhes seja revelado onde está. A tradição avisa que daí em diante virão “pistas” aleatórias sobre a localização dele, através de palavras ouvidas à distância, referências a um aposento ou móvel, etc. Ao ser encontrado o objeto perdido, a pessoa deve recitar a parte final da prece. “Lank-umm”: a percepção instintiva (e impossível de explicar) que algumas pessoas têm com relação à casa em que vivem, e que lhes permite saber intuitivamente, sem fazer esforço, em que parte da casa ou de seus arredores está cada morador, em qualquer momento do dia; um talento tão mais admirável quando se sabe que as famílias aldebaranes, somando seus moradores, agregados e hóspedes, são sempre muito numerosas. “Dik-dikken”: brincadeira de salão em que cada pessoa escreve uma frase de duas ou três linhas, sobre um tema qualquer, com a intenção de não revelar através dela a própria identidade; esses papeizinhos são dobrados, misturados e depois lidos de um em um, enquanto as demais pessoas da roda se arriscam a adivinhar quem escreveu cada trecho. “Daoulb”: o individuo que se vê numa posição de intermediário entre dois grupos, ou dois antagonistas, com a obrigação de apaziguar um conflito e conduzir as duas partes a um acordo comum; em geral, cada um dos lados o vê com desconfiança, encarando-o como um mero representante dos interesses do seu adversário. “Herlegan”: personagem folclórico, reconhecível por suas roupas coloridas e seu comportamento meio distraído, meio anárquico; qualquer pessoa que se vista assim e saia à rua será tratada de acordo, mas se por algum motivo precisar “ficar séria” tem que tirar imediatamente a fantasia ritual, sob pena de detenção por mau comportamento. “Eswurten”: artesãos que, como atividade paralela de seus ofícios (marceneiro, escultor, ferreiro, ourives, etc.) dedicam-se a produzir cópias perfeitas de objetos fornecidos pelos clientes, seja para substituir um original danificado, criar uma imitação para desviar a atenção de possíveis ladrões, presentear alguém, etc. O termo é usado muitas vezes em tom pejorativo, com a conotação de “falsário, fabricante de mentiras”. “Panj”: licor de sabor forte e adocicado, que misturado a bebidas destiladas como o rum produz um forte coquetel alcoólico; muito usado em ocasiões festivas quando as pessoas se reúnem para beber e cantar a plenos pulmões, e invariavelmente descambam para uma sessão de improvisação de versos de duplo sentido, em formas fixas tradicionais, que provocam maior hilaridade quando recorrem ao absurdo e ao despropósito. 4929) A arte de escrever difícil (6.4.2023) Um espectro assombra a literatura brasileira desde que ela começou: o espectro do “falar difícil”. Num país que em 1920 tinha cerca de 70% de analfabetos, e não possuía nenhuma universidade, a prática da literatura era um nítido diferencial de classe. (Não que os analfabetos não praticassem suas formas literárias – a literatura oral, os contos populares, os cantos, os versos, os romances recitados, a própria literatura de cordel, cujo grande nome, Leandro Gomes de Barros, morreu em 1918.) Uma crítica que se faz ainda hoje à ficção de Guimarães Rosa é que sua linguagem é hermética, rebuscada, incompreensível, pedante... A crítica é exagerada mas não é gratuita, porque o próprio Rosa afirma sua intenção de inovar em cada frase, fugir à linguagem comum, banal, desgastada. São opções de cada um, mas é bom reconhecer que Rosa não estava sozinho nisso. Há uma nobre tradição de escrever difícil e, nos primeiros anos do século 20, Coelho Neto é o bode expiatório habitual de quando queremos condenar essa escrita. Mas basta lembrar dois nomes que ainda hoje são nomes de peso na formação dos nossos escritores: Euclides da Cunha, na prosa, e Augusto dos Anjos, na poesia. Ninguém discute a importância dos dois. E ninguém pode ignorar o que eles têm de rebuscado, de gongórico. Não são ilhas, são trechos de um imenso continente, e revelam nossa tendência para a linguagem ornamental, em que o sentido pode até ser profundo, mas é a sonoridade que retumba e encanta. O brasileiro é fascinado pelo que está a um passo de fazer sentido. E nós (que escrevemos) nos deleitamos na proliferação rococó de sinônimos, e nos dedicamos a enfeitar cada parágrafo como se fosse uma barca de sushi. Examinando nossa vitrine literária nos anos em volta do movimento Modernista de 1922, Wilson Martins (História da Inteligência Brasileira, vol. VI) sai mostrando exemplos variados da prosa que vigorava na época. Uma prosa (pelo meu olho) claramente influenciada pelas ressonâncias de Os Sertões (1902) de Euclides da Cunha. Ali estão os termos científicos jogados descuidadamente como se fossem moeda habitual da prosa, estão as derivações inesperadas (que J. G. Rosa iria cultivar de uma maneira bem pessoal), a proliferação de adjetivos... E certos torneados de frase que são bem de Euclides, e que (penso eu) o esforço de decifrar e entender resultava no prazer de imitar. (Hugo de Carvalho Ramos) Ele cita, por exemplo, trecho de Tropas e Boiadas (1917), de Hugo de Carvalho Ramos (1895-1921): Por ali passavam tropas mineiras d’além-Paranaíba – rijos tocadores palmilhando as alpercatas de couro cru pela extensão ardente e arenosa das estradas poentas, ladeadas às vezes de barrancos escarpados e esfarinhentos de pedra-canga, por cujas erosões, vincadas, medrava tenaz o catingueiro parasitário dos morrotes. Por ali passavam, barulhentos e ralhadores, de peregrinações distantes, após haver trilhado as rechãs esturradas d’argila vermelha e sapé bravio dos chapadões, onde apenas, a quebrar a uniformidade dos horizontes, apareciam de vez em vez, ao longo dos carris profundos deixados à passagem pela roda ferrada dos pesados carros de bois, a fronteira do lobo e os coqueiros de macaúba, como tênues, fugaces teias de sombra espalmadas sobre a crosta recozida do solo. (W. Martins, p. 70) “Poento”, aliás, é um adjetivo euclidiano que Ariano Suassuna confessadamente assimilou (ele se refere a isto em seu discurso de posse na A.B.L.). (Otávio Brandão) O alagoano Otávio Brandão (1896-1980), assim escreve em Canais e Lagoas (1918): O cinzento selenial dos horizontes, a negrura obsidiânica de certos pauis; a transparência hidrofânica das neblinas pairando sobre os altos cabeços longe; o lento lacrimejar das estrelas, triste como a dolorosa marcha fúnebre de Chopin; o brazido avernal dos estios; a beleza dos estendedouros das campinas; as ondas dos ventos frios arrepiando a pele da água voluptuosa; as barcaças maciças, pesadas, movidas pelas zingas; o arredondado zimborial do firmamento; a grandeza zenital das esperanças da minha Pátria; os beijos tímidos das lavandeiras pelos velhos campaniles; a bombinela da noite a descerrar-se para surgir o fulgor do sol levante; todas estas coisas vistas ou sentidas através dos canais, impressionam e fazem vibrar poderosamente a minha energia sensorial. (W, Martins, p. 158) Esta última frase não está muito longe do estilo da prosa de Augusto dos Anjos. São linguagens de época que se cristalizam numa aparência de espontaneidade. (Carlos Vasconcelos) Outro exemplo de Wilson Martins vem de Os Deserdados (1921), de Carlos Vasconcelos (1881-1923): Sussurram ainda as trovas brejeiras dos simplórios campônios, nos festins seqüentes ao mourejar diurno, nos roçados esmeraldinos de minha terra; balam, mansuetos, os lanígeros pelas várzeas; cambalhotam, endiabrados, os caprinos pelas quebradas sáxeas e gemem as fontes múrmures queixas de despedida em rumo do mar longínquo, ao grimpar céleres os socalcos de jusante... O luar dos sertões infiltra uma suave melancolia no psiquismo desses modernos Anteus, cuja grandeza de labor secular contra os caprichos da terra e contra as cruezas do éter desafia rivalidades! (W. Martins, p. 248) (Jorge de Lima) Ele cita um artigo onde Tristão de Athayde se queixa da impenetrabilidade do estilo de Jorge de Lima (1893-1953), mesmo ressalvando-se que o texto citado, de A Comédia dos Erros (1923), pretende descrever e comentar a evolução da molécula do carbono: Não há conjugado mais poderoso, devassando os segredos da vida, catalogando, seriando, na escala dos hidrocarbonetos, com o metro, a proporcionalidade das progressões aritméticas formando o encadeamento dos corpos cíclicos e acíclicos; coordenando, compondo, concertando, atando e desatando, com uma regularidade surpreendente, a prova de algarismos – os dez que nem mil todo-poderosos cíngulos dígitos do Grande Ser, que empolgassem as formas concretas do universo, na tarefa de as enumerar, multiplicar, dividir e subdividir. Quando esta molécula se complicou, tivemos um caos bíblico, que não a desordem, pois o magno coordenador, o carbono, não o permitira, logramos porém uma página harmônica da vida do globo, que não soubemos deletrear, porque não pudemos fixar em o nosso entendimento a equivalência de suas expressões, o eco de suas ressonâncias. (W. Martins, p. 307-308) São maus escritores? Certamente não; eram escritores que estavam tentando utilizar todos os recursos da língua de sua época, e essa língua estava se refinando no sentido da riqueza vocabular, da confluência de vários jargões (o filosófico, o científico, o regionalista, etc.), da busca de uma perfeição descritiva que consistia em retratar coisas simples com palavras complexas, no esforço de buscar a palavra mais justa. O barroquismo de Guimarães Rosa, por mais pessoal que seja, não surgiu num vácuo, nem surgiu numa planície linguística onde todo mundo escrevia simples. É vigorosa a nossa tradição do “escrever difícil”. Coelho Neto, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos, Guimarães Rosa não são montanhas isoladas, estão cercadas de montanhas menores mas que apontam na mesma direção. 4930) Primeiras Estórias: "Substância" (9.4.2023) (ilustração: Luhan Dias) “Substância”, o décimo-nono conto do livro Primeiras Estórias (1962; 3ª. edição) de Guimarães Rosa, é uma experiência interessante de conto com um foco único. Como se fosse um quadro, uma pintura, com uma imagem centralizada – e outros elementos irradiando-se a partir dela. Um quadro que é possível apreender com a visão, de golpe, num instante, e depois examinar os detalhes. A história, portanto, é simples. Uma menina, de família problemática e violenta, é levada embora para ser criada numa fazenda distante, a fazenda Samburá, de Sionésio (ou Seo Nésio, conforme a técnica rosiana de variar a grafia dos nomes dos personagens). A menina é Maria Exita, e vai trabalhar na fabricação do polvilho que é a especialidade da fazenda, onde se plantam vastas extensões de mandioca. (Digressão: A fabricação do polvilho envolve a limpeza e moagem da mandioca, e a separação do polvilho que depois de sedimentado e endurecido em pedras é posto para secar ao sol, processo que envolve a fase de “quebra pedra”, para que ele seja pulverizado.) Os anos vão se passando. Seo Nésio, checando cada detalhe da sua propriedade e dos trabalhos, começa a prestar atenção naquela moça formosa e caladinha, quebrando pedras no sol, um trabalho cansativo mas luminoso. Se engraça dela. Acumula em si esse sentimento até não aguentar mais e lhe propor casamento. Ela aceita. Fim da história. Falei que a história parece um quadro, e é por isso mesmo: porque é intensamente visual, uma fábula da busca da beleza, da luminosidade, e tem algo de processo alquímico nessa descrição de uma pessoa envolvida dia e noite na decantação de uma substância através do sol, do vento e da luz. “Deram-lhe, porém, ingrato serviço, de todos o pior: o de quebrar, à mão, o polvilho, nas lajes. (p. 152) “Ela é que quer, diz que gosta. E é mesmo, com efeito...” (p. 152) “Só no pino do meio-dia – de um sol do qual o passarinho fugiu” (p. 152) “Alvíssimo, era horrível, aquilo. Atormentava, torturava: os olhos da pessoa tendo de ficar miudinhos fechados.” (p. 152) “Também, para um pasmar-nos, com ela acontecesse diferente: nem enrugava o rosto, nem espremia ou negava os olhos, mas oferecidos bem abertos – olhos desses, de outra luminosidade.” (p. 153) “Sua beleza, donde vinha? Sua própria, tão firme pessoa? A imensidão do olhar – doçuras. Se um sorriso; artes como de um descer de anjos.” (p. 153) “Maria Exita era a para se separar limpa e sem jaças, por cima da vida; e de ninguém. Nela homem nenhum tocava.” (p. 154) “Servia o polvilho – a ardente espécie singular, secura límpida, material arenoso.” (p. 154) “Os raios reflexos, que os olhos de Sionésio não podiam suportar, machucados, tanto valesse olhar para o céu e encarar o próprio sol.” (p. 155) “Entregou os olhos ao polvilho, que ofuscava, na laje, na vez do sol.” (p. 156) “Você, Maria, quererá, a gente, nós dois, nunca precisar de se separar? Você, comigo, vem e vai?” (p. 156) (ilustração: Luís Jardim) Guimarães Rosa disse, no Grande Sertão, que viver é rasgar-se e remendar-se. Na mesma toada podemos sugerir que escrever é plantar, colher, moer e purificar. Como Rosa era notoriamente um estudioso do hermetismo e das ciências ocultas, não há como não ver no conto alusões alquímicas ao processo de transmutação da matéria, onde ocorre a fase do albedo, que corresponde à purificação e decantação da matéria, atingindo pura espiritualidade. Primeiras Estórias é todo composto de histórias assim, e sem dúvida assustou os leitores acostumados com as obras anteriores. Este livro ganhou um formato-de-conto que Rosa não tinha explorado até então. Os contos de Sagarana (1946) são contos longos e largos, que se expandem como um rio correndo devagar, sem pressa de chegar a lugar nenhum. Contos com 30 ou 40 páginas, e até mais. Esse formato se expandiu ainda mais nas 7 noveletas que compõem Corpo de Baile (1956). A prosa torrencial do Grande Sertão: Veredas (1956) é o ponto máximo dessa exuberância narrativa de quem tem muito o que dizer e quer dizê-lo vastamente. O grande ponto de inflexão na vida e na obra de J. G. Rosa, a grande “virada de esquina” em sua vida é justamente no período entre 1956 (publicação de Corpo de Baile e de Grande Sertão) e 1962 (publicação de Primeiras Estórias). São os anos da fama, da consagração e da polêmica, e anos de trabalho intenso no Itamaraty. O tempo escasseia, os contos encolhem. A profusão de histórias para contar é a mesma, mas diminuiu o tempo que ele pode dedicar à literatura, e o tempo de vida que sente ter pela frente. Rosa era cardíaco, fumante compulsivo, e dizia: “Eu sou médico, e sei muito bem qual é a minha condição de saúde.” Ele passou a publicar uma página semanal em O Globo – bem remunerada, certamente – num espaço com tamanho mais ou menos fixo. Daí que os contos de Primeiras Estórias, que é a reunião desse material em livro, tenham todos aproximadamente a mesma extensão. Algo parecido ocorreria depois com seu último livro, Tutaméia (1967), cujos contos tiveram primeira publicação numa revista médica (Pulso, RJ) e têm um tamanho-padrão ainda mais curto. Rosa era um ficcionista “fractal”: cada história sua contém muitas outras histórias incrustadas. Na reta final da carreira, foi obrigado a concentrar seu foco criativo num espaço de texto mais estreito e mais intenso. O que era arco-íris concentrou-se em raio laser. A vida dá o tom do trabalho, impõe um ritmo e um formato. Rosa é um estressado, apesar do permanente bom humor. É um consciencioso, um perfeccionista, um “perseguidor” também – no sentido cortazariano do termo, do artista que não sabe direito o que está criando enquanto não o cria e o contempla. Aproveitando a referência a Julio Cortázar, podemos dizer que em Primeiras Estórias e em Tutaméia Guimarães Rosa se dedicou a vencer o embate com o leitor por nocaute, e não por pontos. Adotou, por conta própria, a fórmula do autor argentino, adepto do conto uni-direcional, do conto-flecha, do conto que é disparado e leva o leitor consigo como um trem-bala. É o contrário, por exemplo, dos contos de Sagarana, que eram contoscaravana, histórias que têm um destino mas abominam a linha reta, preferem o caminho tortuoso de quem se desvia para abastecer num oásis, visitar um vilarejo, evitar uma tempestade. 4931) A Invenção de Morel (12.4.2023) Um tema recorrente na ficção científica é o tema da fuga para outros planetas, antes ou durante um cataclismo qualquer. Como a Terra está em vias de destruição, preparam-se algumas “arcas de Noé” que decolarão rumo a um planeta habitável, onde a humanidade terá um novo recomeço. Um clássico do cinema nessa veia é O Fim do Mundo (“When Worlds Collide”, Rudolph Maté, 1951). A questão principal é: quem vai nessa Arca? Quem serão os felizardos? No filme, o milionário que financia a construção da espaçonave exige o direito, bastante compreensível, de escolher os convidados. Briga-se muito, e a escolha acaba sendo feita por um sorteio de loteria, que dá origem a vários desdobramentos melodramáticos. No recente e premiado conto de N. K. Jemisin, Emergency Skin (2019; no Brasil, na antologia Forward, Ed. Intrínseca, 2021), a Terra está em pleno colapso e os bilionários constroem uma frota de espaçonaves para a fuga. Depois que eles vão embora, os que ficaram para trás conseguem reverter a situação, uma vez que os causadores da situação migraram em massa. Numa catástrofe, salvam-se os que podem. Se um cientista inventar um dia uma máquina de imortalidade, ou de imortalização, quem serão os primeiros beneficiados? Provavelmente as pessoas a quem ele tem acesso, as pessoas que são importantes para ele. É mais ou menos o que acontece com o Morel imaginado por Adolfo Bioy Casares no seu clássico La Invención de Morel (1940). No Brasil, o livro saiu pela Expressão e Cultura como A Máquina Fantástica (1974, trad. Vera Neves Pedroso), republicada em 1986 pela Rocco como A Invenção de Morel. Fiz mais acima uma distinção entre imortalidade e imortalização, e esta é essencial na concepção da história. Morel (não farei aqui um resumo do enredo do romance) inventou uma espécie de cinema em 3D ou 4D, que registra e conserva, de forma perfeita, a presença e as ações de pessoas num ambiente. Uma espécie de cinema total, onde as imagens são tridimensionais, e têm uma materialidade concreta que falta, por exemplo, aos hologramas. E durante uma semana ele traz seus amigos para a ilha onde tem uma mansão (com jardim, piscina, etc.) e todos se divertem, bebem, riem, cantam, dançam, praticam esportes, namoram, desfrutam daquele lazer um pouco tenso e um pouco ruidoso dos ricos que, não precisando ganhar a vida, precisam, o tempo inteiro, inventar pretextos para preencher seus dias imensos, longuíssimos, dias e noites que não acabam mais. O que Morel descobre não é a imortalidade, que seria o prolongamento indefinido da vida daquelas pessoas. As pessoas morrerão, sim. (Como dizia Millôr Fernandes, “injustiça social mesmo era se uns morressem, e outros não”.) O que a invenção de Morel lhes proporciona é a imortalização parcial: elas continuarão repetindo para sempre aqueles dias, aquela vida de eterno prazer num eterno presente. Existirão como imagens, símbolos, arquétipos. Daqui a mil anos, se outra civilização descobrir aquela ilha, os amigos de Morel estarão ali, reproduzindo suas vidinhas. Serão talvez os únicos registros remanescentes de quem eram os seres humanos do século 20, que aparência tinham, como se vestiam, o que comiam e bebiam, sobre que assuntos conversavam. A Invenção de Morel é um dos grandes livros da ficção científica latinoamericana. Digressão: Já vi discussões sobre a eterna e insuportável questão de “pertence ou não pertence ao gênero...” Em primeiro lugar, obra alguma pertence a um gênero; um gênero literário (cinematográfico, etc.) é uma classificação artificial feita para comodidade de quem classifica. E, sendo os tais “gêneros” a mixórdia desencontrada que são, difícil vai ser encontrar uma história que não possa ser classificado em vários "gêneros" diferentes. O livro de Bioy Casares mostra a criação de uma máquina capaz de captar e reproduzir trechos da realidade, de forma tridimensional (ou quadridimensional, pois se dá ao longo do tempo), e material. É cientificamente improvável? Talvez – tanto quanto máquinas do tempo ou espaçonaves mais velozes do que a luz. Como disse Jorge Luís Borges, no famoso prefácio que escreveu para este livro: “Adolfo Bioy Casares, nestas páginas, resolve com felicidade um problema talvez mais difícil. Desdobra uma odisséia de prodígios que não parecem admitir outra chave senão a alucinação ou o símbolo; e a decifra satisfatoriamente mediante um único postulado fantástico, mas não sobrenatural.” Fim da digressão. O livro teve algumas adaptações cinematográficas, e vi dias atrás a versão que está no YouTube, uma adaptação francesa com legendas em inglês. É um filme para TV, de 1967, dirigido por Claude-Jean Bonnardot, que Bioy Casares afirma ter assistido (sem gostar muito) em Paris, na casa de amigos. Em todo caso, a história (da qual estou revelando apenas uma das muitas faces) mantém a ironia presente no livro de Bioy Casares. Se alguém inventar uma máquina de imortalização, quem serão os beneficiados? Os mais inteligentes, os mais humanistas, os mais indispensáveis à humanidade? Não: provavelmente serão, como em Morel, pessoas ricas e com acesso “às mais avançadas das mais avançadas das tecnologias”. Serão preservadas para sempre: sua aparência física, suas roupas, o que comem, o que bebem, o que conversam... De certa forma, a invenção de Morel se assemelha à literatura de um Marcel Proust ou de um Henry James, que descreveram com minúcia (e cristalizaram para sempre) a vida cotidiana e os sentimentos banais ou intensos de gente rica. (As imagens são do filme no YouTube.) 4932) A tristeza e a música (15.4.2023) No conto que abre o livro Sagarana (1946), “O Burrinho Pedrês”, Guimarães Rosa encastoa uma série de pequenas histórias, “causos” que os vaqueiros contam uns aos outros enquanto conduzem uma boiada, num trajeto longo e vagaroso até a vila onde passa o trem. Uma dessas histórias é contada pelo vaqueiro João Manico. Ele diz que anos atrás o atual patrão deles, Major Saulo, era apenas “Seu Saulinho”, e os levou para trazer uma boiada que acabava de comprar. Como na volta tinham que passar pela cidade de Curvelo, o vendedor do gado lhes pediu um favor: que deixassem lá um menino, um pretinho de uns 7 anos, para ser entregue ao irmão que ali morava. Os vaqueiros trazem o pretinho à garupa, mas o menino está inconsolável porque está indo embora. Ele não quer ir, pede para ser levado de volta, implora... E, aquilo, ele chorava, sem parar, e de um sentir que fazia pena... Não adiantava a gente querer engambelar nem entreter... Eu pelejei, pelejei, todo-omundo inventava coisa para poder agradar o desgraçadinho, mas nada d’ele parar de chorar... (...) ...O pretinho vinha comigo na garupa, dando soluços grandes, e molhando minhas costas de tanta lágrima... Então eu falei: — “Olha os bois também com saudade dos pastos lá da fazenda”... — Para que foi que eu fui dizer isso! Ele abriu ainda mais no bué, e começou a gemer: — “Ai, seu mocinho bom! Ai, seu mocinho bom! Me deixa eu ir-s’embora para trás! Me deixa eu ir-s’embora para trás!”... Quando ele viu que não adiantava nada pedir, garrou só a exclamar: — “Ai, seu mocinho ruim! Ai, seu mocinho ruim!... Eu só queria poder sentar agora, um tiquinho, naquela canastra de couro, que tem lá no rancho de minha mãe... Queria só ver, de longe, a minha mãezinha, que deve de estar batendo feijão, lá no fundo do quintal!”... Os vaqueiros ficam naquela sinuca, porque todo mundo está comovido com o choro do garoto mas não fazia sentido voltarem atrás com boiada e tudo. E lá vão eles. Montam acampámento para passar aquela primeira noite. E foi aí, bem na hora em que o sol estava sumindo lá pelos campos e matos, que o pretinho começou a cantar... ...Ah, se vocês ouvissem! Que cantiga mais triste, e que voz mais triste de bonita!... Não sei de onde aquele menino foi tirar tanta tristeza, para repartir com a gente... Inda era pior do que o choro de em-antes... A voz do menino chega a lembrar (ou será que estarei me sugestionando?) a voz de um Milton Nascimento infantil mas já capaz das nuances futuras de um Milton Nascimento – que já era nascido quando Rosa publicou seu livro: Era assim uma cantiga sorumbática, desfeliz que nem saudade em coração de gente ruim... Mas, linda, linda como uma alegria chorando, uma alegria judiada, que ficou triste de repente: ...“Ninguém de mim ninguém de mim tem compaixão...” Os vaqueiros ficam indóceis, todo mundo nervoso. Um bebe cachaça, o outro puxa do bolso as cartas da família, outro cantarola triste... A história do pretinho tem um final trágico e meio sobrenatural, que fica reservado a quem se dispuser a ler o conto. O episódio do negrinho me trouxe à lembrança uma cena parecida, num dos meus contos preferidos de Mark Twain, “Uma Estranha Aventura” (“A Curious Experience”, 1881). Um adolescente pede para se alistar nas tropas do Norte, durante a Guerra Civil norte-americana, e é designado para ajudar na banda de música do quartel. O problema que surge é porque toda noite, no alojamento, antes de dormir, o menino (que tem uns 14 ou 15 anos) reza em altas vozes pedindo a bênção do céu para cada músico da banda; e depois desata a cantar hinos religiosos. (Mark Twain) Um oficial relata o fato ao Major: Mas o mais grave de tudo é que quando acaba a reza – quando ele finalmente acaba a sua reza – ele ergue a voz e começa a cantar. Bem, o senhor sabe que a voz dele, quando fala, é doce como o mel; sabe como seria capaz de persuadir aquele cão de ferro do portão a descer os degraus e vir lamber-lhe a mão. Creia na minha palavra, isso não é nada diante da cantiga! Ah, ele se limita a entoar aqueles versos , numa voz tão doce e tão suave, ali no escuro, que faz a gente pensar que está no céu. (...) E ele canta: “Assim como eu sou – um coitado, um cego, um desvalido...” (...) E ele faz um homem se sentir o bruto mais ingrato e mais canalha que já existiu. E quando ele canta sobre a casa em que viveu, e sua mãe, e sua infância, e as lembranças de antigamente, e os amigos que morreram e se foram para sempre, isso traz para a mente daqueles homens tudo que eles amaram e perderam em sua vida... (trad. BT) Os hinos do garoto fazem aqueles soldados rudes chorarem aos soluços, e na manhã seguinte levantam-se todos fungando, com olhos vermelhos, sem coragem para olhar na cara uns dos outros. Ficam tal como os vaqueiros do conto de Rosa – que numa entrevista ao Correio da Manhã em 1946 asseverou ter misturado à história dos vaqueiros um personagem real: um menino preto que ele conheceu numa pensão onde morou, quando era estudante na capital mineira. A poética da tristeza ganha uma dimensão maior quando estabelece esse contraste entre a inocência da infância e o temperamento calejado de homens guerreiros. E existe o poder hipnótico da tristeza, a tristeza como uma emanação irresistível que brota de alguém e envolve os sentimentos de quem esteja em volta. É algo que foi expresso de maneira inesquecível por Samuel R. Delany em sua noveleta interplanetária Empire Star (1966; no Brasil, “Estrela Imperial”, Ed. Morro Branco, trans. Petê Rissati)). O protagonista desta história é Comet Jo, um rapaz meio andarilho, que costuma tocar uma ocarina, e precisa pegar carona numa espaçonave para ir a outro planeta, cumprir uma missão qualquer. (Não é uma “missão qualquer” – este livro é cheio de coisas interessantes, mas que não vêm ao caso para esta citação.) Ele é aceito na nave, e outro rapaz, também músico, chamado Ron, começa a lhe mostrar o que há lá dentro. Uma das coisas que há lá dentro é um carregamento de “Lll” (=a letra L, três vezes repetida), seres alienígenas. Jo seguiu Ron por um corredor, passaram por uma escotilha, desceram uma pequena escada. – Os Lll estão aqui – disse Ron, diante de uma porta circular. Ainda estava segurando o braço do violão. Empurrou a porta, e alguma coisa agarrou o estômago de Comet Jo e o virou pelo avesso. Lágrimas cresceram nos olhos dele, e sua boca se abriu. Respirou com dificuldade. – É uma porrada, hein? – disse Ron em voz baixa. – Vamos entrar. Jo estava amedrontado, e quando penetrou naquela penumbra sentia-se afundar dez metros a cada passo. Piscou os olhos para clarear a vista, mas as lágrimas voltaram. – Esses são os Lll – disse Ron. Jo viu lágrimas no rosto queimado de sol de Ron. Olhou para diante. Eles estavam acorrentados ao piso pelos pulsos e tornozelos; Jo contou sete deles. Seus enormes olhos verdes piscavam na luz azulada do compartimento de carga. Seus torsos eram encurvados, as cabeças hirsutas. Seus corpos pareciam imensamente fortes. – O que é que eu estou... – Jo tentou dizer, mas tinha alguma coisa presa na garganta. – O que é que eu estou sentindo? – sussurrou ele, pois era o mais alto que conseguia falar. – Tristeza – disse Ron. E assim que recebeu um nome aquela emoção se tornou reconhecível – uma tristeza vasta, avassaladora, que sugava todos os movimentos de seus músculos, toda a alegria dos seus olhos. – Eles me deixam... triste? – perguntou Jo. – Por que? – São escravos – disse Ron. – Eles constroem; constroem de uma maneira muito bela, maravilhosa. São extremamente valiosos. Construíram metade do Império. E o Império os protege desta maneira. – Protege? – perguntou Jo. – Ninguém pode se aproximar deles sem se sentir assim. – Nesse caso, quem iria comprá-los? – Não muitas pessoas. Mas existem em número bastante para que eles sejam escravos incrivelmente valiosos. – Por que não soltam eles?! – perguntou Jo, e a frase soou no final quase como um grito. – Economia – disse Ron. – Como é que alguém pode pensar em economia sentindo-se deste jeito? – Não é muita gente que consegue – disse Ron. – Essa é a proteção dos Lll. Jo esfregou os olhos. – Vamos sair daqui. – Vamos ficar mais um pouco – retrucou Ron. – Vamos tocar para eles agora. – Ele sentou num caixote, empunhou o violão e fez um arpejo num acorde modal. – Toque. Eu lhe acompanho. (Empire Star, trad. BT) À maneira típica de Delany, vários conceitos estão expostos de forma entrelaçada nesse trecho: o esboço rápido das relações econômicas do Império interplanetário, a dominação de uma raça por outra, o conceito aparentemente contraditório de que um escravo é protegido pela tristeza que desperta nos outros (o que os trancafia na esfera do “não quero pensar nisso”); e o uso da música como fator de equilíbrio ou tentativa de comunicação. Sem falar no nome da raça escravizada – os “Lll”, um nome impronunciável, um conceito que (do ponto de vista do leitor, que neste momento é o mais “alienígena” de todos) pode ser lido mas não pode ser compartilhado em voz alta. A tristeza pode ser revelada através do canto, como no pretinho de Sagarana, pode ser provocada nos outros através do canto, como no conto de Mark Twain, e pode ser uma aura que, exalada telepaticamente (por assim dizer), pode ser atenuada pela música. (Samuel Delany, 1966) 4933) O passe e a assistência (18.4.2023) (Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa) A língua brasileira tem umas coisas engraçadas. A primeira delas é que começou sendo “Língua Portuguesa”. Era assim chamada na época em que eu comecei a frequentar a escola, ou seja, quando os dinossauros dominavam a Terra. Mas... Meu pai era viciado em palavras-cruzadas e charadas; eu passava dias e noites folheando as dezenas de dicionários que ele tinha em casa, e sempre me chamou a atenção haver um Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, cujo propósito eu já era capaz de entender e aceitar. Era uma língua traduzida para outra língua quase igual. Portugal, no entanto, é um amor que eu tive e vi, pelo espelho, na distância se perder, como disseram de forma irretocável Roberto & Erasmo Carlos. Surgiu na estrada a cordilheira dos Estados Unidos e a língua inglesa, que tem contaminado de forma irremediável a nossa, contando com o apoio entusiasmado de muita gente – inclusive eu. Um debate recente é o que envolve a adoção da palavra “assistência”, no futebol: “O gol de Pedro foi uma beleza, mas vamos reconhecer que a assistência de Arrascaeta foi sensacional.” Muita gente se rebela contra isto, dizendo que na nossa língua patriótica já existe a palavra passe e que o anglicismo é dispensável. Bastava dizer “o passe”. Era assim que a gente escrevia no Diário da Borborema. “O gol de Fernando Canguru foi uma beleza, mas vamos reconhecer que o passe de Assis Paraíba foi sensacional.” (Assis Paraíba e Fernando Canguru) A palavra assistência, pelo que entendo, veio do basquete. Eu já a via nas transmissões do SporTV na década de 1990, quando passei a acompanhar o time do Chicago Bulls, no tempo de Phil Jackson como técnico, e Michael Jordan e Scottie Pipen na quadra. Posso estar me enganando, mas desde essa época – quando ninguém usava “assistência” no futebol – eu via uma diferença entre assistência e passe. O passe é quando você apenas entrega a bola a um companheiro. A assistência (no basquete) é aquele passe decisivo, no garrafão, naquelas frações-desegundo cruciais quando o ataque penetra todo de uma vez e é preciso entregar a bola, de maneira inesperada, para alguém em condições de fazer a cesta. Nessa mesma época, anos 1990, eu não via ninguém da imprensa do futebol chamar um passe decisivo, passe-para-o-gol, de “assistência”. Todo mundo que eu lia dizia algo como: “No jogo de hoje da Seleção Brasileira, Rivaldo teve grande atuação; não marcou gols, mas deu passes decisivos para os gols de Ronaldo e Bebeto”. (Rivaldo) Ninguém dizia “assistência”. E aqui entra meu argumento em favor deste anglicismo. A palavra nova é necessária (mesmo que venha de outra língua, o que não é nada demais) quando carrega consigo uma nuance que não tem na palavra anterior. A palavra assistência não substitui a palavra passe: ela indica um tipo específico de passe, um tipo mais importante de passe. É algo parecido com o que faz a gente distinguir entre “passe” e “lançamento”. Um lançamento, no futebol, também é um passe: Fulano entrega a bola para Sicrano. Mas é um passe geralmente a grande distância, e que muitas vezes tem a intenção de dar início a uma jogada nova, um ataque, uma combinação de avanço a toda velocidade e de deslocamento paralelo dos outros jogadores, que se oferecem como opções de jogada. “Jogador era Gérson, que fazia um lançamento de 40 metros com a facilidade de quem atrasa uma bola para o goleiro.” Onde se lê “Gérson”, claro, pode-se ler também Zico, Zidane, Iniesta, Zezinho Ibiapino. Quem descreveu de maneira exemplar a diferença entre “passe” e “lançamento” (sem usar estas duas palavras) foi João Cabral de Melo Neto neste poema, do livro Agrestes (1981-1985). O “passe” é uma carta, que se entrega em mãos; o “lançamento” é um telegrama que cruza o hiperespaço para chegar ao destinatário. (João Cabral de Melo Neto, pelo Santa Cruz, do Recife) DE UM JOGADOR BRASILEIRO A UM TÉCNICO ESPANHOL Não é a bola alguma carta que se levar de casa em casa: é antes telegrama que vai de onde o atiram ao onde cai. Parado, o brasileiro a faz ir onde há-de, sem leva e traz; com aritméticas de circo ele a faz ir onde é preciso; em telegrama, que é sem tempo ele a faz ir ao mais extremo. Não corre: ele sabe que a bola, telegrama, mais que corre voa. Passe é quando você simplesmente entrega a bola a um companheiro. Lançamento é quando você descobre à distância um companheiro desmarcado, ou um espaço vazio, e lança ali a bola, para “precipitar os acontecimentos”. E a assistência é, de certa forma, o penúltimo toque antes do gol. É aquele passe (pode ser curto ou longo) que deixa o atacante na cara do gol, com a única função de finalizar corretamente. (Gerson – Turma do Roma) Me perdoem os leitores que não curtem muito futebol. Ele entrou neste texto como Pilatos no “Credo” ou como as pedrinhas na sopa de Pedro Malazarte. O texto é sobre a língua, as importações da língua e o enriquecimento da língua. Não acho que dizer “assistência” empobreça nosso vocabulário esportivo, pelo contrário. Uma língua busca o tempo inteiro dois objetivos opostos: ser cada vez mais simples e precisa (para que a comunicação possa fluir sem tropeços), e cada vez mais rica e cheia de nuances (para poder refletir a realidade, que é assim). Quando os “Manuais de Escrita Criativa” nos dizem para usar palavras simples, não estão nos dizendo para só dizer coisas banais. Fernando Pessoa disse que o poeta é um fingidor porque “chega a fingir que é dor a dor que deveras sente”. Só usou palavras simples, e isso serviu para ressaltar o imprevisto da idéia, a originalidade da idéia, a verdade profunda da idéia. (E o Brasil já chegou a um ponto em que muita gente torcerá o nariz diante do “deveras”, dizendo que isto é “falar difícil”. Paciência.) 4934) O quebra-cabeças e o calidoscópio (21.4.2023) A literatura pode às vezes ser dividida em dois tipos: a literatura quebracabeças e a literatura calidoscópio. (NOTA INDISPENSÁVEL: o mesmo se aplica a cinema, teatro, quadrinhos, etc. – a qualquer arte narrativa.) O que é um quebra-cabeças, ou um puzzle, como dizem os falantes do inglês? É uma imagem subdividida em inúmeros pedacinhos que depois são misturados. Cada pedacinho corresponde rigorosamente a um trecho da imagem maior, tem seu lugar específico. Existe nele um trecho de imagem suficiente para podermos perceber que aqui ele se encaixa, ali não, e assim vamos juntando as peças que se encaixam até perceber qual é a imagem. Muitas vezes começamos a resolver o puzzle já sabendo qual é a imagem final. (É a que vem na caixa do brinquedo.) Na literatura, nem sempre sabemos. Vamos adivinhando à medida que a história avança e o significado de cada pedacinho daqueles vai sendo reavaliado. Dá trabalho, mas a gente insiste, porque sabe que há uma resposta final. Faz parte do jogo haver uma resposta final, única, inalterável, onde todas as pessoas terão forçosamente que chegar. E o que é um calidoscópio? É um tubo cilíndrico forrado de espelhos por dentro, colocados num ângulo tal que refletem uns aos outros infinitamente. Se colocamos um pequeno objeto dentro do tubo (uma bola de gude, p. ex.) e olharmos pelo visor, esse objeto vai aparecer multiplicado ao infinito nos reflexos, nos reflexos dos reflexos, e assim por diante. O passatempo do calidoscópio é colocar ali um elenco arbitrário de elementos: contas de colar, pedrinhas coloridas, tudo que for pequeno, leve, visualmente atrativo. A cada olhada pela extremidade do tubo, essas coisas aleatórias estarão formando uma imagem simétrica – a simetria é fornecida pelos espelhos. Num calidoscópio, tudo é aleatório e tudo é simétrico – uma aparente contradição. E tudo que é simétrico nos provoca uma sensação agradável. Vamos trazer para o campo da Literatura. A “literatura quebra-cabeças” é aquela que parte de uma resposta préexistente, uma resposta final que será dada ao leitor (ou descoberta por ele). Isto acontece com muita frequência, p. ex., na literatura policial, em que nos defrontamos com um crime misterioso e aparentemente inexplicável, mas juntamente com o detetive vamos reunindo as peças e descobrindo a resposta. (Neste tipo de literatura policial, puzzle e quebra-cabeças são termos de comparação frequentes.) A “literatura calidoscópio”, pelo contrário, não tem uma resposta. Ela lida com elementos aleatórios (tudo que a imaginação do autor puder conceber) e uma certa aparência de ordem, fornecida pela narrativa sequencial: “Aconteceu isto, e por causa disto aconteceu aquilo, e logo em seguida esta outra coisa, e depois desta acabou sucedendo outra...” A narrativa sequencial produz um efeito parecido com o da simetria no calidoscópio: dá uma impressão de ordem. Uma impressão de causalidade, mas isto não é obrigatório. A história não tem uma “resposta oculta” da qual nos aproximamos durante a leitura. Cada página, cada episódio é a resposta a si mesmo. Não conduz necessariamente a nada. E muitas vezes, quanto mais a gente avança, mais caótica a história vai ficando. Num livrinho que publiquei há alguns anos (A Pulp Fiction de Guimarães Rosa, João Pessoa, Ed. Marca de Fantasia, 2008) fiz esta mesma divisão, argumentando que estas duas literaturas se baseavam em protocolos (=acordos implícitos com o leitor) diferentes: o Protocolo da Resposta e o Protocolo da Pergunta. O Protocolo da Resposta equivale ao quebra-cabeças: o autor criou uma resposta final, uma resposta única e indiscutível, mas oculta. Cabe ao leitor descobrir esta resposta ao longo da leitura. O Protocolo da Pergunta não tem um objetivo final; cada passo da narrativa a conduz numa direção diferente; o prazer não está numa revelação, mas num estado constante de surpresa. As duas formas de literatura são perfeitamente legítimas. O quebracabeças está muito presente na literatura de mistério detetivesco. Está na ficção científica hard, onde há sempre um problema científico que se coloca no começo para ser resolvido no final. Está em muitas literaturas que procuram ilustrar uma princípio ideológico qualquer (uma mensagem política, uma mensagem social, etc.), colocando um problema no início e indicando uma solução inequívoca no final. Esse tipo de literatura é muito reconfortante, porque fechamos o livro com a sensação real de que uma tarefa foi cumprida, um mistério foi esclarecido, um problema complexo foi solucionado. (E mais uma vez vale a advertência: nada disto tem a ver com a qualidade literária do texto; há centenas de obras-primas indiscutíveis, e também milhões de livros péssimos, seguindo esta fórmula.) A literatura calidoscópio me parece mais frequente no que chamamos “romance absurdista”, e em certas obras de vanguarda como os romances do pessoal da OuLiPo: Harry Matthews, Georges Perec, Raymond Queneau e outros. São histórias que geralmente “não trazem uma mensagem”, não alcançam uma resolução final (nem se propõem a isso): são uma sucessão de episódios desconexos, que valem por si mesmos e pelo traçado ziguezagueante por onde conduzem o leitor. Há uma certa literatura meio lúdica onde a gente sente o autor improvisando doidices à medida que escreve, como nas Confissões de Ralfo (1975) de Sérgio Sant’Anna, em Os Morcegos Estão Comendo os Mamãos Maduros (1973) de Gramiro de Matos, em A Lua Vem da Ásia (1956) de Campos de Carvalho... E não só nela, porque se olharmos bem a prosa de Rabelais ou de Lautréamont vamos encontrar esse mesmo fluxo sem direção obrigatória, esses mesmos saltos sem pouso. Ocorre também em certa ficção popular, como a de alguns autores de pulp fiction que começavam a contar uma história sem saber onde iam parar, atraídos pela possibilidade da invenção incessante, da surpresa, da imprevisibilidade. O Surrealismo, tanto nos romances de André Breton quanto nos filmes de Luís Buñuel, elevou isso a um grau máximo. E, mais uma vez: há também grandes obras e obras péssimas escritas de acordo com este impulso. Parece existir, no entanto, pelo menos em nossa cultura ocidental e em nosso século, uma predileção pelas obras fechadas, que têm uma resposta única, que dão ao leitor a sensação tranquilizadora de uma conta matemática que não deixa resto. Acho isto muito natural, porque aprecio esse tipo de narrativa. O problema surge quando um apreciador deste tipo de narrativa abre um livro (ou assiste um filme, etc.), na ilusão de que se trata de uma obra com esta característica, e se depara com um Livro Calidoscópio (pense Raymond Roussell, R. A. Lafferty, Carlos Emilio Corrêa Lima, etc.) ou com um Filme no Protocolo da Pergunta (pense David Lynch, Raúl Ruiz, etc.). A solução seria talvez a de tentar agradar esses dois tipos exigentes de consumidor, dando-lhes algumas respostas mastigadinhas que abrandassem sua fome de solução-de-problemas, mas mantendo no ar certas interrogações mais amplas, mais implicitas, mais abstratas. Que é, no fim das contas, o que estes autores citados fazem, porque muito dificilmente iremos encontrar modelos puros do tipo A ou do tipo B. Mesmos praticantes ortodoxos da literatura puzzle, como Isaac Asimov ou Arthur C. Clarke, deixam-se seduzir, em seus romances, por certos elementos irrespondíveis, certas dízimas periódicas do pensamento que podem ser estendidas infinitamente sem fechar a conta. Ao fim e ao cabo, tude retorna àquela velha arte de comer mel-deengenho com farinha. Ficou muito molhado? Bota mais farinha. Ficou muito seco? Bota mais mel. 4935) O deserto dos tártaros (24.4.2023) Na ciência da Guerra existem incontáveis alçapões onde o indivíduo pisa quando menos espera... e é precipitado no abismo das situações sem volta. O problema filosófico mais importante não é o suicídio, como sugeriu Albert Camus, mas a guerra. Quando mais não seja, porque: 1) movimenta bilhões (talvez trilhões) de dólares sem parar, o tempo inteiro; 2) consome milhões de vidas; 3) produz mudanças irreversíveis no mundo inteiro. Seria possível conciliar os dois conceitos dizendo: “O problema filosófico mais importante é o suicídio, especialmente a guerra, que é o suicídio da espécie humana”. Ou, como disse inesquecivelmente Augusto dos Anjos, no erguer-dascortinas da Primeira Guerra Mundial: É a obsessão de ver sangue, é o instinto horrendo de subir, na ordem cósmica, descendo à irracionalidade primitiva... É a Natureza que, no seu arcano, precisa de encharcar-se em sangue humano para mostrar aos homens que está viva! (“Guerra”, 1914) Minha geração só conheceu a guerra através de livros e filmes. Cabe à minha imaginação dizer o que é a vida quando sabemos que o mundo está sendo destruído brutalmente ao nosso redor. Os romanos diziam: Si vis pacem, para bellum. Se você quer viver em paz, prepare-se para fazer a guerra. Porque (subentende-se) alguma coisa precisa ser resolvida pela violência, antes que a paz possa reinar. E também é um alerta: você tem, sim, o direito de viver em paz, desde que possa entrar em guerra assim que for necessário. Ou seja, se já tiver pessoas treinadas, tiver armamentos, planejamentos, estratégias do tipo “Se nos invadirem assim-assim, reagiremos fazendo assim-assado”. E aí entra um dos problemas da paz. Porque mesmo quem vive num país estável e numa nação pacífica não está a salvo de uma guerra que venha de fora, uma guerra de invasão. O povo é pacífico, mas precisa se preparar para o pior. Ele se prepara para o pior; gasta oceanos de dinheiro comprando armas e treinando soldados. Fica pronto para o pior. E aí... começa a ficar impaciente porque o pior está demorando demais. O mecanismo da guerra começa com a preparação, e quem se prepara para a guerra começa a ficar impaciente para que ela comece logo. É este um dos temas do filme O Deserto dos Tártaros (”Il deserto dei Tartari”, 1976) de Valerio Zurlini. Baseado num livro famoso de Dino Buzzatti (que ainda não li), ele conta o dia-a-dia de um posto avançado do exército de um país vagamente equivalente à Itália, à beira do deserto. Aqueles oficiais e soldados estão estacionados num Forte onde Judas perdeu as botas, esperando um inimigo que nunca vem. Enquanto isso, os soldados ociosos descarregam uns sobre os outros a raiva, a impaciência, a irritação, a agressividade acumulada ao longo daquela guerra que nunca acontece. Jacques Perrin é o oficial jovem que chega lá, inocente e deslocado, e aos poucos vai se enredando na teia de intrigas dos oficiais mais velhos (Giuliano Gemma, Fernando Rey, Philippe Noiret, Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Laurent Terzieff, Max von Sydow, Fernando Rabal, etc.), cada um deles um ambicioso, maluco ou criminoso em potencial. O Deserto dos Tártaros, livro e filme, é geralmente descrito como uma obra kafkeana, por mostrar uma estrutura enorme e dispendiosa que existe para nada, para esperar uma coisa que não acontece. Um exército que custa caro, financiando carreiras profissionais de gente bem preparada. Homens para quem a guerra seria preferível àquela expectativa constante de guerra. “O soldado que não guerreia” é um tema espalhado pela literatura e pelo cinema, e não creio que Dino Buzzatti e Valerio Zurlini o tenham esgotado. Ele aparece de forma arrepiante (e real) nos bombardeiros mostrados por Stanley Kubrick em Dr. Fantástico (“Dr. Strangelove”, 1966), aviões carregados de ogivas nucleares que voam sem pousar, incansáveis, como tubarões insones, sendo abastecidos em pleno ar, porque a qualquer momento a Guerra Nuclear pode ser decretada e eles precisam estar perto do alvo. Qual o tripulante que em algum momento não tem um pensamento de “Ora, foda-se, vamos acabar logo com isto!”? E os soldados peruanos enfiados nos cafundós da Amazônia no romance de Vargas Llosa Pantaleão e as Visitadoras (1973)? Eternamente em guarda, esperando alguma guerra que nunca vem, precisam ser distraídos com prostitutas. Vargas Llosa, sabiamente, desvia a neurose na direção da galhofa satânica, como diria Pedro Dinis Quaderna. Quando um homem é preparado intensivamente, profissionalmente, cientificamente, para a guerra, não se deve esperar muita coisa dele em tempo de paz. O que fazer com esses contingentes, eternamente de armas nas mãos, no alto de uma muralha, olhando o deserto ocre e escaldante, ansioso pela chegada dos tártaros que (reza a lenda) vêm para matá-lo? 4936) Sete mortes misteriosas (27.4.2023) 1 Oleg Demerov, russo, 48 anos, investidor em criptomoedas, proprietário de minas de estanho, produtor cinematográfico, caiu, jogou-se ou foi jogado da janela de seu quarto de hotel no trigésimo andar, em Santiago do Chile, onde se encontrava a passeio com sua noiva Masha Kurulenko, 22 anos. Demerov estava num ritmo alucinante de trabalho, envolvido no seu super-projeto de uma cinebiografia não-autorizada de Vladimir Putin, a ser interpretado por Daniel Craig por um cachê na ordem dos oito dígitos. Demerov acabava de chegar ao Chile depois de passar um mês entre Auckland e Dresden, acompanhando um grupo de pesquisadores, e tinha uma entrevista agendada com a CNN na semana seguinte, no Texas, na qual iria fazer importantes revelações. 2 Sylvie Froussière, 19 anos, moradora de Nantes, desapareceu na noite de seu aniversário, até seu corpo ser encontrado dias depois numa floresta nos arrabaldes da cidade. Crises histéricas de sofrimento por parte de alguns amigos e amigas, estranhamente ausentes no velório, despertaram a curiosidade da polícia, que apertou os interrogatórios até descobrir que o grupo se cotizara para pregar-lhe uma surpresa, abordando-a, todos de macacão escuro e touca ninja, numa rua deserta, vendando seus olhos, conduzindo-a a uma granja da família de um deles onde a esperavam champanhe, balões comemorativos, muita música, muitos salgadinhos na companhia de sua dúzia de amigos mais próximos, os quais perderam a cabeça quando a retiraram da van e constataram sua parada cardíaca de puro susto, sendo baldadas todas as tentativas de reanimação, dando origem a uma briga feroz entre os que advogavam a confissão total às autoridades e os que queriam ocultar o corpo como se nada tivesse acontecido. 3 Igor Ivanovich Oblamov, 71 anos, foi assassinado misteriosamente na mesma noite que seus filhos Piotr (46 anos), Lev (42 anos) e Andrei (39 anos), todos solteiros e que moravam com ele, nos arredores de Oblonska, na Geórgia meridional. Pai e filhos eram caçadores e colecionadores de armas, e foram mortos com uma metralhadora, em diferentes cômodos de “dacha” onde estavam passando o verão. Os corpos foram encontrados ao amanhecer pelo leiteiro que os servia; a única pessoa sobrevivente do massacre foi a cozinheira Nadezhda, 33 anos, que servia à família desde garota, e foi achada em estado de choque, agachada no interior de um banheiro. As autoridades locais teceram suposições de tentativa de assalto e de vingança, pois as vítimas eram conhecidas pelo seu temperamento explosivo e autoritário. A cozinheira foi levada a um hospital, onde ficou sob cuidados médicos durante duas semanas, e ao receber alta guardou suas coisas numa malinha, pegou um trem e nunca mais foi vista. 4 Ralph Kaprinski, 61 anos, dono de uma cadeia de lanchonetes em Minneapolis, preparou com cuidado a próprio suicídio após descobrir-se no estágio terminal de uma grave doença. Depois de tomar várias providências jurídicas (testamento, liquidação de dívidas, etc.), trancou-se na cabana que lhe servia de escritório, nos fundos de sua casa de fazenda, redigiu e datou de próprio punho um bilhete de despedida para sua esposa Marjorie, 60 anos, colocou na mesa à sua frente a caixa de comprimidos que iria tomar, junto com uma garrafa de seu vinho preferido, e foi encontrado pela manhã, vítima de um tiro na nuca, disparado por uma pistola que não foi encontrada na cabana, trancada pelo lado de dentro. 5 Henry Koshavik, 30 anos, publicitário numa agência em Manhattan, bolou uma surpresa para o aniversário de sua namorada, Judy Plimpton, 27 anos, a qual tinha um fetiche erótico (publicamente assumido) pelo Homem Aranha. Cedinho naquela manhã do ano de 2001, foi para a garagem de uma empresa de entregas, vestiu-se de Homem Aranha, e fez-se encerrar num contêiner vertical, do tamanho de uma cabine telefônica, o qual foi embarcado num furgão e remetido para a casa onde morava a moça, a algumas quadras dali. Foi durante este curto trajeto, e naquele mesmo trecho da cidade, que os aviões terroristas derrubaram as Torres Gêmeas, espalhando o caos e cobrindo de poeira e de detritos inúmeras ruas e centenas de veículos, inclusive o tal furgão, cujo motorista morreu na hora. O veículo permaneceu soterrado e dias depois foi removido e rebocado, sem maiores exames, para um depósito de emergência situado em Staten Island, onde uma intrigante descoberta está à espera dos investigadores de uma década futura. 6 Funcionários de um hotel em Harrogate (Yorkshire), chamaram a polícia depois de ouvir disparos num quarto recém-ocupado. Arrombada a porta, foram encontrados três corpos: Stephen Miller (41 anos), Samson Duncalf (35 anos) e Annabelle Ridgeway (40 anos). Foi comprovado, por vários depoimentos, que Miller e Ridgeway moravam na cidade e tinham um caso amoroso há alguns anos, apesar de não viverem juntos; outras testemunhas garantiram que Samson Duncalf, que morava em Londres, vinha nos últimos meses encontrando-se às escondidas com ela. Os três chegaram juntos ao hotel, sem bagagem, pouco depois do meio-dia, e três horas depois ouviram-se os tiros. Pela posição dos corpos e pelo exame dos ferimentos, foi estabelecido que os três estavam sentados no chão, cada um com uma arma de fogo (Miller tinha uma pistola automática, os outros tinham revólveres) e dispararam simultaneamente uns sobre os outros, na cabeça: Miller acertou Duncalf, este acertou Ridgeway, e ela atingiu Miller. O Inspetor Pettinger, da polícia local, declarou aos repórteres: “Tudo sugere tratar-se de um pacto de suicídio, a três, planejado e executado com uma mistura de desespero e frieza. E cada um deles com absoluta confiança de que os outros dois fariam o que foi combinado”. 7 No terceiro mês do terceiro Tenwa, na corte do Lorde Wakimodo, em Yedo, o seu principal samurai, Yamasuké, apareceu certo dia com um ar transtornado, e ajoelhando-se diante dos seu lorde anunciou que tinha cometido um crime inominável e que por isso devia praticar o sepukku ou haraquiri, o suicídio ritual. Foi grande a comoção na casa nobre e o espanto do lorde, mas ninguém conseguiu arrancar de Yamasuké qualquer informação sobre a baixeza ou o crime bestial que cometera. Depois de um dia inteiro de discussões, o lorde curvou-se aos imperativos da honra, e os preparativos começaram a ser feitos no pátio, para a cerimônia na manhã seguinte. Yamasuké pediu a seu wakatö (escudeiro), Yokushi, que o assistisse nos procedimentos, como seu kaishakunin, e cortasse sua cabeça, conforme o costume, no momento adequado. Pela manhã, estavam todos os membros da casa nobre prontos para assistir o ritual. Yamasuké, agindo como que num sonho, fez as abluções e os demais preparativos e sentou-se na posição tradicional. Quando empunhou a tantö e se preparou para o golpe, houve no céu um relâmpago fortíssimo que cegou momentaneamente todos os presentes, seguido por alguns segundos de escuridão total e de um trovão ensurdecedor, que fez a casa estremecer. Quando todos se recuperaram do susto e puderam enxergar novamente, perceberam horrorizados que Yokushi, o escudeiro, estava caído sobre a própria espada que empunhava instantes atrás, morto; e que no grupo dos assistentes estava também caída no chão, lívida e morta, a jovem e bela esposa de Yamasuké. Quanto a este, pareceu emergir de um pesadelo, saltou, ficou de pé horrorizado e pôs-se a perguntar a todos o que estava acontecendo. As crônicas da época registram apenas que depois desse dia Yamasuké raspou a cabeça e tornou-se monge andarilho. 4937) As chamadas telefônicas de Roberto Bolaño (30.4.2023) (Roberto Bolaño) A literatura de Roberto Bolaño (1953-2003) tem uma aparente facilidade, porque sua escolha de palavras, de frases, de formato de discurso, é sempre a escolha visando à solução mais fluida, mais imediatamente legível. Numa entrevista à televisão (no YouTube) ele afirma que seus livros têm 600 páginas mas teoricamente poderiam ser lidos de uma só “estirada”. Não é exagero. Essa opção faz, sem dúvida, muita gente desdenhar do seu estilo, porque é sempre forte no meio literário a corrente que privilegia a frase trabalhada, a palavra surpreendente, o discurso que de tão alusivo chega a ser enigmático. Ou seja, a prosa de Guimarães Rosa, de Osman Lins, Nélida Piñon, Carlos Emílio Corrêa Lima. Isaac Asimov criou uma dualidade famosa: a prosa-vidraça (que é transparente, discreta, quase invisível) e a prosa-vitral (colorida, decorativa, que vale por si mesma, e não pelo que está além de si). Bolaño tem uma prosavidraça, das que parecem mostrar a ação da história sem interferir sobre ela. (Sabemos que é a prosa quem cria essa “ação”; mas no instante da leitura a ação flui tão cristalinamente que esquecemos esta verdade básica.) Estou terminando a leitura da coletânea de contos Llamadas telefónicas (1997), em que o chileno recorre o tempo inteiro a essa posa que para alguns é meramente denotativa, jornalística, pouco poética, usando palavras comuns e parecendo mais descrever do que recriar, transfigurar. No plano do vocábulo e da frase a literatura de Bolaño é o contrário da que Guimarães Rosa defendia. Rosa queria uma briga permanente com a palavra, recusando o termo habitual e tentando interferir nele, ou então substituílo por um equivalente capaz de produzir estranhamento ou surpresa. No entanto, essa prosa invisível, nos contos do chileno, está a serviço de uma complexa dramaturgia de personagens e situações. Com linhas simples, ele produz um desenho complexo. Estruturas barrocas, onde se cruzam e se interferem os destinos e as motivações dos seus personagens. A complexidade de Bolaño não está na frase, está um degrau mais acima. A ficção de Bolaño pode ser vista como (entre outras coisas) uma coreografia dos fluxos individuais dos personagens. É no plano dos personagens (não no plano do vocábulo) que Bolaño desafia a atenção e a memória do leitor, e libera sua imaginação. Ele é desses autores capazes de “tirar da cartola”, dezenas, centenas, talvez milhares de figurantes, cada qual com rosto, biografia, alma, personalidade, idiossincrasias e mistérios. Durante algumas linhas ou algumas páginas serão protagonistas dos episódios mais variados – coisas que estão acontecendo na história em si, ou que alguém meramente conta para outra pessoa no ônibus, num passeio, numa chamada telefônica. Episódios que podem ser trágicos, engraçados, violentos, patéticos, emotivos, enigmáticos, sórdidos... É uma exuberância barroca de situações, algumas banais, outras excêntricas, algumas beirando o surrealismo. Todas verossímeis, toda dolorosamente reais no mundo em que a história acontece. Bolaño tem um olhar empático para contemplar a comédia humana. Constrói seus personagens com traços rápidos e precisos, revelando um lado essencial de seu método: uma curiosidade atenta e lúcida pelas pessoas de carne e osso, seus sentimentos, crenças, expectativas. Uma empatia que não dispensa a visão crítica, o humor e mesmo o sarcasmo, onde ele se aplica. Uma vivência de pele curtida. O autor viajou muito, e conheceu vários países sem muito dinheiro no bolso, o que tem sempre seu lado educativo. Sua experiência internacional não é a de um jovem europeu fazendo sua “grand tour” de acesso à vida adulta; é a de um auto-exilado que sobrevive como pode, trabalha no que aparecer, e se diverte em qualquer brecha que surgir. Essa enorme “legibilidade” do texto de Bolaño não se perde quando ele injeta maior dose de projeção subjetiva, como se dá com a narração, na primeira pessoa, do conto “Joanna Silvestri”, a história de uma atriz pornô e sua paixão por um colega de membro desmedido; ou em “Detetives”, o conto só-diálogo entre dois policiais comentando o reencontro com um ex-colega de esquerda, agora preso na cadeia (um episódio da juventude do próprio autor, que fugiu da prisão no Chile ajudado por um ex-colega de escola). Bolaño escreveu A Literatura Nazista nas Américas (1996), onde conta as biografias fictícias de escritores de direita, dos matizes mais variados, e em muitos casos consegue retratar de maneira não-hostil, mas analítica, esses autores, que podem ser fascistas cruéis, e às vezes são meros desorientados, carreiristas, oportunistas sem talento, que querem apenas “aproveitar a maré” e se refugiar à sombra do poder. Comentado aqui: https://mundofantasmo.blogspot.com/2013/02/3113-literatura-nazista1922013.html Ele não nega sua simpatia aos medíocres como “Henri Simon Leprince” (em Llamadas Telefónicas), um escritor francês de terceira categoria que arrisca a vida, nos anos da Resistência Francesa, para salvar a vida de escritores melhores do que ele, que não dão muita atenção a esse indivíduo “modesto e repugnante”. (Bolaño jovem) Bolaño é da minha geração: era três anos mais novo do que eu. São muitas as infuências que se compartilha quando se tem a mesma idade e os mesmos gostos. Seus personagens leem Borges, Albert Camus, Lovecraft, William Carlos Williams; assistem filmes de Antonioni e de John Carpenter. Leem a mesma ficção científica que eu li (Fritz Leiber, Philip K. Dick, Ursula LeGuin) – e o autor dedicou a este aspecto um livro inteiro, O Espírito da Ficção Científica (2016): https://mundofantasmo.blogspot.com/2017/04/4228-roberto-bolano-eficcao-cientifica.html Seus personagens cometem erros, tomam decisões irracionais, acreditam em miragens, brigam por bobagens, mas são o tempo inteiro homens e mulheres verossímeis, consistentes, além de imprevisíveis. Bolaño, o narrador, o mamulengueiro desse imenso cortejo de criaturinhas, é às vezes um pouco como o Tony do conto “Vida de Anne Moore”: Tony jamais se irritava, jamais discutia, como se considerasse absolutamente inútil forçar outra pessoa a compartilhar seu ponto de vista, como se acreditasse que todas as pessoas estão extraviadas e que é muito pretensioso um extraviado tentar ensinar a outro a melhor maneira de achar o caminho. Um caminho que não apenas ninguém conhece, mas que provavelmente não existe. Muitos destes contos têm como protagonista direto ou subentendido o poeta Arturo Belano, alter-ego do autor, um dos protagonistas de Os Detetives Selvagens (1998). Muitos dos seus personagens são escritores: profissionais, amadores, famosos, obscuros. Muitos escrevem diários privados, poemas que ninguém lê, romances que ficam pela metade. Curiosamente, os personagensescritores de Bolaño não são pretexto para longas teorias estilísticas ou discussões existenciais sobre o “fazer literário”. Detetives Selvagens tem como figuras centrais dois anarquistas de vanguarda, Belano e Ulises Lima; durante o livro inteiro não vemos os poemas escritos por eles. Vemos somente a vida, a miragem, a busca, a juventude que não volta, o caminho que talvez não exista. 4938) O Cavaleiro Não-Existente (3.5.2023) Ítalo Calvino é capaz de juntar num mesmo texto a manipulação pósmoderna dos instrumentos narrativos e a capacidade de empregá-los para contar uma história à moda antiga. Nem todo mundo consegue. Um problema da escritura de vanguarda, a escritura que questiona explicitamente os instrumentos que usa, é que o resultado é quase insignificante. O texto fica sendo só experimentação e questionamento. O leitor acostumado a ler histórias pensa consigo: “Sim, entendi o questionamento. E daí?...” Por outro lado, como dizia Bernard Shaw (se não me engano) sobre artes plásticas: “As pessoas que não gostam da Arte Moderna também não suportam mais a arte à moda antiga.” Eu estou um pouco nessa zona crepuscular, porque há muitos autores de vanguarda que eu admiro, leio, comento, mas não tenho prazer em ler. O texto, mesmo apresentando-se como um romance, conto, etc., é só uma reflexão sobre o Texto. Um experimento necessário, é claro, mas se a literatura inteira fosse daquele jeito eu não leria muitos livros. Calvino faz experiências com as técnicas narrativas, mas consegue contar histórias que são alternadamente divertidas, reflexivas, desconcertantes, humanas, absurdas, reveladoras... Ou seja, cumprem a mesma multiplicidade de funções que cumpriam as histórias escritas nos anos 1800 e 1900. Um bom exemplo disto é a trilogia que estou lendo, Nossos Ancestrais, que inclui os livros O Visconde Partido ao Meio (1952), O Barão nas Árvores (1957) e O Cavaleiro Não-Existente (1959). Farei alguns comentários sobre este último. Li O Cavaleiro Não-Existente numa tradução em inglês (“The Non-Existent Knight”, Picador, trad. Archibald Colquhon), onde percebi que os nomes próprios têm grafia diferente do original (Rambaldo torna-se Raimbaud, Gurdulù vira Gurduloo, etc.). Em primeiro lugar, quando Calvino usa protagonistas do tipo visconde/barão/cavaleiro ele está pedindo emprestados não apenas personagens-símbolos dos velhos romances de cavalaria, mas também os nobres que são a encarnação daquela Europa refinada, aristocrática, guerreira, grandiloquente. E ele faz com esses personagens o mesmo que Cervantes fez com seu Dom Quixote. Uma desconstrução bem-humorada do cavalheirismo, dos códigos de nobreza, da valentia, das obsessões genealógicas. Depois, as confusões em que os personagens se metem parecem mais reais do que os ideais que defendem. Calvino tem (como Fellini, como Pasolini) a intuição correta e vivida de como as pessoas comuns se comportam em variadas situações. A batalha contra os mouros pode ser uma mera abstração, sem nenhuma autenticidade histórica, como num folheto de cordel ou num desenho animado. Mas os dramas individuais soam verdadeiros. Como já vi um leitor dizer uma vez: “O livro é bom porque quando o personagem tem um problema a gente se aperreia.” Nestas fábulas cavalarianas, Calvino pega um personagem meio absurdo e tece em torno dele e de suas ações um rosário de histórias menores e de personagens impagáveis. O “cavaleiro não-existente” é Sir Agilulfo, que não passa de uma armadura vazia mas que pensa, fala, age, discute, entra em combate, etc. Vale como uma radicalização daquele personagem de Machado de Assis (“O Espelho”) que só se via no espelho quando vestia o uniforme militar. No livro, entretanto, Agilulfo chama-se “Agilulfo Emo Bertrandino dei Guildiverni e degli Altri di Corbentraz e Sura, cavaliere di Selimpia Citeriore e Fez”, ou seja, é um representante legítimo da meritocracia hereditária do mundo feudal e monárquico. “Tem que respeitar!...” Agilulfo é antipatizado no exército de Carlos Magno. Os outros cavaleiros o aceitam porque ele exerce a indispensável e chata função de organizador de logística do exército, supervisionando comidas, dormidas, etc. É um fanático da organização e da informação. Numa cena hilária, uma viúva bonitona consegue levá-lo para a alcova, pensando tratar-se de um homem como os outros. Agilulfo não quer despir a armadura e revelar-se inexistente, e no mais puro espírito nerd passa a noite ensinando longamente à beldade as técnicas corretas de como acender a lareira, como forrar a cama, etc., e nada acontece. A história tem momentos que lembram Dom Quixote, outros que lembram Monty Python e o Cálice Sagrado. Sem ser propriamente um romance humorístico, ele provoca sorrisos pela justaposição inesperada entre emoções e ambientes que não combinam entre si, ou entre valores morais e necessidades práticas, ou entre a fantasia afetiva do personagem e o que de fato está acontecendo ao seu redor. Todos nós achamos hoje em dia que o povo medieval vivia numa espécie de delírio coletivo, acreditando em conceitos invisíveis e não-existentes, morrendo e matando por causa deles. Eles pensariam o mesmo de nós. E por isso a sátira de Calvino tem dois gumes. O autor brinca com instrumentos literários como a voz narrativa. Há um narrador invisível contando esta história das aventuras do inexistente Agilulfo, do jovem escudeiro Raimbaud, do brutal e desorientado Gurduloo, e outros. O capítulo 1 começa de forma tradicional: Por baixo dos parapeitos vermelhos das muralhas de Paris, o exército da França estava reunido. Carlos Magno preparava-se para passar em revista os seus paladinos. Eles já estavam à espera há mais de três horas... (trad. BT) É uma típica história contada por um narrador onisciente. Ele descreve os fatos como um Deus que lá do alto vê não apenas os grandes acontecimentos, mas sabe das emoções mais íntimas de cada personagem, e até de coisas que eles próprios não sabem. A narração prossegue assim, bem normal, até que o Capítulo 4 se inicia com uma longa reflexão sobre os conceitos de existir e não-existir, e a certa altura lemos: Eu, que conto esta história, sou a Irmã Teodora, freira da ordem de Santa Columba. Escrevo de um convento, baseando-me em velhos papéis descobertos, ou relatos escutados em nosso parlatório, ou ainda em raros depoimentos de testemunhas. Nós, freiras, temos raras oportunidades de conversar com soldados; portanto, aquilo que eu não sei sou obrigada a imaginar, e digam-me, que outro recurso eu teria? Nem toda esta história está clara para mim. Tenho que implorar indulgência; nós, moças do campo, mesmo de sangue nobre, vivemos vidas reclusas, em castelos e conventos afastados; e a não ser por cerimônias religiosas, tríduos, novenas, jardinagem, plantio, cuidados com a vindima, punições pelo chicote, escravidão, incestos, incêndios, enforcamentos, invasões, saques, estupros e epidemias, somos pessoas com pouca experiência do mundo. (trad. BT) Deste momento em diante, o livro ganha outra dimensão, porque em vez do onisciente Calvino quem está nos contando a história é a desabusada “Irmã Teodora”, que toma diante de nós liberdades narrativas estonteantes. Um dos mandamentos básicos da Arte da Narrativa é: faça o leitor (espectador, ouvinte, etc.) acreditar nos personagens, interessar-se por eles, preocupar-se com o que lhes acontece. Os livros que permanecem costumam ter essa capacidade. Isto está presente em obras como Em Busca do Tempo Perdido de Proust, O Nome da Rosa de Umberto Eco, Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa... E também em best-sellers formulaicos, como os livros de espionagem de Ian Fleming ou as novelas de amor de Barbara Cartland. As pessoas parecem reais. O que acontece com elas, mirabolante, banal, absurdo, nos interessa. Isto não quer dizer que não haja grandes obras literárias sem estas características. A literatura, no entanto, é um diálogo, ou melhor, uma discussão coletiva entre autores e leitores, onde têm mais chance de marcar presença as obras que (de acordo com a antiga e quase inatingível fórmula) usam uma linguagem interessante para contar coisas interessantes que acontecem com criaturas interessantes. 4939) Nick Cave e a coroação do Rei Charles (6.5.2023) No próximo sábado (estou escrevendo na 4ª. feira, dia 3) o Rei Charles da Inglaterra vai ser coroado, e o Reino Unido fervilha de piadas, memes, debates, fofocas. Para isso servem as monarquias, afinal – para tirar dinheiro dos turistas, e para aquecer as fantasias-de-poder das multidões. A monarquia é puro espetáculo. O Império brasileiro, por exemplo, teve um imperador playboy, pegador e voluntarioso. Foi substituído pelo filho – intelectual, conciliador, severo, mas que mesmo assim não abominava o espetáculo. O Baile da Ilha Fiscal não foi apenas o símbolo do fim de uma era, foi o adeus à pompa e a frivolidade do reino para dar lugar à rudeza e ao suor da caserna. E os dois não estão assim tão distantes um do outro, porque as monarquias são construídas no fio das espadas e no fundo das alcovas. Já dizia o impagável Pedro Dinis Quaderna, de Ariano Suassuna, no Romance da Pedra do Reino (1971): “Pode dizer, Excelência! Eu absolutamente não me incomodo mais de ser filho-da-puta! Ou melhor, de ser neto-da-puta, porque minha Mãe, coitada, é que era filha-da-puta, filha bastarda do Barão do Cariri e portanto irmã por vias travessas de Dom Pedro Sebastião Garcia-Barretto. Antes, eu ficava danado da vida quando alguém falava nessa filho-da-putice nossa. Mas lá um dia, numa discussão, Samuel declarou que isso de bastardia não tem a menor importância nessas coisas de fidalguia e linhagens reais, tanto assim que os Braganças, descendentes de Dom João I e Nuno Álvares Pereira, são várias vezes bastardos e netos de padre! Depois daí, fiquei descansado e perdi a vergonha!” (Folheto 53) Satirizar a espetacularização do poder e a glamurização da banalidade é um dos esportes favoritos de escritores, intelectuais, artistas em geral. E quando o roqueiro Nick Cave, um dos expoentes do dark rock de língua inglesa, foi anunciado dias atrás como um dos convidados para a coroação de Charles, houve no meio roqueiro um certo movimento sísmico de incredulidade e deboche. Nick Cave distribui periodicamente uma newsletter, The Red Hand Files, onde troca idéias com seus admiradores, responde perguntas, discute questões propostas. E no número 235, já agora nos primeiros dias de maio, ele reproduziu as mensagens de espanto de alguns fãs: -- Que diabos, você vai pra coroação do Rei? (Jon) -- Fiquei sabendo que você vai para a coroação, fazendo parte da delegação da Austrália. Você é monarquista? Por que está indo? (Adrian) -- A co-ro-a-ção? Fala sério. (Roger) -- Nick Cave vai à coroação? O que será que o jovem Nick Cave ia pensar disto?! (Matt) Com a sisudez e a franqueza de sempre, o roqueiro respondeu (tradução minha): Caros John, Adrian, Roger e Matt: Vou dar uma resposta breve, porque ainda estou escolhendo uma roupa para usar na Coroação. Não sou monarquista, nem sou roialista [Nota do tradutor: neologismo português recente], como também, por falar nisto, não sou o mais ardente dos republicanos. O que também não sou é espetacularmente desinteressado pelo mundo e pela maneira como ele funciona; não sou tão ideologicamente sequestrado nem tão ranzinza a ponto de recusar um convite para (talvez) o evento histórico mais importante no Reino Unido em nossa geração. Não apenas o mais importante, mas o mais estranho, o mais bizarro. Encontrei a falecida Rainha uma vez, no Palácio de Buckingham, num evento dedicado aos “Australianos Mais Promissores Morando no Reino Unido” (ou coisa parecida). Foi uma ocasião meio canhestra, mas a Rainha em pessoa, vestida num conjunto cor de salmão, parecia quase extraterrestre, e era a mulher mais carismática que conheci. Talvez fosse a iluminação, mas ela de fato emitia uma espécie de brilho. Quando contei a minha mãe – a qual tinha a mesma idade da Rainha e, como ela, morreu com mais de 90 anos – a respeito dessa ocasião, seus velhos olhos se encheram de lágrimas. Quando acompanhei o funeral da Rainha pela TV no ano passado percebi, para meu próprio pasmo, que também eu estava chorando quando retiraram do ataúde a coroa, o orbe e o cetro, e o abaixaram para a abertura sob o piso da catedral de São Jorge. Estou tentando dizer a vocês que, para além do interminável mas necessário debate sobre a abolição da monarquia, tenho um inexplicável vínculo emotivo com a família real – sua estranheza, e a natureza profundamente excêntrica de todo esse fenômeno, o qual reflete com perfeição a bizarrice inigualável da próprio Grã-Bretanha. Eu simplesmente sinto uma atração por esse tipo de coisa – tudo que é bizarro, estranho, extraordinariamente espetacular, tudo que nos deixa pasmos. Quanto ao que o jovem Nick Cave iria pensar... bem, o jovem Nick Cave era, com todo o respeito ao jovem Nick Cave, jovem, e como muitos outros jovens, era ligeiramente insano, e eu procuro ter uma certa moderação ao usálo como parâmetro para o que eu devo ou não devo fazer. Mas era um cara legal, eu tenho que admitir. Era insano, mas era um cara legal. Com tudo isto em mente, estou me preparando para ir à Coroação. Acho que vou de terno. Com amor, Nick Sou um admirador de Nick Cave, um dos grandes poetas do rock em sua geração. Ele é uma espécie de Edgar Allan Poe com auto-controle. Tem a fagulha demoníaca, a vulnerabilidade angelical, o cinismo neo-urbano, o romantismo temperado pelo senso da fatalidade, a influência má dos signos do Zodíaco. E é australiano, ou seja, vem de uma espécie de Brasil-do-impériobritânico, um país posto de pé com o muque de degredados, bandidos, fanáticos, aventureiros, religiosos de maus costumes, fidalgos de má reputação. Pior que o Brasil, aliás, porque o Brasil pelo menos tem amazônias inteiras para vender. Teve madeira, ouro, açúcar, diamantes; hoje tem petróleo e floresta. Já a Austrália (posso estar sendo injusto, claro) é um deserto de sal, que o ser humano tenta comer pelas beiradas e ainda não conseguiu. Bruce Chatwin, em The Songlines ("O Rastro dos Cantos", Companhia das Letras, 1987), mostra a Austrália como uma mistura de sítio arqueológico e solo sagrado ao ar livre, invadido e depredado aos poucos. Werner Herzog, amigo de Chatwin, glosou o mesmo mote em filmes como Nomad (2019) e Onde Sonham as Formigas Verdes (1984). Neste último, ele mostra o confronto às vezes violento entre os aborígines australianos, defensores de seus sítios religiosos, e as construtoras e mineradoras européias, vindas para passar o trator, a dinamite e a escavadeira naquilo tudo. Em algumas cenas de tribunal, discutem-se os respectivos direitos, e os aborígines precisam vestir ternos para defender seu território diante de um juiz britânico. “Acho que vou de terno” (Nick Cave) (Roy Marika e Wandjuk Marika, em Onde Sonham as Formigas Verdes) Dizem que quando D. Pedro II estava exilado em Paris, no fim da vida, fez uma visita a Victor Hugo, a quem admirava muito. Os dois conversaram de maneira sisuda e cortês sobre temas literários. À saída, Hugo o tratou por “Majestade”, e D. Pedro respondeu: “Só há uma majestade aqui, e é Victor Hugo”. Wilson Martins comenta que esta resposta foi dada com mais malícia do que parece à primeira vista, mas eu, como tenho cabeça de romancista, posso imaginar que foi sincera, assim como posso imaginar o Rei Charles III apertando a mão de Nick Cave e tratando-o por “Majestade”. Depois de toda a esculhambação a que o rock britânico já submeteu a monarquia, seria uma vingançazinha divertida. (Príncipe Charles e Princesa Diana visitando Uluru (“Ayers Rock”), sítio sagrado dos aborígines australianos, 1983) 4940) Rita Lee (1947-2023) (9.5.2023) “A mais completa tradução de São Paulo”, no verso de Caetano Veloso. Eu não diria a mais completa, porque acho meio utópica a idéia de que uma parte possa representar bem o todo. Eu diria que era a idéia mais femininamente charmosa de São Paulo, pois naquele tempo eu (falo de eu-adolescente, eudezesseis anos quando ela tinha dezenove) via São Paulo como uma cidade lúgubre, cinzenta, fuliginosa, tchecoslovaca, uma espécie de 1984 dublado em português. A São Paulo terrificante do Lugar Público de José Agrippino de Paula. Rita (a Rita dos Mutantes) era luminosa, irreverente, irrequieta e dizia coisas inteligentes. Uma mistura de Janis Joplin com Gelsomina. Se o Tropicalismo daquele tempo nos parecia uma noite no circo, o número dos Mutantes já sugeria que em breve eles teriam sua lona própria e fariam turnês independentes. A voz de Rita ia desde a carícia de “Le Premier Bonheur du Jour” até o caipirês caricato de “2001” (a famosa “Astronarta libertado...”). Num dia ela aparecia vestida de noiva, no outro vestida de bruxa. “São Paulo é assim?”, pensava eu. “Se for, eu quero conhecer São Paulo.” (Só conheceria dez anos depois, mas esta é outra história.) Volto a dizer aqui algo que já falei sobre a imagem da mulher sexy. Minha geração (não falo pelas outras) foi submetida a um bombardeio de mulheres fatais do cinema, aquelas que Carlos Drummond chamava de “as sereias vulcânicas da Broadway”. Era Elizabeth Taylor, Jayne Mansfield, Rachel Welch, Kim Novak, Ursula Andress... Mulheres fatais, mulheres capazes de descarrilar uma locomotiva com um olhar. E vigorosas. Lembro de uma palestra de Antonio Callado em que ele se referia a personagens femininas “tão atemorizantes quanto uma nadadora olímpica iugoslava”. Rita Lee era o contrário disso, e se não foi a mais completa tradução de sua cidade foi a de sua época, a época das garotas de minissaia, botinhas, boné, casaco, gola olímpica, as Annas Karinas, as Jeannes Moreaus, as garotas-doapartamento-ao-lado. Jogando em cima disto, claro, a carnavalização figural dos Tropicalistas. Com ou sem fantasia, eram garotas da vida real que se comportavam (inclusive no palco) como gente. Você não imagina Marlene Dietrich dando uma topada no palco. Eu conseguia imaginar Rita Lee dando uma topada, se estabacando no chão, e levantando às gargalhadas. Os Mutantes traziam também um fio de ficção científica – a FC que nunca mais deixei de associar à capital paulistana. Ao que parece (versões divergem), o grupo tirou seu nome do livro O Império dos Mutantes (“La Mort Vivante”, Stefan Wul, 1958), que o grupo leu sob este título na edição portuguesa (a tradução brasileira se chamou “A Cadeia das 7”). Era um livro sobre clonagem, em que o DNA de uma menina é reproduzido sete vezes (por segurança, para o caso de alguma falha) em laboratório. Algo foge ao controle (ou não seria FC) e daí a pouco temos sete meninas clones, idênticas, telepáticas e (pouco a pouco) todo-poderosas. Havia nos Mutantes, talvez, essa utopia ingênua do “somos todos um só”, o famoso “I am he, as you are he, as you are me, and we are all together”. Não eram: a banda brigou, Rita foi expelida, decolou numa carreira solo, voltou arrasadoramente no fim dos anos 1970 com “Mania de Você”, ao lado de Roberto de Carvalho; e o resto é história. Um pop brasileiro com voz feminina, pegada roqueira, doçura bolerística, sarcasmo urbano, letras de quem gostava de ler. A história de Rita foi se me revelando de pouquinho, ao longo dos anos. Eu sabia desde o início que ela tinha ascendência norte-americana, e achei que “Lee” era sobrenome da família, sendo seu nome completo “Rita Lee Jones”. Nos anos 1980, já morando no Rio de Janeiro, comecei a ajudar Duncan Lindsay (“o irmão de Arto”) numa pesquisa dele sobre ex-Confederados norteamericanos que, derrotados na Guerra da Secessão, vieram morar no Brasil a partir de 1867. Entre eles, algum antepassado de Rita, cujo “Lee” não era sobrenome de família, e sim homenagem ao famoso General Lee. Segundo descobri através de Duncan, havia toda uma história de Confederados que se auto-exilaram no Brasil após a derrota, muitos indo morar na Amazônia, e outros no interior de São Paulo. Em Santa Bárbara d’Oeste, terra do pai de Rita, há um Cemitério dos Americanos. A cidade de Americana (SP), deve seu nome a essa corrente migratória. Que nos deu, afinal, a “ovelha negra” da família Jones. É mais um fio-de-aranha da História, daqueles difíceis de enxergar e difíceis de romper, ligando a guerra de libertação dos escravos norte-americanos e a formação do rock brasileiro. Como diziam os dialéticos, tudo se relaciona, tudo está interligado. Isto não quer dizer que tudo seja causa de tudo, mas que tudo é efeito-conjunto de um tecido, de um entrecruzamento de presenças. Quando algum artista morre, os coleguinhas de imprensa sempre vêm nos perguntar “qual é o legado que Fulana de Tal nos deixa”. O legado somos nós, companheiro. O legado de uma pessoa como Rita Lee é a pessoa que eu sou hoje, e não desmereço o legado dela dizendo que há mil outros legados, além do dela, teclando estas palavras. Somos um tecido, um texto, fios entrecruzados por onde passa uma corrente de alguns ampères. E o mais interessante é que, mesmo que a partir de hoje um desses fios não esteja mais aqui, a corrente vai continuar passando. Por que? Não sei, só sei que a gente faz amor por telepatia. (ilustração by Fraga) 4941) Minhas Canções: "Chegada" (12.5.2023) Já escrevi aqui neste Mundo Fantasmo alguns artigos tentando explicar minha concepção do que é rock. Não me refiro apenas ao rock-and-roll ingênuo e cinquentão (=dos anos 50) de Bill Haley e Seus Cometas, mas a tudo que aconteceu depois dele, e de Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, The Who, Led Zeppelin, Sex Pistols, The Clash... Et coetera. O rock, para mim, é primeiro que tudo uma junção de um elemento branco (a tecnologia eletro-eletrônica) com um elemento negro (a pulsação rítmica). Depois, vêm muito mais coisas; mas eu acho que a base é isso aí. Ou, como já escrevi algures: O rock norte-americano é a eletrificação das formas de música rural brotadas nos próprios EUA: primeiro, o blues dos negros do Mississipi; depois, as canções “country” dos vaqueiros do Oeste, a música “bluegrass” de raiz (com seus vertiginosos solos de banjo e de rabeca), a tradição de música “gospel” das igrejas batistas da população negra urbana. Do ponto de vista técnico, as palavras-chave são eletrificação e reprodução-ampliada, porque uma coisa é você tocar um ritmo bem sacudido de forma acústica, alcançando uma platéia de algumas centenas de pessoas, e outra coisa é você tocar o mesmo ritmo sacudido de forma eletrificada, alcançando centenas de milhares – em Woodstock, na Praia de Copacabana, num desses mega-festivais que rolam por aí. Aqui no Brasil, um dos grandes saltos musicais que minha geração presenciou foi o crescimento de uma música eletrificada, feita no Nordeste, tendo por base os ritmos populares como o maracatu, o baião, o cavalo marinho, o coco e por aí vai. É o nosso rock. É a nossa eletrificação do ancestral. Chamamos de “rock brasileiro” a música feita pelas jovens bandas brasileiras como resposta ao rock estrangeiro: dos Mutantes aos Paralamas do Sucesso, de Renato e Seus Blue Caps à Blitz, da Bolha à Legião Urbana, todos pegaram o som estrangeiro e fizeram com ele o que cabia no seu balanço. Esse Rock-BR (no qual incluo a chamada Jovem Guarda) é uma resposta nossa à síntese norte-americana, injetando nela elementos próprios. Poderíamos também chamar de “rock brasileiro”, com certa propriedade, essa eletrificação dos ritmos populares. É a nossa síntese. Não somente o maracatu e o coco, mas o samba também. Só que se alguém vai falar de rock brasileiro não vai pensar em samba-rock, não vai pensar em Jorge Ben em primeiro lugar. Anos atrás, em 2003, fui procurado pela produção do Maracatu Várzea do Capibaribe, do Recife, pedindo uma música para o disco novo. Mandei esta canção, que foi gravada pelo cantor Abissal, acompanhado pelo Maracatu e pela rabeca de outro parceiro, Siba. O CD é Abissal e os Caboclos Envenenados, e dele participam outros talentos como Elias Paulino, Silvério Pessoa, Mestre Barachinha, etc. O maracatu eletrificado é uma das maneiras que encontramos para inventar nosso próprio rock. Quando Chico Science e a Nação Zumbi começaram a tocar no Brasil inteiro, Ariano Suassuna era Secretário de Cultura, e isso gerou uma infinidade de discussões sobre as afinidades e as desafinidades entre o Movimento Armorial e o Mangue Beat. Ariano, que admirava a pessoa e o talento de Chico, dizia: “Ele mistura o rock com o maracatu, e acha que com isso está valorizando o maracatu, mas está valorizando é o rock, que é muito inferior”. Não há muito o que discutir, pois acho normal alguém não gostar de rock, ou não gostar de maracatu, e quem diz isso sou eu, que gosto dos dois. O maracatu não tem raízes em Campina Grande. Meu DNA de infância traz a sanfona do forró, a viola dos repentistas, os ganzás dos emboladores; traz o bolero de Nelson Gonçalves e Altemar Dutra; traz o samba carioca de Miltinho e Roberto Silva e o samba paulista de Adoniran Barbosa e dos Demônios da Garoa, e traz até o rock – porque a minha infância foi carimbada pelo que tocava em rádio, naqueles tempos pré-música-na-televisão. O maracatu me chegou mais tarde, uma referência distante que vinha se aproximando como um exército de tambores em marcha. Através dos meus parceiros recifenses, como Zeh Rocha, Lenine, Lula Queiroga e outros, aprendi a duras penas a reproduzir a quebrada do bombo – e acabei compondo alguns maracatus, dos quais este aqui foi gravado, e vale como amostra. *********** https://www.youtube.com/watch?v=OxByri35iBQ&ab_channel=ThiagoQu eiroz CHEGADA (Letra e música: BT) Gravação: Abissal & Várzea do Capibaribe São tambores de chamada motores da força e luz jogando eletricidade nos terreiros. Guitarras de feiticeiros vibrando embaixo do som da avenida que surgiu de madrugada. São cabeças coroadas de fumaça de vulcão e uns olhos de lua cheia na lagoa. É um milhão de pessoas no mesmo raio de sol e o baque dos pés no chão da noite inteira. Chegou na tela do mundo chegou na letra da mão chegou no colo da fera chegou no X da paixão; chegou no brilho da faca chegou no lixo da feira chegou no arranco do grito chegou no chão da ladeira; chegou um rosto e um nome nascendo dentro de mim e continuando assim a vida inteira. (Maracatu Real Várzea do Capibaribe) 4942) O erro traz uma idéia (15.5.2023) (Brian Eno) O erro é um parceiro, não um inimigo. O músico Brian Eno já preconizava: “Valorize seu erro, trate-o como se fosse uma intenção oculta”. Estou eu agora à noite procurando um livro qualquer em minhas estantes. Olhando numa prateleira lá no alto, avisto uma lombada com o título O Diário da Ratazana. Muitos septuagenários se queixam da miopia crescente. Eu não me queixo. Para mim, é uma janela-aberta-número-dois, trazendo-me idéias que não me ocorreriam de outro modo. Porque ao estender o braço e puxar o volume misterioso... é apenas O Desatino da Rapaziada, o saboroso memorial histórico de Humberto Werneck sobre a literatura mineira da primeira banda do século passado. Aqui neste blog eu volto de vez em quando a este tema: uma frase é entendida erradamente, e acaba resultando numa frase completamente outra. Um exercício constante, praticado desde os meus dezoito anos, é o do “erro proposital”. Produzir uma frase surrealista a partir da sonoridade ou da grafia de uma frase banal. Inspiração de André Breton e de Raymond Roussel. Pego, por exemplo, a frase inicial deste artigo, “o erro é um parceiro”. Basta uma pequena torção para transformá-la em “o Eros é um pacote”. Juro: nunca pensei nessa frase antes. E ela significa o quê? Bem, freudianamente poderíamos dizer: o impulso erótico humano não é um mero detalhe, é um pacote inteiro. Ou você aceita seu erotismo (sua sexualidade pessoal) com tudo que ela inclui, necessita e acarreta... ou então vá pastar. Posso fazer o mesmo com uma frase de logo depois: “o músico Brian Eno já preconizava”. Isto pode me render o quê? Vejamos: “o mágico Billy The Kid já procrastinava”. Sim, posso deixá-la assim, meio surrealista, meio selvagem de sentido. Mas posso escavacar um pouco em busca de algum grão de história. Digamos um mágico de salão, como no filme O Grande Truque (“The Prestige”), de Christopher Nolan. Seu grande número é vestir-se de cowboy e duelar com um assistente em pleno palco. O truque é encenar esse duelo-defaroeste e na hora de sacar as armas os dois sacam igual, atiram igual... e as balas se chocam em pleno ar! Terminado o número, o espectador mais incrédulo é chamado ao palco para recolher as duas balas, amassadas uma de encontro à outra, e ainda quentes do disparo. Todo o número é filmado do palco, de vários ângulos, e depois a imagem é passada em câmara lenta no telão: vemos as balas se chocando, tendo ao fundo a platéia ali presente (isto elimina a hipótese de imagem pré-gravada). Nosso Mágico, entretanto, está passando por uma crise. Digamos que (o leitor sempre aprecia um pequeno e confortável elemento de melodrama) justamente esse seu Assistente está tendo um caso com a esposa dele, e o Mágico é ciumentíssimo, possessivo, feroz. Ao apresentar no palco esse número, o Mágico o faz preceder por um black-out no teatro, e as luzes voltam a se acender muito lentamente, ao som de uma trilha sonora bem morricone, com guitarras plangentes, vigorosos assobios. Ele e o Assistente emergem de extremos opostos do palco, vestidos a caráter. O Mágico costuma, nas apresentações rotineiras, contar ali a história de um homem cujos pais foram mortos por um pistoleiro. O menino cresceu treinando a arte do saque, da pontaria, do disparo. E agora, depois de adulto, ele finalmente localizou, escondido num rancho em Abilene ou em Tombstone, o assassino de sua família. E aí ocorre o confronto entre os dois, separados por uns dez metros de palco, aquele silêncio insuportável (a música é bruscamente cortada) enquanto os dois se encaram, olho no olho. Antes, o Mágico mencionou meio casualmente à platéia a regra básica do duelo do faroeste: se “A” sacar primeiro e matar “B”, é condenado à forca por homicídio; mas se “A” sacar primeiro (configurando a agressão) e “B” sacar depois e conseguir matá-lo, isto será visto como legítima defesa. A arte, portanto, está em deixar o outro sacar primeiro, sacar depois, acertar antes. Ora; o número do Mágico é famoso na cidade, a imprensa já derramou rios de tinta a respeito. E os tablóides de fofocas têm divulgado, insistentemente, de umas semanas para cá, os passeios aparentemente inocentes onde as câmeras registram os abraços, os sorrisos, e os momentos olho-no-olho entre o Assistente e a Esposa do Mágico. Todo mundo já sabe: o Mágico está sabendo. E todo mundo ali comprou ingresso excitado, tenso, na expectativa do que pode acontecer. Do que certamente vai acontecer. Por isso, nessa noite de sábado, com o teatro botando gente pelo ladrão, o Mágico inicia o número (enquanto o Assistente, paramentado de pistoleiro, já o aguarda na outra ponta do palco) recontando o texto-padrão da morte dos pais, etc., mas nesta noite ele adiciona um elemento a mais. Ele afirma: esse vilão não apenas matou seus pais, mas roubou o amor da sua mulher, da única paixão de sua vida. E começa a descrever a sordidez desse adultério por baixo de sete capas, dessa dupla traição, a da Mulher Amada e a do Melhor Amigo. A platéia se remexe, inquieta, não suporta mais o nervosismo. E o Mágico fala, fala, fala incansavelmente. Passam-se minutos, passase meia hora, uma hora de tensão incontida em plano palco. Senhoras desmaiam, e ele falando. Homens impacientes protestam em voz alta e se retiram. Gaiatos apupam da fileira do fundo. E ele falando. Ele fala, fala, remexe os detalhes sórdidos daquela traição, descreve as patifarias praticadas pelo casal de judas quando a sós no motel. Bolas de papel chovem sobre o palco, chapéus, sapatos. A vaia começa a se alastrar. E o Mágico fala, fala como um tatarana, fala como um iauaretê, fala como um mistersmith qualquer resolvido a filibusterizar o teatro, a cidade, o mundo inteiro até se sentir em condições de travar o combate final, um combate “belo como o encontro de uma bala de revólver com um coração sobre o palco de um teatro”. Ufa. Vejam como o Surrealismo é útil como fator desencadeante! Fui dar um simples exemplo aleatório, mexendo numa frase randômica; e o exemplo virou um conto. Um continho, um contito, reconheço, mas mesmo assim uma situação interessante, na qual devo ambientação e personagens a Christopher Priest (autor do livro The Prestige, fonte do filme de Nolan), e à técnica narrativa (chamo-a de “presente indireto”) onde a gente narra no presente, de forma sintética, distanciada, sem descer a detalhes, um fato fictício supostamente passado. Técnica na qual Roberto Bolaño (que eu estava lendo hoje de tarde) é um mestre consumado, tendo-a aprendido, é claro, com Jorge Luís Borges, o qual por sua vez deve tê-la estudado nas sagas norueguesas, sei lá onde. E por enquanto, é isto – agora tenho que ver como vou me virar com O Diário da Ratazana. 4943) A arte do trocadilho infame (18.5.2023) O melhor livro sobre o trocadilho é o clássico de Sigmund Freud Os Chistes e a Sua Relação Com o Inconsciente (1905). A tradução “chiste” me parece seguir o modelo espanhol; conheci esse livro numa tradução espanhola, e tenho agora o volume VIII da Edição Standard da Ed. Imago, tradução de Margarida Salomão. No prefácio desse volume, discute-se a tradução do termo original alemão (“der Witz”). Ele deu em inglês “wit” e “joke”, mas grande parte dos exemplos freudianos, sem deixarem de ser “piadas”, “chistes”, “gracejos”, são principalmente trocadilhos, termo que em inglês é “pun”. (Evidentemente, nenhum brasileiro habituado a soltar um trocadilho deixou passar impune essa palavrinha sugestiva.) Resumindo: todo trocadilho é um chiste, mas nem todo chiste é em forma de trocadilho. Tenho a doença do trocadilho; pertenço a uma irmandade informal de viciados, onde posso incluir sem medo Marcus Vilar, André Aguiar, José Araripe, Henrique Rodrigues, Fraga, e outros calemburistas de reputação duvidosa. O trocadilho é um sintoma neurótico, no sentido de que o indivíduo dotado dessa capacidade sente uma compulsão irresistível de trocadilhar tudo que lhe apareça pela frente, e, pior, de dizer em voz alta cada trocadilho que lhe ocorre. É difícil, ao viciado, não armar um trocadilho quando as palavras se articulam e se oferecem ao seu ouvido; e é praticamente impossível não dizê-lo. Nenhum trocadilhista autêntico cala um trocadilho que lhe ocorra em público. Vou teorizar um pouquinho sobre esta arte, usando um exemplo autobiográfico. Eu teria uns dezoito anos; na casa dos meus pais, vi uma maçã numa fruteira e fui pegá-la para comer. Minha mãe, que já tinha examinado a fruta antes, avisou que ela estava com uma metade podre. “Não tem problema,” disse eu, “eu jogo fora a metade má e como a metade sã.” É um bom trocadilho, e é por coisas assim (não porque leio Freud) que sou tido por inteligente na família. Mas esta pequena façanha tem características que o trocadilho ideal em geral apresenta: 1) foi um improviso, uma resposta instantânea a uma situação não planejada; 2) houve uma notável economia de meios, ou seja, não precisou de nenhum raciocínio complicado, nem fez alusão a algum elemento externo ao fato em si; 3) a intenção da resposta foi instantaneamente compreensível, sem precisar de explicações posteriores. (Piada explicada é piada perdida.) Darei como contra-exemplo uma graça contada por Ariano Suassuna, que também manifestava pendor por esse traquejo. Ariano, aliás, eu coloco no rol dos trocadilhistas clássicos, ao lado de Guimarães Rosa, Paulo Leminski, François Rabelais, Millôr Fernandes, Emílio de Menezes, James Joyce, Lewis Carroll e John Lennon. Foi no tempo em que Ariano era jovem. Ele vinha andando na rua, numa tarde ensolarada e abafada do verão recifense. Um amigo se aproximou, os dois trocaram algumas frases, e o amigo disse: – Olhe, Ariano, eu admiro muito você. Um sujeito íntegro, intelectualmente firme. – Muito obrigado – disse Ariano. – Você é uma pessoa admirável, uma pessoa íntegra. Eu diria mesmo: uma pessoa una. – É mesmo? – disse Ariano, já com alguma coisa coçando atrás da orelha. – E ainda mais nesse calor! – exclamou o amigo, erguendo a mão de encontro à luz do sol. – Esse calor terrível, que faz a gente suar. E aí... suas, una?... Ariano fazia um muxoxo de incredulidade e comentava: “Veja bem, o sujeito faz um arrodeio desse tamanho, traz uns assuntos que não têm nenhuma relação, somente pra fazer um trocadilho vagabundo como esse.” É a contraprova do primeiro exemplo! Porque claramente não foi improvisado (foi pensado em casa e trazido para a rua), precisou introduzir dois temas não relacionados (integridade pessoal, e calor) e mesmo não precisando de explicação adicional fica bem claro que para juntar essas duas palavrinhas o sujeito precisou dar o equivalente a uma volta no quarteirão. Isso é o chamado “trocadilho infame”. E agora vou propor a segunda parte da minha teoria: se o trocadilho é uma arte, o trocadilho infame é uma anti-arte, uma paródia de si mesma, uma versão grotesca do Belo e uma versão disparatada da Sabedoria. Ou seja: é Arte também. Um trocadilho bem–feito nos leva a guardar alguns segundos de silêncio e depois dizer um palavrão admirativo ou um elogio ao geniozinho que o fez. Um trocadilho infame faz o grupo inteiro gargalhar ao mesmo tempo, dar tapa na perna, tapa na barriga, fazer munganga de arrancar os cabelos ou de cortar o próprio pescoço; provoca crises lacrimais de hilaridade e – em suma – reforça a boa-vontade entre os seres humanos, e consequentemente contribui para a Paz Universal. Pertence ao domínio do trocadilho infame a famosa “charada trocadilhesca”, tão dependente da deformação sonora dos vocábulos que não tem cristão no mundo que adivinhe a resposta. Meu exemplo preferido: “O animal na torre da igreja encontra-se doente. Duas e duas.” (Resposta: tatu / sino). Ou esta clássica: “Sofre de gagueira o filho do Couto. Não é ele, é o outro. Duas e três.” (Sacadura Cabral). O trocadilho infame só presta se for uma forçação de barra, um pino quadrado enfiado à força num buraco redondo (ou vice-versa), algo tão desnecessariamente complicado quanto aqueles mecanismos rubegoldberguianos em que dezesseis objetos diferentes são conectados uns aos outros para acender um interruptor de parede. (Ilustração: Rube Goldberg) O trocadilho é uma Arte porque implica num mínimo de esforço para obter um máximo de efeito. O trocadilho infame é uma anti-arte porque implica num máximo de esforço para obter um mínimo de efeito. (E portanto, pelas leis do Humor, é uma Arte também.) (Este texto foi motivado por uma postagem de Alex Antunes no Facebook, onde ele dizia: “Se um baiano tem abdome negativo, ele é chamado de 'meu rei côncavo'?) (cartum: Odyr) 4944) Perry Mason, o melhor advogado do mundo (21.5.2023) O objetivo do romance policial detetivesco é apresentar um crime misterioso e mostrar o processo do descobrimento da verdade: quem matou, como matou, por quê matou. Perry Mason, criação de Erle Sanley Gardner (1889-1970), é o advogadodetetive. Certamente não é o primeiro desse tipo, mas é o que de forma mais consistente transformou o tribunal do júri, com sua platéia, no palco-de-teatro que ele sempre tendeu a ser. Ali a verdade é revelada: sempre de forma melodramática e cheia de suspense, de surpresas, de reviravoltas. Se o palco de Hercule Poirot e Ellery Queen era a clássica cena final da “reunião dos suspeitos”, Gardner transpôs esse ritual revelatório para o tribunal do júri. E com o ingrediente adicional do conflito, porque Perry Mason não precisa apenas desmascarar o criminoso, mas impor sua narrativa, diante de uma platéia tensa e indecisa, sobre a narrativa de um promotor hostil (o eternamente desafortunado Hamilton Burger). Gardner é um escritor formulaico. Ou seja: praticamente todos os livros obedecem a uma mesma estrutura, que o leitor conhece, e espera reencontrar. Ele é, contudo, um dos mais hábeis de todos os tempos, porque sua fórmula é larga e flexível, e ele sabia como recheá-la de situações rebuscadas, mas verossímeis. Um detalhe bem típico da ficção formulaica é a repetição de um esquema nos títulos, para indicar ao leitor que são livros em série. Gardner adotou (não em todos os livros, claro) um esquema facilmente reconhecível, de intitular os livros “O Caso do…”, às vezes com repetição de iniciais: The Case of the Lucky Legs (1934), The Case of the Caretaker’s Cat (1935), The Case of the Dangerous Dowager (1937), The Case of the Haunted Husband (1941), The Case of the Drowning Duck (1942)… (The Case of the Borrowed Brunette, 1946) A fórmula básica de seus enredos é simples. Uma pessoa vem a Mason porque está sendo acusada (ou a ponto de sê-lo) de um crime. Mason acredita na sua inocência, e cai em campo para investigar o crime por conta própria. Seus ajudantes são sua secretária Della Street e o detetive particular Paul Drake, que tem um escritório vizinho ao seu. Mason dá instruções, distribui tarefas, recebe resultados, traça estratégias. Não há nesses livros os ingredientes sensacionalistas da pulp fiction policial da época. Lembro que ao ler O Caso dos Peixes Dourados me toquei de que era o primeiro livro (depois de dezenas) em que eu via Mason dar um soco num adversário e dar um beijo em Della Street. Os crimes que Mason investiga não têm a atmosfera gótica e sinistra dos livros de John Dickson Carr ou a complexidade barroca de Ellery Queen. São crimes comuns, praticados em situações comuns, e a façanha do detetive é descobrir a verdade deslindando um novelo de pistas falsas, pistas verdadeiras, mentiras, enganos, versões truncadas, ações inexplicáveis, desculpas implausíveis, gestos irrefletidos, erros de julgamento. No universo detetivesco de Perry Mason, chega-se à verdade fazendo um levantamento das ações das pessoas, e depois confrontando essas pessoas, no banco de testemunhas, com as próprias contradições. Mason é um detetive que usa a oratória como nenhum outro. Não no sentido da “frase bonita”, mas da torção das idéias; das ênfases premeditadas; das alusões veladas que deixam clara uma acusação sem que ninguém possa, tecnicamente, se queixar; das elipses propositais em que ele, sem acusar alguém, induz o júri a uma interpretação. Sua estratégia é a da gradual imposição de um sentido forçando a platéia a reavaliar os fatos – mais ou menos como no famoso discurso de Marco Antonio no Julio César de Shakespeare. Gardner era capaz de tirar coelhos e mais coelhos de sua inesgotável cartola de situações. Seu método de trabalho, aliás, favorecia essas narrativas intensamente dialogadas. Em seu rancho, ele tinha secretárias com máquina de escrever, copiando os livros que ele ditava em voz alta. Ele usou longamente o ditafone, modelo de gravador das primeiras décadas do século 20 (gravação em cilindros). Na sua biografia The Case of Erle Stanley Gardner (New York: William Morrow, 1946), Alva Johnson compartilha algumas estatísticas do seu sucesso. Seus romances de mistério, em todas as diferentes edições, das de dois dólares às de 25 centavos, tiveram um total de vendas de 4.547.922 livros em 1943, 4.903.685 em 1944 e de 6.104.000 em 1945. (...) Em 1932, ele ditou seu primeiro livro de Perry Mason O Caso das Garras de Veludo, em três dias e meio. (...) Depois, diminuiu esse ritmo para um livro por semana. Hoje (1946), ele desacelerou e produz cerca de um livro por mês. (trad. BT) Um grande admirador de Perry Mason foi Raymond Chandler, seu colega na revista Black Mask, que no início da carreira se deu o trabalho de datilografar uma história inteira de Gardner, copiando-a, para entender melhor a dinâmica e a tensão de um tipo de narrativa tão envolvente. Anos depois, os dois tornaramse amigos. Chandler escreveu a Gardner, numa carta de 1946: Quando um livro, qualquer tipo de livro, atinge uma certa intensidade de performance artística ele se torna literatura. Essa intensidade pode ser uma questão de estilo, situação, personagens, tom emocional, idéia, ou meia dúzia de outras coisas. Pode ser também uma perfeição de controle sobre o movimento da história, semelhante ao controle que um grande arremessador de beisebol tem sobre a bola. Para mim, é isto que você tem, mais do que qualquer outra coisa, e mais do que qualquer outra pessoa... Cada página joga o gancho que nos puxa para a próxima. Eu considero isso uma forma de gênio. Perry Mason é o detetive perfeito porque tem a abordagem intelectual da mente jurídica e ao mesmo tempo aquele desassossego do aventureiro que não consegue ficar quieto. (trad. BT) Recentemente, foi lançada uma série com o nome Perry Mason, até interessante, mas que não tem absolutamente nada do personagem original. É outro clima, outro estilo, outras pessoas. A série em si não é ruim, mas seria bem melhor se os personagens (que não têm nada a ver com os de Gardner) tivessem outros nomes. A série de TV Perry Mason (1957-1966, 271 episódios) foi um grande sucesso na sua época, com Raymond Burr no papel do advogado. Vi vários episódios dela; tem qualidades positivas de ritmo narrativo, bons atores, e roteiros com a tarefa ingrata de compactar em 50 minutos os enredos intrincados de romances de 250 páginas. No seriado, complexas discussões de seis ou oito páginas precisam ser resumidas em meia dúzia de falas. Tudo se torna muito rápido, e quebra uma das principais qualidades folhetinescas do original: o exasperante prolongamento das discussões em que Mason pega um suspeito no banco das testemunhas e arranca dele, gota por gota, as informações que já conhecia, mas que precisam ser reveladas ao juiz e ao público. O suspense dos livros de Erle Stanley Gardner requer esta condição: longas discussões e interrogatórios, uma escavação implacável das narrativas pessoais, até fazer aparecerem os fatos escondidos sob as palavras. O Brasil é o País dos Bacharéis. Somos uma cultura baseada na fala, na conversa, na oratória. Temos uma admiração instintiva por quem “fala bem”, por quem “escreve bonito”. E por quem (como se diz lá em Campina) “tem um papo de derrubar avião”, ou seja, uma conversa capaz de subjugar o impossível. Perry Mason é o herói da conversa, da argumentação muitas vezes falaciosa, cheia de armadilhas dialéticas, mas sempre com um objetivo: usar todas as armas da retórica para impor a sua “narrativa”. Um Sócrates do tribunal do júri, que, em vez de dizer o que pretende revelar, limita-se a formular as perguntas certas – e a fazer o criminoso, no banco das testemunhas, confessar seu crime. 4945) Cinco começos Bulwer-Lytton (24.5.2023) O Prêmio Bulwer-Lytton é concedido anualmente a quem apresentar o pior começo de romance, o mais mal-escrito possível. Criar começos assim acabou se transformando num passatempo para escritores, uma espécie de demonstração prática de "como não escrever". 1 “Never Say I Don’t Know”, de Barbara Scanlan. “Em todo o Hemisfério Ocidental (e por que não dizer, também no Oriental) milhões de mulheres suspiravam à noite ao serem assaltadas não por assaltantes propriamente ditos, mas pela fantasia de um dia viverem a vida de Tabatha Westinghouse, e de estarem em seu lugar quando ela percorria em seu Rolls Royce (no banco traseiro, evidentemente) as avenidas mais chiques de Paris e Londres, duas cidades onde ela provavelmente não poderia caminhar na calçada sem ser abordada de forma álacre e incrédula justamente por essas mulheres que acompanhavam religiosamente sua vida pelas colunas sociais dos tablóides sensacionalistas dos dois hemisférios, sem saberem, distanciadas que estão, que nem toda vida de mulher de milionário é o mar de rosas ou o colchão de plumas que é descrito nos tablóides, mas que uma vida como esta, como mostraremos a partir das próximas páginas, é composta também, em grande parte, de momentos, dias e anos de renúncia, de angústia, de tensão, e por que não dizer do sonho de se tornar novamente aquela menina camponesa que saltitava alegremente nos prados da fazenda onde foi criada, antes de se tornar a adolescente que lia tablóides e em seguida, num golpe do Destino que também não nos furtaremos de narrar, em Tábatha Westinghouse, a esposa e futura única herdeira do império de Benjamin Westinghouse, o maior fabricante de fraldas geriátricas de todos os hemisférios.” 2 “Tough Guy At Large”, de Skip Driscoll "Ele estava sentado no chão, apoiando as costas na parede. Arfava. O sangue lhe escorria pelo queixo, pelo pescoço, empapava a gravata de seiscentos dólares. “Vamos”, disse eu, só para dizer alguma coisa, “diga alguma coisa”. Ele mexeu a boca, mexeu, mexeu, cuspiu um dente e rosnou: “Diga a Morello que ele me matou de graça, porque não vou entregar ninguém.” “Não matamos você ainda”, ripostei de pronto. “Você vai morrer bem devagarinho, enquanto entrega todo mundo.” Ele olhou para a mesa. Havia uma automática sobre a mesa. A três metros. Ele não poderia dar um salto de três metros do lugar onde estava, mas mesmo assim fiquei de olho. Ele era guarda-costas de um mobster, e um sujeito não se torna guarda-costas de mobster sendo bobo. Pelo menos é o que acontece na maioria dos casos." 3 “Saudação ao Crepúsculo”, de Anastácio Dalemberte. "Longas são as noites de primavera quando a atmosfera inteira parece se impregnar do perfume das flores recém-desabrochadas, que, tímidas, abrem-se para o mundo cheias de delicada expectativa de todos os seres que veem na vida um cumular de sensações extasiantes, e se preparam para toda uma existência consistindo apenas no dar perfume e receber adoração. Sim, nessas noites de primavera tudo é possível! Todos os desejos parecem maduros a ponto de serem concretizados, os sonhos transpõem o limiar do real, e todo esse frêmito de nova vida que ressurge está vibrando ao diapasão – não, não recuemos diante desta palavra sagrada – ao diapasão do Amor." 4 “O x”, de Pietro Barbieri "A página. A página branca, retangular. Fita-me com seu vazio. Incita-me com sua disponibilidade. Provoca-me com a sua nitidez. Tudo é possível diante da página em branco. E ao mesmo tempo tudo é impossível. Qualquer começo é impossível, no feixe de virtualidades que se superpõem e que mutuamente se cancelam. A página tudo aceita, e ao mesmo tempo tudo proíbe. A página é um reflexo desta minha existência, destes meus 27 anos dedicados mais a ler que a viver, e talvez por isto mesmo ela me lance o desafio, o desafio esfíngico, de me propor mudamente: É isto que queres – escrever? Por que não vais viver, tu que viveste tão pouco? E no mesmo impulso eu sinto a resposta brotar de dentro de mim: Não, não quero viver, porque viver é um ato filosoficamente gratuito, como já foi demonstrado à saciedade por outros filósofos; eu quero escrever, para provar que escrever me justifica. Página, estás prestando atenção?! " 5 “Guerra nos Planetas” de J. Wilson Perdigão "O sistema solar de 47-XFK-38 estava em polvorosa com a notícia, divulgada minutos antes pelos principais meios de comunicação, de que uma Frota Estelar composta de onze torpedeiros, doze naves logísticas, doze navesmães e vinte e cinco espaçonaves leves de tiro rápido próprias para se locomoverem com rapidez e agilidade numa atmosfera semelhante à da Terra estava se aproximando. As intenções eram visivelmente hostis, visto que foi rapidamente confirmado pelos observadores nos telescópios que era uma frota Remulana, país com que o sistema solar estava em guerra há vários anos, e bastou isso para que soasse em todos os planetas o sinal de alarme e os soldados conscritos que estavam de sobreaviso para qualquer emergência fossem rapidamente arregimentados para pilotar a frota de defesa. A galáxia se preparava para contemplar uma batalha nunca jamais vista! " (Ilustrações produzidas com o software de Inteligência Artificial "Bing". 4946) Os virunduns e os mondegreens (27.5.2023) Sérgio Rodrigues, jardineiro do idioma, publicou há pouco tempo um artigo (“Scooby-Doo dos sete mares”) sobre a importância do “virundum”, uma criação cultural que, tal como o futebol, não teve origem no Brasil mas foi devidamente digerida e reinventada. O “virundum” é o equivalente brasileiro do “mondegreen” norte-americano: a interpretação distorcida de um verso de música popular, gerando uma frase levemente absurda e em geral muito engraçada. Já comentei aqui: https://mundofantasmo.blogspot.com/2009/06/1100-mondegreens-nampb-2492006.html Li o artigo com certo atraso, porque não assino a Folha de São Paulo, e para ler os textos dos meus articulistas preferidos dependo sempre de uma alma caridosa que os copie e pregue nas paredes comunitárias de uma rede social qualquer. Viva o dazibao controlvê. Sérgio defende a importância do virundum como uma fonte inesgotável de prazer dadaísta e alegria poética: Sim, na terra em que brotou o clássico indiscutível "trocando de biquíni sem parar" (por "tocando B.B. King sem parar", verso da canção "Noite do Prazer", da banda Brylho), a produção de virundums é tão vasta quanto variada. Há quem aprecie a precisão onomástica de "Meu filho Válter Gomes dos Santos/ que é o nome mais bonito" ("Pais e filhos", Legião Urbana) e quem prefira o clima lisérgico de "Ao sair do avião/ Judy pisou num ímã" ("Açaí", Djavan). Os exemplos citados são muitos, e os vários que eu não conhecia romperam minha casca espessa de mau-humor matinal, e me fizeram soltar a gargalhada de quem reencontra o prazer de estar-no-mundo. O “virundum”, registra Sérgio, foi criado pela turma do Pasquim para ironizar o “Ouviram do...” que inicia o nosso hino pátrio. É muito comum a gente ouvir uma música à distância, num rádio ou TV, nm ambiente ruidoso, e entender mal certos versos. Os psicólogos estudam há muito esse processo em que identificamos os sons mais pelo contexto do que pela escuta em si. Ao ouvir mal o que outra pessoa diz, nossa mente pensa algo como “se ele está falando de tal-e-tal assunto, essa palavra que não entendi deve ser X ou Y”. Vamos preenchendo com a opção mais lógica. Quando estamos em país estrangeiro, conversando em outra língua, esse processo é turbinado o dia inteiro. O que há de interessante na arte do virundum é que ela começou com erros involuntários e se transformou numa distorção proposital. Uma guerrilha poética dadaísta. Pessoas portadoras do gene neurótico do trocadilho dedicamse a inventar por conta própria essas torções num versinho inocente e disponível. E na primeira oportunidade, numa roda de violão ou numa platéia de show, mandam seu virundum a plenos pulmões. Por que? Eu penso que um dos processos essenciais – na invenção poética; na criação artística em geral; mais amplamente ainda, no uso coletivo da linguagem; e quem sabe até no universo mais micro-amplo das sinapses neuroniais – é a possibilidade de dar sentidos diferentes ao mesmo conjunto de estímulos. Os psicólogos usam como exemplo básico desta processo a imagem do cubo transparente, cujas quinas podem ser vistas mais próximas ou mais afastados do nosso olho, por uma decisão e um esforço consciente de nossa parte. Claro que é importante haver algumas coisas que só podem ser lidas de uma única maneira, irredutivelmente. Isto é muito útil quando precisamos ter certeza absoluta sobre algo. A Ciência busca isso o tempo todo, num universo repleto de dados contraditórios, fugazes, heterogêneos, em-mudança-constante. A gente precisa poder de vez em quando se apegar a algo com um suspiro de alívio, de olhos fechados, cheios de confiança. Mas justamente pelo fato de nossa percepção do Universo – e da Linguagem – ser assim, é importante sabermos lidar com as formas ambíguas, indefinidas, contraditórias, mutáveis, estatisticamente imprevisíveis. Porque o mundo é feito basicamente delas. Como usar isso literariamente? Isaac Asimov dizia que seus contos policiais da série “Black Widowers” se baseavam geralmente num detalhe: na história há algo que pode ser visto de duas maneiras, todo mundo vê do jeito errado, e seu detetive, Henry O Garçom, vê do jeito certo. Ser capaz de ouvir uma frase de duas maneiras é um exercício de imaginação, um exercício de uma função mental que nos obriga a atribuir um sentido, ou um segundo sentido, a alguma coisa. Como a pareidolia, que nos faz ver rostos humanos em formas aleatórias. (foto: Jeroen Schipper) Vou recorrer ao meu lugar-comum de sempre, o Surrealismo. Salvador Dali empregava o método que ele chamava de “paranóia crítica” em seus quadros, criando imagens que podiam ser vistas de diferentes maneiras. Diz Dali em La Femme Visible, 1930 (citado em Maurice Nadeau, Histoire du Surréalisme, 1945, trad. BT): Trata-se de especular com ardor sobre essa propriedade do devir ininterrupto de todo objeto sobre o qual se exerce a atividade paranóica, também chamada ‘atividade ultra-confusional’, que tem sua origem na idéia obsessiva. Esse devir ininterrupto permite ao paranóico, que o testemunha, considerar as próprias imagens do mundo exterior como instáveis e transitórias, para não dizer suspeitas, e ele tem o preocupante poder de permitir aos outros que verifiquem a realidade de sua impressão. O paranóico é alguém que impõe um excesso de interpretação a fatos banais. Às vezes bastam uma buzina de carro na rua e o barulho do elevador para ele imaginar que agentes da CIA ou da KGB estão se encaminhando para sua porta. Dali usa a consciência de que os fatos em si estão em mudança incessante (“devir ininterrupto”) e que cabe ao artista impor seu olhar, seu desejo, sua interpretação sobre esse torvelinho em perpétuo movimento. Apontar para uma nuvem e dizer: “Aquilo é um navio a vela”. (Salvador Dalí, “Slave Market with Disappearing Bust of Voltaire”, 1940; no Dali Museum, St. Petersburg, Florida) É apenas a prática deliberada do processo que nos faz (como já me aconteceu) ver na parede um lambe-lambe da banda “Sorriso Maroto” e ler, de relance, “Sobrado Mardito”. Esse processo criativo, imaginativo, tem a mesma origem que o virundun, o mondegreen: a leitura errônea, proposital, de uma realidade que todos veem de um jeito e que o poeta, esse corruptor de rotinas linguísticas, consegue ver de um modo distorcido, novo, inesperado, hilário, surrealista. 4947) "Editando a Editora": Maria Amélia Mello (30.5.2023) Terminando de ler o livrinho bem cuidado e simpático da coleção “Editando o Editor”, da EdUsp. É uma coleção voltada para depoimentos autobiográficos de editores brasileiros, traçando sua trajetória, sua formação, e a sua atividade como editor de livros. Em seu décimo número, a coleção mudou de nome para “Editando a Editora”... porque entrevistou a primeira mulher dessa seleção majoritariamente masculina. Maria Amélia Mello é minha editora, e amiga desde que pus os pés para morar no Rio de Janeiro. Ou até antes disso, porque antes de alugar casa aqui pela primeira vez me lembro de ir visitar o Centro de Cultura Alternativa que ela dirigiu na RioArte (ela fala disso no livro), e de deixar ali meus cordeizinhos e provavelmente meu livro Sai do Meio Que Lá Vem o Filósofo (1980). (Maria Amélia Mello) Somos da mesma geração e não é de admirar tantas coincidências de filmes, músicas, leituras (ponha Cortázar, Campos de Carvalho...). Ela observa que desta geração em diante os cargos editoriais começaram a ser ocupados por pessoas que, como ela, vinham da área do Jornalismo. Comenta o susto que teve ao descobrir o quanto Frida Kahlo era famosa, e que o olho de um editor precisa se estender a todos os campos além das “Letras”: Esta história demonstra que o editor tem que ser ousado, mas também muito atento, fazer as sinapses, as conexões entre tudo que está acontecendo na área cultural. (...) Quando entrei na [editora] Civilização [Brasileira], em 1978, havia pouco diálogo entre as áreas, os livros “apareciam” na minha mesa e ninguém sabia de onde saíam. Os editores vinham da Sociologia, História, Letras. Mas na década de 1990, na época de Frida Kahlo, havia muitos jornalistas migrando para o editorial. E jornalista é assim, tem agilidade, faz pauta, sabe quem pode escrever sobre um determinado tema, vai atrás de uma informação. Coisas que faltavam no mercado, para o qual a entrada dos jornalistas trouxe um novo fôlego. E uma curiosidade: a entrada de mulheres como editoras, em cargos de comando. (p. 123-124) Eu sou principalmente um literato (poeta, contista, romancista) mas já trabalhei em jornal, estudei fugazmente num curso de Ciências Sociais, e sempre achei que o mercado editorial deveria servir a todos estes senhores. A Literatura é vista por uns como uma aristocracia do espírito, por outros como a prima pobre cuja fama se esgota na noite do coquetel. O(a) editor(a) tem que ter essa visão de perceber as diferentes frequências-de-onda de um livro de poesia e um tratado sociológico, de uma antologia de contos e uma biografia, de um romance e um livro de história do cinema. Não se pode tratar tudo isto com os mesmos modelos estatísticos, como se fossem creme dental ou cerveja. Acho o olho jornalístico tão importante quanto o olho científico, o olho entretenimento, o olho show-business e muitos outros, porque em toda área existe a possibilidade de descobrir um livro novo, um livro bom, um livro que vai trazer uma nova voz, um novo enfoque. Não existe só a alta literatura. Existe o livro de boa qualidade, que não vai ser best-seller, mas que vende. A presença de mulheres no mercado editorial é muito um fenômeno da nossa geração. Há muitas editoras (mulheres) que publicaram livros meus, e nesse “publicar” está incluído ler, avaliar, sugerir, mexer, questionar, fazer alertas, propor, dar forma final, divulgar. Posso estar esquecendo alguém, mas já tive livros meus editados por Andréa Mota (Pirata), Maria Emilia Bender (Brasiliense), Vivian Wyler (Rocco), Valéria Gauz (Biblioteca Nacional), Bia Bracher (34), Martha Ribas (Casa da Palavra), Clotilde Tavares (Engenho e Arte), Maria Amélia Mello (José Olympio), Renata Nakano (Casa da Palavra), Fernanda Cardoso (Casa da Palavra), Inez Koury (Bagaço), Lucinda Azevedo (Imeph), Sandra Abrano (Bandeirola)... Minha gratidão a todas, pela paciência e clarividência. Isto sem falar nas que me guiaram em mil outros trabalhos, como redator e tradutor. Algumas, em casas editoriais gigantes, outras em editoras da salade-visitas; não importa. E não se pense que não tive (e tenho) excelentes editores, talvez até mais numerosos. Far-lhes-ei a devida vênia no melhor momento. São meus parceiros, eles e elas. Sempre que um leitor argumenta algo comigo nos termos de "Ah, mas o livro é seu", respondo: "O que é meu é o texto; o livro foi a editora que fez". O processo é sempre o mesmo: “isto aqui é bom, vale a pena gastar dinheiro para imprimir cópias numa gráfica e tentar vendê-las ao povo”. Existe um “olhar feminino”, um “radar feminino” na escolha e publicação de livros? É bem capaz, mas não me arrisco a defini-lo. Minha teoria básica é de que no plano literário tudo que um homem é capaz de pensar uma mulher também pode, e vice-versa. Para além disso, entram as histórias pessoais, as sensibilidades individuais, as leituras e experiências – que são sempre únicas, são só da pessoa. O bom é quando vem a encomenda, como no dia em que Maria Amélia me mandou um email pedindo um livro sobre Ariano Suassuna, que escrevi em dois meses. O ABC de Ariano Suassuna (José Olympio, 2007) não é um estudo aprofundado sobre o criador de Quaderna, mas me parece uma boa introdução ao universo variado e intenso que ele criou. Diz a editora: Este “novo” editor participa das pautas, das vendas, do marketing, da divulgação, ou seja, de todo o processo. Nós fazemos, muitas vezes, até o preço do livro, pois quanto mais falamos em letras mais nos preocupamos com números. Esse diálogo é saudável, pois assim é possível encontrar o melhor momento para publicar um livro, lançando mão de ferramentas de outras áreas. Existe também a relação com sites, blogs, tecnologias, como as de printing on demand, que vêm ganhando espaço. Tudo para acertar mais nas escolhas, enxugar custos, evitar estoques e focar melhor. (p. 172-173) Eu tenho a sorte de poder publicar constantemente (um amigo meu diz que eu tenho mais títulos publicados do que exemplares vendidos). E sempre vejo no editor um parceiro de criação. O editor é o primeiro leitor de um livro, e mesmo que uma sugestão dele não seja aceita pelo autor, ela revela uma maneira-de-ler-aquilo para a qual o autor precisa estar atento. No fim das contas, o trabalho criativo de um editor é como o do antologista, função que exerço de vez em quando. É ficar atento para as coisas boas que aparecem ao longo das leituras, da vivência, das conversas. Perceber a qualidade e a novidade que há em cada uma, o toque diferente, relevante. Anotar muito, fazendo aproximações por diferentes associações de idéias (“isto aqui dá certo junto com aquilo”). Redescobrir coisas boas esquecidas; revelar coisas boas que acabaram de surgir. Compor, com obras alheias, uma vitrine capaz de revelar uma visão própria. Editar um livro é tratá-lo com mão de jardineiro para que ele floresça. (p. 172) 4948) Democracia e linguagem (3.6.2023) Na cabeça de muita gente, democracia é um regime onde eu tenho a liberdade de fazer o que me dá na telha sem que nenhuma autoridade interfira. Ou, como dizia impagavelmente Millôr Fernandes, “ditadura é quando você manda em mim, e democracia é quando eu mando em você”. Nem vou entrar no campo minado da política, mas tento às vezes aplicar esse conceito abstrato, “democracia”, ao uso da língua e da linguagem oral, até porque não mexo com outra coisa o dia inteiro, o ano inteiro. A linguagem é a água onde eu sou peixe. Sou escrevedor de profissão, e inúmeras vezes fui obrigado a negociar com revisores de jornais, revistas, editoras de livros, editoras de enciclopédias, editorias de websaites e de publicações on-line, porque certas coisas que eu havia escrito não passam no crivo gramatical e ortográfico da publicação. Em geral, o revisor passa o trator por cima do meu texto, arranca tudo que lhe parece erva-daninha e planta em cima suas flores de estilo. Só vejo o resultado quando abro o livro impresso. (E de vez em quando, ao constatar a mudança que foi feita, preciso ficar dois dias de cama, com bolsa-de-gelo sobre a testa.) Outras vezes, recebo as provas, antes do livro ser impresso. Em geral, concordo com 90% das mudanças feitas pelo revisor, porque são apenas maneiras diversas de dizer ou escrever, algo que (como se diz em Campina ) “não inflói nem contribói”, então eu deixo passar. Outras vezes são correções (que acabo aceitando) de coisas que eu escrevo do meu jeito. A palavra “idéias”, por exemplo – não há quem me faça escrever “ideias”. Já me pediram explicações, e dei-as. Mas não brigo por causa disso! Quer corrigir, corrija. Às vezes, contudo, o que parece “erro” é necessário. No texto literário, principalmente. Imaginemos o seguinte diálogo: – Oi, Zé. Tu é o caba que faz amplificador? – Não, isso é Dóda, lá das Malvina. Tu já falasse com ele aqui. Passando nas mãos de um revisor cauteloso, este pequeno fragmento de campinensês pode ficar horrorosamente assim: – Oi, Zé. Tu és o cabra que faz amplificadores? – Não, esse é Dóda, lá das Malvinas. Tu já falaste com ele aqui. Ou seja, esses esparadrapos gramaticais desconsertaram o texto e desconcertarão o leitor. Oswal de Andrade bradou pela “contribuição milionária de todos os erros”. Eu concordo, mas salientando que esse “erros” terá que vir entre aspas, forçosamente, porque não se trata de erros e sim de ruídos. Todos nós emitimos ruídos (no sentido de “distorções, interferências, modificações não-intencionais em algo que tem uma forma padrão”) quando falamos nossa linguagem pessoal. E aqui vem um termo importante: existe a linguagem social e existe a linguagem pessoal. E a democracia da linguagem precisa atentar para as duas, porque o equilíbrio harmônico precisa dessa tensão permanente entre “o jeito que todo mundo fala” e “o jeito que eu falo”. Um não pode jamais cancelar o outro. Se eu quiser, eu posso inventar uma linguagem que só eu conheça. Ninguém pode me proibir. Aliás, historicamente, há milhares de indivíduos que tentaram criar um idioma artificial – consultem Babel e Anti-Babel, de Paulo Rónai, um delicioso resumo dessas excentricidades. Homens (é engraçado, não tem nenhuma mulher) que dedicaram a vida a inventar uma língua sem defeitos. Aí surge o “pobrema”. (Olha aí, um bom exemplo de distorção intencional – “pobrema” é uma forma particularizada da palavra-coletiva “problema”, pronunciada num tom de auto-ironia, bom-humor, descontração.) Se eu invento uma linguagem minha, ainda que seja um pequeno glossário, como vou me comunicar?! Acho que todo mundo conhece uma variante do conto popular em que um garoto é maltratado por um padre (que exige ser chamado de “papa-hóstia”) e depois de várias lições vocabulares ateia fogo a um chumaço de algodão no rabo do gato e grita: – Acuda, seu papa-hóstia, dos braços da folgazona! Venha ver o matarato, com clareiamundo norabo; se não acudir com abundância, leva o demo a traficância! A história completa, junto com uma divertida versão inglesa, está comentada aqui: https://mundofantasmo.blogspot.com/2016/10/4175-acuda-seu-papahostia-31102016.html Eu posso decidir chamar qualquer coisa por qualquer nome, mas se começar a usar esses nomes fora de casa vou ter que me explicar – e ensinar aos outros. E quem sabe possa até ter a sorte de muitas pessoas, que inventaram uma palavra e a palavra “pegou”. Ouvindo Rita Lee estes dias, pusme a pensar em qual teria sido o primeiro grupo social em que a palavra “auê” pegou e começou a ser usada, com a multiplicidade de sentidos que tem hoje (rolo, confusão, celebração, algazarra...). Já conversei sobre a questão da “linguagem neutra”, reivindicada por vários grupos sociais, para quebrar o binarismo sufocante de idiomas como os latinos que (de certa forma) sexualizam tudo. Já vi muitas crianças quebrando a cabeça e perguntando aos pais: “Por que é que árvore é mulher e mato é homem, pé é homem mas mão é mulher, faca é mulher mas garfo é homem, chão é homem mas parede é mulher?...” Essa formulação homem-mulher está mal feita, mas é o primeiro recurso comparativo de centenas de milhões de pais sofredores, tias, avós, que se veem obrigados a avalizar os despautérios do idioma, e a sugerir lógica onde ela não existe. A linguagem neutra é sociologicamente necessária, porque exprime um protesto. Toda linguagem que exprime um protesto sofre repressão e angaria simpatias, pelo menos a minha. Os fundamentos gramaticais são questionáveis, mas dane-se, os fundamentos gramaticais de “pobrema” também são. A linguagem neutra, que tantas vezes soa incômoda, deslocada, contraditória, exprime a posição emocional e existencial de quem se sente, no mundo, incômode, deslocade, contraditórie. (Não sei se é assim – valha como exemplo.) Vai colar? Não vai colar? Dirá o tempo, que mesmo assim nunca diz a última palavra, pois ambos, tempo e palavras, existem justamente em função de sua renovação constante, pela pressão de quem precisa. Eu não uso linguagem neutra porque de idiossincrasias já me bastam as minhas, que são muitas; mas não por ser contra ela. Dou a maior força. Para que ser contra uma deformação da língua no sentido de mais expressividade? (Haveria problema com ela – e aqui fala o escritor de FC – se numa sociedade futura a linguagem neutra, ou alguma equivalente, fosse imposta por um Estado totalitário, ou por uma Inteligência Artificial politicamente-correta e roboticamente bem-intencionada, hipótese que já brota no horizonte.) Por força de trabalhos simultâneos, que fazem o meu dia passar rápido, tenho lido muito dois dos meus autores preferidos, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. São dois modelos de linguajar idiossincrático. Ariano tinha um exemplo muito bom para isso. Na opinião dele, a língua escrita precisava estabelecer uma versão-oficial das palavras, mas a língua falada ficava a cargo de cada um. Dizia: Vejam essa cadeira aqui. Quando eu escrevo essa palavra, escrevo “cadeira”, e todo mundo me entende. É a versão coletiva da palavra, serve para todos. Mas quando eu falo, eu pronuncio “cadêra”, porque sou paraibano. É a minha, ou a nossa, versão da palavra, em nossa comunicação oral. E se algum falante do português disser que não entende a pronúncia “cadêra”, bom, aí é muita má vontade, não é não?... E agora voltamos à palavra “democracia”, um conceito mais escorregadio do que muçu ensaboado. É a conjugação (nem sempre fácil, como toda relação conjugal) entre a conveniência coletiva e o interesse pessoal. Uma palavra precisa ter uma forma “oficial”, sancionada pelos gramáticos, lexicógrafos, etimólogos e acadêmicos, e ao mesmo tempo admitir muitas variantes, usadas por grupos específicos, e até por indivíduos isolados. A linguagem precisa de uma forma básica, essencial, consensual, coletiva. Essa base é fornecida pela "norma culta". Mas ela não é uma camisade-força, e sim um mero núcleo para que a nuvem de linguagens parciais possa fervilhar ao seu redor. A linguagem precisa da contribuição constante de pessoas, grupos formais e informais. Precisa (por exemplo) de gírias, regionalismos, bairrismos, jargões profissionais ou comportamentais, modismos passageiros. Precisa também de toda a inventividade e força comunicativa da poesia, da prosa, do teatro, da oratória, das telecomunicações. Precisa tirar dos eruditos a carteirada da erudição, e dos incultos o trauma da incultura, e permitir que se exprimam como lhes der na telha. Alguma coisa boa acaba se incorporando. O indivíduo propõe o novo. O coletivo decide o que vai permanecer. 4949) Contracapa de Midjourney (6.6.2023) (Joan Miró: A Fazenda) & o choro é livre – e a gargalhada também & uma multidão com texto e com ensaio seria capaz de muita coisa & a força da gravidade é uma mistura de ação presencial e wi-fi & o espelho: tem sempre esse fantasma pronto, à minha espera & podem fazer o que quiserem com meu boneco de cera; não ficou parecido & você só sabe a honestidade de alguém se lhe fizer uma proposta irrecusável & uma foto preserva um segundo do passado e afunda o resto nas trevas do esquecimento & tem gente que sempre repete as frases que diz, como se quisesse deixá-las em negrito & entre outras variantes clássicas, tem se projetado ultimamente o conceito de “a boçalidade do Mal” & nada como o silêncio luminoso das noites do sertão & tem gente que lava o rosto e joga a água fora sem nem agradecer a ela & classificar as coisas assim é como dizer que os biscoitos se dividem em redondos e quadrados – e só & certos filmes antigos têm o encanto dos navios naufragados, das catedrais em ruínas & o bom enxadrista é o que consegue usar as peças do adversário para fazer sua jogada & nos fuzilamentos vendam-se os olhos dos prisioneiros para proteção dos executores & a paz não pode destruir a guerra, mas pode diluí-la & certos textos parecem radioativos, basta ler aquilo e o pensamento fica envenenado & o bom cineasta filma um pavão em preto-e-branco e ninguém percebe esse detalhe & o futebol hoje é assim: “Autoriza o árbitro!” – e “Desautoriza o juiz do VAR...” & onde subiu prédio sofreu pedreiro & o Tempo não é algo que se desloca; ele vibra, ele estremece & liberdade hoje em dia é feito um colírio que a gente leva no bolso e pinga umas gotas quando sente falta & uma pedra no meio do caminho incomoda menos do que uma pedra no sapato & a elevação dos oceanos talvez liberte, talvez sufoque a população dos aquários & a pena é mais poderosa do que a espada, porque pode desenhar uma balança em que ela tem mais peso & todo jatinho de empresários é um Cavalo de Tróia & em vez de proibir alguma coisa, deviam ridicularizar; seria mais eficaz & ensinar não é iluminar, é acender & um Deus não é onipresente se o seu castigo vai mais longe que o seu perdão & ser honesto não é uma fraqueza, embora muitos só sejam honestos porque lhes falta a força de não sê-lo & ela tinha a nobreza das pessoas feias que só podem contar consigo mesmas & um homem vai ser fuzilado mas pede para esperarem o nascer da lua cheia & não, o Romance não está morto, apenas num estado agudo de catalepsia mental & todo mundo tem um olho que enxerga melhor do que o outro 4950) O escritor enquanto Deus (9.6.2023) (Ernest Hemingway) Uma idéia que tento sempre passar (em cursos, oficinas, etc.), para quem quer fazer literatura de ficção, é o fato de que o escritor é o Deus de sua história. Não um Deus onipotente, onisciente e onipresente, mas em todo caso um Deus como aqueles da mitologia, com o poder de fazer as coisas acontecerem de acordo com a sua vontade. Inclusive de acordo com as suas venetas, com os seus impulsos. Todo mundo sabe disso, concordo, mas uma coisa é saber, e outra coisa é descobrir por conta própria. Minha descoberta se deu, em grande parte, numa noite décadas atrás, no período paleozóico conhecido como “a Era da Olivetti Mecânica”. Eu tinha acabado um trabalho que me consumiu uns dois meses, trabalho remunerado, “para fora”, ou seja, uma coisa estritamente profissional. Entreguei, tive uma reunião matinal que entrou pela tarde, e o projeto foi aprovado integralmente, com aperto de mãos e promessa de depósito em breve. Voltei para casa aliviado e triunfante. De noite resolvi dedicar-me aos meus projetos pessoais, ou seja, à primeira idéia genial que me viesse à cabeça, coisa que acontecia quando eu estava, como naquela noite, com uma cerveja aberta à frente, uma lauda em branco no rolo da máquina, e um cigarro Galaxy aceso entre os dedos (era no tempo em que eu fumava essa desgraça). Comecei a bolar um conto meio ao acaso, um conto mezzo Rubem Fonseca mezzo Luiz Vilela. Rio de Janeiro, época contemporânea. Um cara sai para beber à noite, e reencontra por acaso um amigo de juventude, lá da Paraíba, que não via há mais de vinte anos. Abraços, euforia, risadas, os dois começam a beber juntos, entram naquele estágio de “e Fulano, que fim levou?”, “tem visto Sicrana, como vai ela?”, “e tua família, todos bem?” – porque é assim o ser humano, passa dez anos sem nem se lembrar de alguém, mas na primeira chance quer saber da vida. Os caras começam a beber no Largo do Machado, depois vão até a Lapa, porque o Nova Capela nunca fecha, de lá vão para um subúrbio, porque não estão bêbados, e o que está ao volante (a história é contada do ponto de vista dele) é experiente. Mas vão para um subúrbio, num bar no meio do matagal, e lá enchem a cara com seriedade. Ao saírem do bar o amigo puxa um assunto antigo, uma discussão que os dois tiveram anos atrás. Isso não é hora para lembrar disso, defende-se o dono do carro. Não vamos estragar uma noite tão bacana. Você já estragou, naquele dia, diz o amigo, ligeiramente trôpego. Me chamou de pobre e de unha-de-fome. Que é isso, retruca o primeiro. Não me lembro de nada disso. Fiz só uma comparação entre você e seu irmão. Tá vendo como lembra? Diz o outro, em voz pastosa e triunfante. Seu filho da puta. Para encurtar a história, os dois se enraivecem, brigam, se esmurram, o dono do carro puxa um revólver, alucinado de raiva (acaba de perder um dente da frente, afrouxado por um soco) e dá dois tiros no amigo. Apavora-se. Olha em redor. Bar fechado, matagal, luzes distantes. Ninguém viu. Ele pega o carro e some. A história vinha sendo contada do ponto de vista dele, mas agora o carro segue um caminho de terra, chega à BR e desaparece ao longe; e a narrativa permanece no local do crime, um parágrafo final descreve o corpo do outro, a vida se esvaindo aos poucos, a poça de sangue aumentando, e ele caído ali, na escuridão, no meio do mato, nos fundos de um terreno baldio que servia de estacionamento. Carros passando ao longe e ele desaparecendo aos poucos. Fui dormir satisfeito, ou bêbado, o que é a mesma coisa. No outro dia fui pra rua resolver vários assuntos, tive uma tarde atarefada, mas de noite (estava sozinho em casa, minha mulher estava viajando) abri outra cerveja e fui reler o conto. Fiquei com pena dos caras! Achei sacanagem – dois amigos se reencontram, tudo bem que no passado houve um desentendimento, se chatearam um com o outro, mas amizade tem que ser como água, que você mexe, agita, tira um pedaço, e ela volta pro formato de antes. Pra que isso? Fiquei com pena do defunto esfriando no matagal. Fiquei com pena do outro, cantando pneu nas curvas da rodovia, o revólver ainda quente guardado no bolso, a ponta da língua tentando manter o dente no lugar. Amassei a última página, voltei para o teclado e para a história. Sim, eles saem. Eles discutem, mas não tem murro. Era pobre, não era, isso e aquilo, aí o cara do carro puxa o revólver. Nesse instante o outro diz: “Mas Fulano, que história é essa? Tu anda armado agora?” O cara está furibundo e diz: “Isso aqui é o Rio de Janeiro, seu merda, aqui a pessoa tem que se cuidar, não é aquela bosta da Paraíba onde vocês dormem de janela aberta.” O outro está bêbado mas tem amor próprio, ergue o dedo no ar e diz: “Não insulte a Paraíba, filho ingrato, porque até Lampião tinha medo, só passava por lá pra cortar caminho pro Juazeiro.” Os dois começam a rir. O primeiro abre o tambor do revólver e mostra: “Essa porra está sem bala, eu morro de medo de um acidente”. Se abraçam rindo, mangando um do outro, e vão à procura de um bar aberto, mesmo porque já passa das quatro e meia da madrugada. Ficou melhor o conto? Ficou pior? Não sei, porque foi um dos muitos que numa tarde de verão e impaciência eu rasguei em quatro e enchi com eles um saco de lixo, daqueles de plástico azul. Mas nesse episódio eu me senti não um Deus, mas dois – porque soube que tinha o poder de matar, e o poder de trazer de volta à vida. Então, quando eu sento para escrever alguma coisa, eu procuro invocar de dentro de mim esse poder, porque não existe coisa mais perigosa neste mundo do que um poder que o indivíduo tem e não utiliza. Esse poder se rebela, ele incha, estoura as costuras da alma, e acaba desequilibrando a vida do sujeito, como um cachorro que a gente compra, bota dentro de casa e deixa crescer sem domesticar. Tenho inclusive a impressão (não posso mais checar, joguei o conto fora) que os tais amigos eram escritores, e a certa altura um dos dois, nem lembro qual, dizia ao outro: “Não tem sentido você sentar pra contar uma história onde só acontece o banal, aquilo que acontece todo dia na vida de todo dia, ou então, pior ainda, acontece o extraordinário conforme-as-expectativas, o fantástico selfservice, a tentativa pálida de reescrever um livro alheio que a gente leu e gostou. O poder-de-fazer-acontecer não deve ser estragado, malbaratado, jogado aos porcos. Faça acontecer coisas que lhe deixem o olho brilhando, a respiração acelerada, a boca seca, o coração batendo e dizendo: caralho, velho, não acredito que isso está acontecendo na tua história!...” Foi isso que um dos amigos disse pro outro, ou melhor, teria dito, porque na verdade não teve conto nem nada, isso foi só uma coisa que eu estava pensando no sofá da sala, meia hora atrás. 4951) Meu livro de 2023: "Não Ficções" (12.6.2023) Link: catarse.me/insolita Tempos atrás eu estava trocando idéias com minha editora Sandra Abrano, da Bandeirola, e ela falou de sua vontade de publicar textos de nãoficção: artigos, ensaios, crítica, etc. Me perguntou (retoricamente) se eu "por acaso não teria algum material". Me toquei que nunca fiz uma coletânea dos muitos artigos que já publiquei sobre FC e literatura fantástica, artigos hoje inacessíveis, porque saíram nos fanzines de meus companheiros de trincheira intergaláctica: o Somnium, o Megalon, o Hiperespaço, o Universo Fantástico, o Borduna e Feitiçaria... Conversa vai e vem, surge agora este livrinho que estamos lançando, sob o título auto-explicativo de Não Ficções, e com o subtítulo mais explicativo ainda de: A Literatura, a Ficção Científica, os Escritores e Seus Escritos. Como tenho feito nos últimos anos, será um livro em financiamento coletivo via Catarse, na base do pague agora e receba daqui a alguns meses. O lançamento fica mais interessante ainda porque é em dupla com o livro de George Amaral, Um Estranho Tão Familiar – Teorias e Reflexões sobre o Estranhamento na Ficção. Onde ele examina os processos de estranhamento literário e narrativo, uma das raízes (a meu ver) do famoso sense of wonder despertado pela FC, a sensação de maravilhamento que se tem ao ver uma coisa com um olhar diferente. No meu livro, reuni textos publicados em jornais, revistas, fanzines, websaites, bem como prefácios e apresentações de livros alheios. Além dos fanzines, há textos saídos no Jornal do Brasil (RJ), Jornal da Tarde (SP) e outros. Aproveitei para colocar artigos variados, tentando não me limitar à ficção científica. Falo de poesia, por exemplo, no texto “A visão cósmica em Drummond e Augusto dos Anjos” (Jornal da Tarde, 1998). Sugiro ao leitor que leia, em sequência os poemas “As Cismas do Destino” de Augusto e “A Máquina do Mundo” de Drummond, para ver suas semelhanças estruturais e filosóficas, como se o texto do poeta mineiro fosse uma “resposta” ao de Augusto. Falo da cultura popular nordestina, a literatura de cordel e a literatura oral que brota em torno dela; e da ciência popular preservada em obras como o Lunário Perpétuo, o clássico almanaque astronômico e astrológico do interior nordestino. Falo nisso a propósito de que? A propósito de um dos meus personagens favoritos, o cantador de viola John The Balladeer, cujo universo descrevo no texto “A folk fantasy de Manly Wade Wellman” (Megalon, 1999). E falo da ficção científica na Literatura de Cordel, examinando folhetos como “História do Homem que Subiu em Aeroplano Até a Lua”, cuja autoria é atribuída tanto a João Martins de Athayde quanto a Leandro Gomes de Barros. O folheto foi publicado em Recife no ano de 1923, antes até de Hugo Gernsback, nos EUA, carimbar com o nome de Science Fiction as aventuras interplanetárias que estava publicando. Alguns artigos vão relatando as descobertas literárias de que participei com meus amigos do CLFC (Clube de Leitores de Ficção Científica). Autores brasileiros, obscuros, que estávamos na verdade re-descobrindo, porque um livro que conseguiu ser publicado por editora não é propriamente obscuro. É o caso de meu artigo de 1993 sobre “A Rainha do Ignoto”, romance cearense, misto de ficção científica e fantasia, publicado em 1899, e que me foi revelado por Carlos Emílio Corrêa Lima. É o caso do texto de 1995 sobre “Statira e Zoroastes”, uma fantasia utópica (um país governado por mulheres” publicado em 1826 por Lucas José d’Alvarenga. A maioria destes artigos vem de uma época em que eu estava muito dedicado à pesquisa da literatura fantástica e FC no Brasil, ia às bibliotecas, passava pente-fino nos sebos, mantinha correspondência constante com outros abnegados. Acho importante destacar o texto que publiquei em 1995 sobre “As aventuras de Dick Peter”, o detetive criado por Jeronymo Monteiro, sob o pseudônimo de “Ronnie Wells”. Jeronymo foi um fã infatigável da literatura popular, e a série Dick Peter, que começou como programa de rádio, evoluiu para abarcar livros de aventuras policiais e de ficção científica. Numa história ele está combatendo gangsters em Nova York, no outro está encontrando sobreviventes da Atlântida no interior do Brasil. Tenho alguns artigos literários publicados fora do Brasil, mas resolvi incluir apenas um, como exemplo, porque o tenho como uma pequena façanha. Publiquei em The New York Review of Science Fiction (março de 1997) um artigo intitulado “From Borges’s Being to Perec’s Nothingness”. Trata-se de um lipograma, um texto em inglês com mais de 600 palavras onde a letra “A” não aparece nem uma vez. É uma homenagem a Perec, o rei do lipograma, e a Borges, porque refere-se o tempo todo ao livro de Borges cujo título é justamente A Letra Proibida. O estudo da pulp fiction norte-americana me atraiu durante vários anos, e produziu vários dos artigos recolhidos neste volume. Um dos mais curiosos é “O Efeito Hoen” (Megalon, 2001). Em novembro de 1948, um fã chamado Richard Hoen enviou uma carta ao editor da revista Astounding SF afirmando ter gostado muito do número de novembro de 1949 da revista, inclusive citando o artista da capa e os títulos e autores de vários contos. O editor, John W. Campbell, decidiu levar a brincadeira a sério, e teve um ano para encomendar a cada autor um conto exatamente com aquele título. Não conseguiu 100%, mas em novembro de 1949 ali estava a revista “prevista” um ano antes, na qual Isaac Asimov, Robert Heinlein, A. E. Van Vogt e outros escreviam os contos imaginados pelo leitor. A pulp fiction pode ter tido critérios literários pouco exigentes, mas é um exemplo histórico de literatura imaginativa produzida sob alta pressão. Era possível sobreviver escrevendo contos policiais ou de FC, nos anos da Depressão, mas era preciso escrever o dia inteiro, todo dia, sem descanso nem domingo. Comentei The Pulp Jungle, do prolífico Frank Gruber, que é um memorial dessa época, contando dezenas de fofocas e episódios pitorescos da comunidade dos escritores, mas também fornecendo números, estatísticas do mercado, e dando uma descrição pragmática desse tipo de literatura, pelos olhos de um profissional cínico e calejado. Meu texto saiu no fanzine Somnium (SP), em 2006. Coletâneas como esta são de interesse de um público reduzido, talvez, público de algumas centenas de pessoas. O fato de termos hoje a opção do financiamento coletivo torna possível uma primeira tiragem de livros prévendidos, que serve como impulso inicial para que o livro se torne conhecido e procurado. É diferente de quando a editora imprimia 1.000 ou 2.000 exemplares, guardava num galpão na Zona Oeste, e ficava esperando que alguém tivesse interesse. A projeto através do Catarse é o lançamento da linha “Bandeirola Ensaio e Crítica” da Editora Bandeirola, e, como já falei acima, estou nesta estréia ao lado de George Amaral, com seu Um Estranho Tão Familiar: Teorias e reflexões sobre o estranhamento na ficção, que não li ainda, mas já está na fileira de leituras no futuro próximo. Já publiquei um livro de temática próxima (Freud e o Estranho: Contos Fantásticos do Inconsciente, Casa da Palavra, 2007). Há vários processos de estranhamento na literatura fantástica e de FC. George é psicanalista, mestre e doutorando em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. Eu e ele somos os “premiados” com a chance de inaugurar uma série de ensaios que a Bandeirola já está encomendando ou negociando com pesquisadores da FC e literatura fantástica. Aqui, o link com mais detalhes sobre os livros, e as diversas opções de apoio: catarse.me/insólita 4952) Não dizer dizendo (15.6.2023) Poesia se faz com palavras, ou com idéias? Para alguns, a idéia vem primeiro. O poeta tem uma noção mais ou menos clara do que quer dizer, e procura as palavras mais adequadas para reproduzir o que está pensando. Para outros, o poema pode até começar com uma idéia, mas ela produz um processo de palavra-puxa-palavra, e o sentido vai se formando meio de improviso, à medida que as palavras se ajustam umas às outras. Poetas usam esses dois sistemas desde que o mundo é mundo. Um teste que muitas vezes funciona é ver se o poema resultante é fácil ou difícil de traduzir. Os poemas criados a partir de idéias são, em geral, mais fáceis (ou menos difíceis!) de traduzir do que os que são feitos a partir das palavras. Qualquer idéia pode ser recriada através das palavras? Alguns filósofos dizem que só pensamos de fato aquilo que conseguimos exprimir, mesmo que seja inventando palavras que não existiam antes. E até mesmo a incapacidade de dizer pode ser dita, a incapacidade de criar poesia pode ser recriada poeticamente. Manuel Bandeira, ao fazer uma dedicatória para uma leitora chamada Sacha, escreveu: Sacha muchacha nariz de bolacha! (Meu estro não acha outra rima em acha. Por isso se agacha, se cobre de graxa, se arranha, se racha, se desatarracha e pede em voz baixa desculpas a Sacha). É um poemazinho de circunstância (do livro Mafuá do Malungo), sem maior pretensão literária, mas mostra de maneira claríssima a mais importante das lições poéticas: mesmo quando achamos impossível dizer o que queremos, sempre existe uma maneira de dizê-lo. O poeta confessa (ou finge confessar) sua impossibilidade de achar rimas para o nome da pessoa a quem dedica o poema, mas no momento mesmo de admitir essa derrota as rimas parecem cair do céu, e o poema está feito. Num tom diferente, quase trágico, Augusto dos Anjos produziu um soneto em que reflete sobre o processo de criação da poesia, “A Idéia” (1909): De onde ela vem?! De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas como as estalactites duma gruta?! Vem da psicogenética e alta luta do feixe de moléculas nervosas, que, em desintegrações maravilhosas, delibera, e depois, quer e executa! Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas do laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica ... Quebra a força centrípeta que a amarra, mas, de repente, e quase morta, esbarra no mulambo da língua paralítica. A descrição é poeticamente correta: a idéia brota no cérebro, mas quando queremos transformá-la em palavras ficamos mudos. Em outro soneto (“O martírio do artista”) ele compara o poeta ao paralítico (ou, em nossa linguagem de hoje, à pessoa que sofreu um AVC) e não consegue falar: “É como o paralítico que, à míngua / da própria voz e na que ardente o lavra / febre de em vão falar, com os dedos brutos / para falar, puxa e repuxa a língua, / e não lhe vem à boca uma palavra!" Há um elemento dolorosamente biográfico na concepção destes poemas. Sabe-se que o pai de Augusto, o Dr. Alexandre, sofreu um derrame e ficou “paralítico e afásico”, impossibilitado de se comunicar. As imagens de Augusto são poeticamente fortes, são impressionantes, mas para sermos honestos temos que admitir que a culpa não é da língua. Não é ela que forma as palavras, é o cérebro, o mesmo que forma as idéias. E que compõe versos como estes, dizendo, de maneira brilhante, o quanto é difícil dizer. Voltando mais atrás no tempo, temos um soneto de Olavo Bilac, “Inania Verba” (em Alma inquieta, 1902), no qual o de Augusto parece ter se espelhado. Ah! quem há de exprimir, alma impotente e escrava, o que a boca não diz, o que a mão não escreve? — Ardes, sangras, pregada à tua cruz, e, em breve, olhas, desfeito em lodo, o que te deslumbrava... O Pensamento ferve, e é um turbilhão de lava; a Forma, fria e espessa, é um sepulcro de neve... E a Palavra pesada abafa a Idéia leve, que, perfume e clarão, refulgia e voava. Quem o molde achará para a expressão de tudo? Ai! quem há de dizer as ânsias infinitas do sonho? e o céu que foge à mão que se levanta? E a ira muda? e o asco mudo? e o desespero mudo? E as palavras de fé que nunca foram ditas? E as confissões de amor que morrem na garganta? É um soneto sem a complexidade dos termos empregados por Augusto, com uma linguagem de clareza cristalina, onde os contrastes de idéia se dão por semelhança de forma (escrava / escreve) e por imagens visuais de apelo instantâneo (turbilhão de lava / sepulcro de neve). Aqui, o poeta se queixa de outras coisas, que talvez não tenha conseguido exprimir, e que sugere nos dois tercetos finais. Mas ao queixar-se o faz mostrando domínio completo da forma, do vocabulário, do ritmo (a repetição de “mudo”). O seu final, ao falar naquilo que “morre na garganta” pode até ter sugerido a Augusto a imagem das “cordas da laringe”. Cada poeta tem seu espírito, seu temperamento, e isto fica visível quando eles escolhem suas idéias, e, quando escolhem a mesma idéia, nas suas escolhas de palavras. Cada um de nós tem sua maneira própria de dizer as coisas, e também de dizer que não consegue dizê-las. Há momentos em que a poesia é apenas um sentimento que nos toma de assalto, nos invade, nos deixa cheios de emoções – e vazios de palavras. Talvez a gente não consiga dizer o que sente; mas precisa dizer que não o conseguiu. Carlos Drummond de Andrade, distante da linguagem expressionista e científica de Augusto dos Anjos, e do formalismo rígido e impecável de Bilac, encontra na simplicidade da dicção modernista recursos para falar dos seus próprios momentos “sem palavras”, quando diz em “Poesia” (Alguma poesia, 1930) : Gastei uma hora pensando num verso que a pena não quis escrever. No entanto ele está cá dentro inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Grande poeta não é o que sente grandes emoções. Qualquer pessoa é capaz de emoções intensas. O grande poeta é aquele que fotografa essas emoções, ou, mesmo quando não as fotografa a tempo, consegue captar sua sombra, sua pegada ou qualquer sinal de sua presença. Como ele diz, no final do seu “Canto esponjoso”: Vontade de cantar. Mas tão absoluta que me calo, repleto. (Uma versão deste artigo foi publicado no número de outubro de 2008 da revista “Língua Portuguesa”, da Ed. Segmento (São Paulo) 4953) "Impressões da Alta Mongólia" (18.6.2023) O clown surrealista Salvador Dali estreou no cinema como parceiro de Luís Buñuel (Um Cão Andaluz, 1928; A Idade de Ouro, 1930). Os dois brigaram, mas paralelamente a sua milionária carreira como pintor, Dalí continuou fazendo breves incursões pelo cinema. Uma obra curiosa, que está disponível no YouTube, é Impressions de L’Haute Mongolie (1975, Salvador Dalí e José Montes-Baquer). É um médiametragem de cerca de 50 minutos (parece que há uma versão mais longa nas cinematecas), narrando, com imagens produzidas pelo pintor, uma excursão fantasiosa à Mongólia, uma Mongólia onírica, muito diferente da Mongólia real. Aqui: https://www.youtube.com/watch?v=ZJkDzMvVzE&ab_channel=BreconWalsh A premissa fantasiosa do enredo parte do quadro de Vermeer A Carta. Nele, uma mulher de pé, num pequeno aposento, lê uma carta, tendo ao fundo um quadro. A câmera explora os detalhes da pintura enquanto Dali – no seu melhor estilo de voz bombástico-profético – explica que este quadro encerra um mistério. Essa carta, na verdade, traz para a mulher da pintura a notícia da existência de uma ilha misteriosa na Alta Mongólia, ilha cuja localização está revelada precisamente no mapa que aparece ao fundo. E o segredo principal desta ilha é que nela crescem cogumelos alucinatórios enormes, que a expedição narrada por Dali se prepara para ir buscar. É (diz ele) “um LSD sem LSD”. Seguem-se imagens borradas, abstratas, fortemente coloridas, saturadas de cor; Dali narra as justificações teóricas da viagem (sempre num discurso alucinatório-pomposo) e por volta dos 25 minutos começam a surgir as aeronaves de que ele se vale para o trajeto – trucagens meio amadorísticas com pequenos objetos que lembram cápsulas espaciais. O filme é bastante hábil em mostrar imagens coloridas e abstratas enquanto Dali descreve as paisagens com tranquila e peremptória subjetividade, quase como se estivesse lendo ali manchas de cartões Rorschach de testes psicológicos. Ele mostra "falésias", “colinas”, “florestas”, as areias brancas de uma praia que (segundo ele) não são mais do que milhares de gigantescos cogumelos alucinógenos pulverizados. A imagem não é das melhores (é um filme para TV, e a cópia no YouTube parece ser tirada em VHS) mas nos permite ver exemplos do famoso método da “paranóia-crítica” teorizado e praticado por Dali. Uma mesma imagem pode ser vista de diferentes maneiras. Dali e o diretor Montes-Baquer empregam as fusões e desfoques para fazer transições lentas de uma imagem para outra, e, frequentemente, de imagens abstratas para reproduções figurativas das cenas que a voz de Dali está narrando. Como se aquele borrão de cores e formas fosse ganhando significado pouco a pouco, pela imposição hipnótica da voz do narrador, que nos “ordena” o que devemos ver, e logo em seguida a imagem lhe obedece. Na sequência final, Dali traz o filme bruscamente para as ruas da cidade (talvez Port Lligat, onde ele tinha sua casa e seu estúdio), desfila pela rua com trajes extravagantes, parando o trânsito, varando o empurra-empurra da multidão, seguido por manifestantes que conduzem faixas e cartazes. Depois, todos pegam mangueiras e começam a lançar jatos de tinta colorida sobre uma parede. A imprensa filma, fotografa. Dali empunha uma câmera e filma também. Pode ser um subgênero do Fantástico, ou do Insólito. Posso chamá-lo de “As Expedições Mirabolantes”: histórias onde um grupo de indivíduos parte de uma grande cidade rumo a um lugar remoto e obscuro, em busca de um objetivo misterioso, ou improvável, ou fantasioso, ou irrelevante... Um retrato mental e poetizado do sonho colonialista, só que aqui visto pelos olhos, não dos homens ambiciosos de riqueza e poder, mas do buscadores do insólito, do aventuresco, do imprevísivel. Entram nessa faixa obras como Le Mont Analogue (René Daumal, 1952), Conversions (Harry Matthews, 1962), La Vie mode d’emploi (Georges Perec, 1978), bem como o filme A Montanha Sagrada (Alejandro Jodorowski, 1973) e o romance brasileiro O Púcaro Búlgaro (Campos de Carvalho, 1964). Estas “expedições iniciáticas” são um capítulo peculiar da literatura do Colonialismo. Não se voltam para a tarefa ufanista e civilizatória do homem branco, seja para celebrá-la, como Kipling, seja para mostrar, como Joseph Conrad, seu fracasso (ou sua verdadeira natureza). O livro brasileiro, aliás, é uma sátira a essas empreitadas fantasiosas. Julio Verne tem um papel intrigante neste processo. Por um lado, é um cientista da era vitoriana (mesmo sendo francês), deslumbrado com os desdobramentos da Revolução Industrial e o pipocar simultâneo de centenas de descobertas científicas em seu tempo. Por outro lado, é curioso ver como a obra de Verne é insistentemente estudada, na França, em função de uma segunda leitura, uma leitura ocultista, hermética, iniciática, em que as aventuras geográficas de seus heróis são alegorias de aventuras espirituais de caráter místico. Ele poderia ser, nesta leitura enviesada, agrupado junto aos demais autores das “Expedições Revelatórias” em que europeus partem para terras distantes ou imaginárias para elucidar questões enigmáticas, obsessivas ou meramente absurdas. Quando Salvador Dalí, em Impressões da Alta Mongólia, explica que foram a esse local exótico em busca de cogumelos alucinógenos, ele expande a tradição de Daumal, e a tradição de Raymond Roussel (Impressions d’Afrique, 1910; Locus Solus, 1914), a quem seu filme é dedicado. (Imagem de Raymond Roussel no filme de Dali) E ao mesmo tempo está expandindo, na direção da cultura psicodélica e lisérgica dos anos 1970, o próprio Surrealismo francês do qual surgiu. É curioso que as pesquisas mentais de André Breton e dos outros surrealistas tenham mantido sempre uma distância prudente em relação às drogas. Sarane Alexandrian, em Le Surréalisme et le Rêve (Gallimard, 1974), comenta: Há portanto uma certa condenação da droga entre os surrealistas, baseada na convicção de que um homem que a emprega não tem confiança verdadeira nas generosas virtudes do surrealismo. (...) Os surrealistas não tecem louvores à droga, mantêm distância em relação a ela, e preferem ver os drogados como sonhadores mal sucedidos, que não conseguem sonhar senão sob o efeito de produtos tóxicos, ainda que fosse abusivo interditar-lhes esse uso. (p. 162-165, trad. BT) O Surrealismo explodiu como movimento avassalador na Paris da década de 1920, quando as drogas visionárias (não necessariamente alucinógenas) eram o ópio, o láudano e o absinto. William Burroughs, um filho bastardo do Surrealismo francês com a ficção científica dos EUA (J. G. Ballard foi outro) rumou para a América do Sul em busca do yagé, a poção miraculosa propiciadora de visões. Essa peregrinação lhe rendeu um livro, as Cartas do Yagé (L & PM, trad. Bettina Becker). Antonin Artaud, surrealista-raiz, foi igualmente para o México em 1936 em busca do peiote, dos xamãs, do retorno ao inconsciente coletivo. Uma viagem que décadas mais tarde ganharia uma versão popularizada e transformada em best-seller por Carlos Castañeda. A Mongólia de Salvador Dalí não é tão imaginária assim; é uma Mongólia mental, uma Pasárgada alucinógena, um Eldorado do inconsciente. Um permanente “convite à viagem” que a literatura, a poesia e o cinema de espírito romântico, ou neuromântico, reiteradamente escutam e repetem, como se soubessem que a Verdade não está no centro, e sim nas periferias. 4954) Primeiras Estórias: "Tarantão, meu patrão" (21.6.2023) (João Guimarães Rosa) A figura do doido é recorrente na obra de Guimarães Rosa, mas talvez fosse melhor dizer de um jeito diferente. Não é o doido propriamente dito, mas o personagem de comportamento amalucado. Não é o doido trancafiado no Pinel ou na colônia. É aquele camarada, meio vagueante do juízo, parado no ponto de ônibus, contando pra ninguém uma história que ninguém entende. O “doido solto”, como se dizia em Campina – o indivíduo que não vale a pena levar para o Manicômio, porque na verdade não é uma ameaça a si mesmo nem a ninguém. Uma figura imprevisível, que à gente às vezes tolera, mas com desconforto, porque sabe que de um instante para outro ele pode aprontar um surrealismo qualquer. Comentei dias atrás o conto “Darandina”, onde essa dualidade é pretexto para Rosa contar a história divertida do sujeito que entra no hospício, pede para ser internado alegando doidice, e, diante da negativa, volta para a rua, sobe numa palmeiras e lá em cima tira toda a roupa, jogando-a na multidão que se formou. Era doido ou não era? Algo parecido se dá com o penúltimo conto do livro, “Tarantão, meu patrão”, cujo narrador, conhecido por “Vagalume”, tem como patrão um fazendeiro que anda meio destrambelhado do juízo. A família o confinou na fazenda para esperar um médico, mas no abrir do conto o fazendeiro – “Iô-Joãode-Barros-Diniz-Robertes!” – já está montando a cavalo e partindo, obrigando o pobre Vagalume a montar também e ir atrás. O patrão está “sem paletó, só o todo abotoado colete, sujas calças de brim sem cor, calçando um pé de botina amarela, no outro pé a preta bota; e mais um colete, enfiado no braço, falando que aquele era a sua toalha de se enxugar.” Mas sua demanda preocupa: ele diz a Vagalume que está indo à procura do Magrinho para matá-lo. O Magrinho é o médico, sobrinho-neto dele, que dias atrás lhe aplicou uma lavagem intestinal. O patrão sai demente a cavalo, e Vagalume atrás, e ele alvoroça tudo por onde passa, seja porque já o conhecem, seja porque seus modos chamam a atenção. E ele vai convocando indivíduos para segui-lo. Faz gentilezas à mãe de um, conclama outro, faz discursos, e aos poucos a sua cavalgada vai crescendo. Que poder têm os doidos para atrair as pessoas? Não é qualquer doido, é o doido eloquente, porque essa combinação de imprevisto e veemência parece seduzir as pessoas que estão cochilando com a mesmice da vida. E ele vai de lugarejo em lugarejo. Desmancha uma procissão jogando dinheiro pro alto (“...a se curvar, o povo, em gatinhas, para poderem catar prodigiosamente aquela porqueira imortal”). E o séquito vai aumentando. As aventuras do Patrão são variadas, e nas mãos de um prosador com outro perfil renderia talvez um romance divertido como O Grande Mentecapto (1979) de Fernando Sabino. Vagalume segue o patrão como Sancho seguia o Quixote, sempre de olho, para que não se meta numa encrenca grossa. E ele também se entusiasma com o inédito daquilo: Todos vindos, entes, contentes, por algum calor de amor a esse velho. A gente retumbava, avantes, a gente queria façanhas, na espraiança, nós assoprados. A gente queria seguir o velho, por cima de quaisquer idéias. (p. 164) O furor vingativo do velho não arrefeceu: Ao que o velho sendo o que era por-todos, o que era no fechar o teatro. “Vou ao demo!” bramava. “Mato o Magrinho, é hoje, mato e mato, mato, mato!” – de seu sobrinho doutor, iroso não se olvidava. Súspe-te! (p. 164) Vagalume cavalga ao lado dele, e o tropel compassado dos cavalos vai fazendo brotar no texto a sugestão do título: Me passei para o lado do velho, junto – tapatrão, tapatrão... tarantão... tarantão... e ele me disse: nada. Seus olhos, o outro grosso azul, certeiros, esses muito se mexiam. Me viu mil. “Vagalume!” – só, só, cá me entendo, só de se relancear o olhar. “João é João, meu Patrão...” Aí; e – “patrapão, tampantrão, tarantão…” (p. 164) E assim segue a cavalgada, entre epopéias e onomatopéias, o grupo aumentando, até Vagalume se dar o trabalho de listar os “combatentes”, um prazer a que Riobaldo Tatarana se entrega várias vezes no Grande Sertão: Veredas: E eu ali no mei. O um Vagalume, Dosmeuspés, o Sem-Medo, Curucutu, Felpudo, Cheira-Céu, Jiló, Pé-de-Moleque, Barriga-Cheia, Corta-Pau, Rapa-pé, o Bobo, o Gorro-Pintado, e o sem-nome nosso amigo. E é essa “estranha cavalgada” que irrompe na casa do Magrinho, o sobrinho-doutor. E vejam só – a casa está em festa! É o dia do batizado da filha do Magrinho, e tudo ali é uma alegria só. Chega de repente esse Exército Brancaleone, empoeirado, suado, em bater de cascos e tinir de esporas. No meio a incerteza e da surpresa geral, o Patrão pede a palavra! Todos, em roda de em grande roda, aparvoados mais, consentiram, já se vê. Ah, e o Velho, meu Patrão para sempre, primeiro tossiu: bruba! – e se saiu, foi por aí embora a fora, sincero de nada se entender, mas a voz portentosamente, sem paradas nem definhezas, no ror e rolar das pedras. Era de se suspender a cabeça. Me dava os fortes vigores, de chorar. Tive mais lágrimas. Todos, também; eu acho. Mais sentidos, mais calados. O Velho, fogoso, falava e falava. Diz-se que, o que falou, eram baboseiras, nada, idéias já dissolvidas. O Velho só se crescia. Supremo sendo, as barbas secas, os históricos dessa voz: e a cara daquele homem, que eu conhecia, que desconhecia. (p. 166) A festa termina assim em festa (Vagalume confirma: “Com alegria. Não houve demo. Não houve mortes”) e o conto se instala numa outra vertente da obra de Rosa, não muito comentada, mas presente. Como a define Paulo Rónai, em seu prefácio, “Os Vastos Espaços”, ao livro de Rosa: “o conflito esperado deixa de se cumprir”. Rónai identifica essa tendência dramática igualmente em “Famigerado”, “Os irmãos Dagobé”, “O Cavalo que Bebia Cerveja”, “Luas-de-Mel” e “Darandina”. Rosa é conhecido pelo sopro épico de suas batalhas de jagunços, seja nos duelos homem-a-homem, seja nos combates tropa-a-tropa. Nestes contos, no entanto, posteriores ao Grande Sertão, emerge o outro lado – o Rosa diplomata, o Rosa conciliador e negociante, o Rosa de sorriso zen-melífluo, o demarcador de fronteiras mutuamente concordadas, um homem com a preocupação-de-ofício de agüar os conflitos antes que eles peguem fogo. Em “Tarantão”, ficamos sem saber o que o Patrão queria de fato – se ia mesmo matar o Magrinho e se comoveu ao ver o batizado – ou se tudo aquilo era esperteza prévia para alvoroçar meio sertão e arrebanhar uma “cruzada” de gente apanhada-a-laço. Mas tem quem possa sber o que um doido pensa? Só se for doido também. Como o autor do conto (controladamente, estudadamente, bonacheiramente) devia ser. (O último curso deste ano; quem se interessar se apresse) 4955) Tradutor, o herói invisível (24.6.2023) Em seu magistral e enciclopédico compêndio de tradução Le Ton Beau de Marot (Basic Books, 1997), Douglas Hofstadter sugere a seguinte parábola (Cap. 13, trad. BT): Aqui estão dois tostões de diálogo para vocês, o tipo de conversa que alguém pode ouvir facilmente numa grande cidade, ou num campus universitário: Ele: Está sabendo? Vladimir Horowitz está na cidade, e vai dar um recital neste sábado. Ela: Uau, vamos assistir! Me diga, ele vai tocar o quê? Ele: Não faço idéia. Não tem a informação no cartaz. Mas vai ser uma beleza, Horowitz é sempre grande. Ela: Ah, Horowitz! Que pianista! Posso passar a vida inteira escutando-o! E agora, eis um diálogo bastante parecido, mas um que você nunca, jamais, em tempo algum vai ouvir, seja numa metrópole ou num campus: Ele: Está sabendo? Gregory Rabassa acaba de traduzir mais um livro! Ela: Uau, que notícia maravilhosa. Já está à venda? Ele: Acho que não, mas em todo caso deve estar daqui a um ou dois meses. Ela: Oh, sim... aliás, quem é o autor? Ele: Não faço idéia. Não tinha essa informação no anúncio que eu li. Mas vai ser uma beleza, Rabassa é sempre grande. Ela: Ah, Rabassa! Que tradutor! Posso passar a vida inteira lendo suas lindas frases! Se você pensa que esta segunda conversa tem alguma possibilidade de acontecer... vá sonhando, amiguinho, vá sonhando. A inequação armada por Hofstadter mostra muito bem as semelhanças e as diferenças entre as duas profissões. Um pianista é uma espécie de tradutor, no sentido de ser um intermediário imprescindível entre a partitura e o ouvinte. Um tradutor é uma espécie de instrumentista, fazendo com que o leitor que não lê inglês (ou coreano, ou mandarim) desfrute a experiência estética cifrada no original. (Ou quem sabe “a ilusão da experiência”, mas nem vamos mexer nesse formigueiro.) Meu amigo californiano Harry Ingham lamentava não saber escrever em espanhol. “Se eu escrevesse em espanhol”, dizia ele, “teria alguma chance de ser traduzido por Gregory Rabassa, e meu livro em inglês ficaria infinitamente melhor”. Exagero? Só um pouco. Um dos detalhes imponderáveis da tradução é a escolha de vocabulário. Muitas vezes eu coloco uma palavra que funciona bem no contexto, e me dou por satisfeito. Pode haver, porém, um sinônimo que acrescente alguma coisa à frase – uma nuance de significado, um efeito rítmico, uma conotação mais ampla... Se alguém “traduzisse” minha frase para o português, com essa alteração, eu seria o primeiro a pensar: “Rapaz, ficou muito melhor... Como isto não me ocorreu?” Já comentei aqui no Mundo Fantasmo o livro de Rabassa, If This Be Treason (2005), em que ele comenta muitas de suas traduções da literatura latino-americana. Rabassa explica, em longos parágrafos, algumas opções de tradução do clássico Cien Años de Soledad (1968) de Garcia Márquez. O título, por exemplo: A Hundred Years of Solitude or One Hundred Years of Solitude? Ele opta por este ultimo, e explica por quê. Do mesmo modo, explica por que razão “solitude” lhe parece superior a “loneliness”. Sobre o livro, aqui: https://mundofantasmo.blogspot.com/2014/11/3666-gregory-rabassa23112014.html O tradutor é apenas um coadjuvante no show literário, mas sem a sua competência o show poderia desmoronar. Podemos imaginar um contexto futuro em que a sugestão de Hofstadter pudesse se tornar real – as pessoas comprando um livro não pelo autor, mas pelo tradutor, para fruir o trabalho do tradutor. Por que não? Ariano Suassuna, que gostava de demonstrações por absurdo, criou no Romance da Pedra do Reino (1971) o personagem Samuel Wandernes, um intelectual católico, monarquista, e nacionalista. Para Samuel, tudo que é brasileiro é superior ao estrangeiro, inclusive na literatura. No Folheto LXXVII do livro, ele diz: Sou nacionalista, e, podendo, pilho os estrangeiros o mais que posso! Para mim, Manoel Odorico Mendes é o autor dos originais da ‘Ilíada’ e da ‘Eneida Brasileira’: Homero e Virgílio são, apenas, os tradutores grego e latino dessas obras dele! Castilho é o autor do ‘Fausto’ e do ‘Dom Quixote’, assim como José Pedro Xavier Pinheiro é o verdadeiro autor da ‘Divina Comédia’ que Dante traduziu para o italiano! Exagero? Talvez, mas não podemos esquecer que Eça de Queiroz traduziu As Minas do Rei Salomão (1885) de H. Rider Haggard, tomando extensas liberdades com o texto original (o protagonista Allan Quatermain, por exemplo, vira “Alão Quartelmar”), numa verdadeira adaptação – tanto assim que este volume é habitualmente incluído nas edições das obras completas de Eça. É um dos livros de juventude de Ariano, e não é difícil ver aí uma fagulha inicial da megalomania nacionalista de Samuel Wandernes. Há muitos casos de tradutores que cedem à vaidade de aparecer mais do que o autor, de mexer no texto do autor. Às vezes por pressa e impaciência: já li romances policiais traduzidos por Monteiro Lobato em que ele pulava páginas inteiras de descrições de ambientes (a mansão do milionário, etc.), o que às vezes deixava a narrativa até mais leve e mais rápida. (Mas não aconselho ninguém a fazer isto.) Recentemente estourou na imprensa um pequeno escândalo relativo a uma tradução para o inglês de um romance de Machado de Assis, quando um professor norte-americano verificou que a edição que ele usava em aula era mais completa do que a dos seus alunos, onde capítulos inteiros tinham sido suprimidos. Isto não é nada diante da façanha de William Julius Mickle, que em 1776 fez uma tradução de Os Lusíadas de Camões, e teve a cara-de-pau de incluir uma batalha marítima que não existe no original. Veja aqui: https://mundofantasmo.blogspot.com/2009/05/1041-os-lusiadas-emingles-1872005.html 4956) Primeiras Estórias: os temas eternos (27.6.2023) O mês de julho é de férias pra todo mundo, menos para os free-lancers. Vou aproveitar esse mês em que muita gente fica com a agenda mais liberada e vou oferecer mais um curso online pelo Instituto Estação das Letras. A vantagem do curso online é poder captar alunos do Brasil inteiro, e mais além, se for o caso. Meu curso mais recente (“Lendo Sagarana”, março/maio) teve alunos de Pernambuco, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, etc. Como foi grande o interesse em discutir os contos de Guimarães Rosa, farei agora em julho, todas as segundas e quartas-feiras, “Primeiras Estórias: os Temas Eternos”. A motivação principal para estes cursos é o fato de que o romance Grande Sertão: Veredas (1956), por ser a obra mais monumental do escritor mineiro, acaba atraindo a maior parte das análises, dos comentários, das leituras. Não tenho nenhuma objeção: é um desses livros inesgotáveis, cuja releitura sempre me dá prazer e proveito. Os contos de Rosa, no entanto, ficam meio jogados para escanteio, o que é um desperdício, porque são consistentemente ótimos, originais, personalíssimos. É uma obra contística incomparável, em termos de variedade, domínio da linguagem, imaginação, carga afetiva e emocional, observação perceptiva da vida brasileira, busca do significado cósmico da existência humana. No curso sobre Sagarana (1946), tivemos dez aulas: uma introdução e nove aulas sobre os nove contos do livro. O livro Primeiras Estórias (1962) tem 21 contos e seria contraproducente estender o curso até 21 aulas. Além do mais, eu não determino sozinho o formato do curso – ele precisa se encaixar na grade de programação do IEL, que realiza simultaneamente inúmeros cursos, oficinas e palestras. Vai daí que arrumei os 21 contos do mestre Rosa em oito áreas temáticas que cobrem, de modo aproximado, todas as estórias. Advirto sempre que meus cursos não são cursos acadêmicos, de minuciosa análise estilística, linguística, estrutural, etc. Sou um leitor antes de ser escritor, e minhas palestras tentam chamar a atenção para os aspectos essenciais dos contos, e quebrar a aura de “dificuldade”, “ilegibilidade”, “hermetismo” que muita gente ainda atribui à obra de Rosa. Rosa era um erudito, um poliglota, um homem de vastas leituras, mas acima de tudo era um apaixonado pela língua portuguesa-brasileira, e pela arte de contar estórias. Levava ao pé da letra aquela máxima de “dizer as coisas velhas de maneira nova”. Escrevia se divertindo, escrevia dando gargalhadas, escrevia com a alegria de um menino-sabido que arma um alçapão de varetas para capturar um leitor. (ilustração: Luhan Dias) A organização do curso (que começa na 4ª.feira, dia 5 de julho) está mais ou menos assim: “Primeiras Estórias: os temas eternos” Um estudo de alguns temas constantes na obra de Guimarães Rosa, com a leitura comparada dos contos do livro “Primeiras Estórias”. Oito aulas, duas aulas por semana. Total: quatro semanas. Das 19 às 21:00. Estação das Letras: (21) 99127-4088 Aula 1 – 5 de julho, 4ª.feira, 19 às 21:00 A infância e suas descobertas Contos: “As margens da alegria”/”Os cimos”, “A menina de lá”, “A partida do audaz navegante”, “Pirlimpsiquice” Aula 2 – 10 de julho, 2ª.feira, 19 às 21:00 Jagunços: violência e autoridade Contos: “Os irmãos Dagobé”, “Famigerado”, “Fatalidade”, “Tarantão, meu patrão” Aula 3 – 12 de julho, 4ª.feira, 19 às 21:00 Viagens fantásticas Contos: “Um moço muito branco”, “A terceira margem do rio”. Aula 4 – 17 de julho, 2ª.feira, 19 às 21:00 A alma feminina Contos: “Substância”, “A benfazeja”. Aula 5 – 19 de julho, 4ª.feira, 19 às 21:00 Os doidos Contos: “Sorôco, sua mãe, sua filha”, “Darandina”, “O cavalo que bebia cerveja”, “Tarantão, meu patrão”. Aula 6 – 24 de julho, 2ª.feira, 19 às 21:00 O mistério da existência Contos: “A terceira margem do rio”, “O espelho”, “Nada e a nossa condição”, “O cavalo que bebia cerveja”. Aula 7 – 26 de julho, 4ª.feira, 19 às 21:00 A arte de contar histórias Contos: “Pirlimpsiquice”, “Partida do audaz navegante”, “O espelho”. Aula 8 – 31 de julho, 2ª.feira, 19 às 21:00 As formas do amor Contos: “Nenhum, nenhuma”, “Sequência”, “Luas de Mel” Esta classificação é bem arbitrária, porque a maioria dos contos toca em vários destes temas, então a decisão de colocar cada num nesta “caixinha” e não em outra é apenas para facilitar a organização. Como sempre faço, utilizarei uma cópia do livro em PDF para vermos o texto na tela, quando necessário, mas reitero a minha recomendação de que todo mundo compre o livro físico. Não sei quanto está o preço na livraria. Seja quanto for, está barato. “Vida havendo e saúde não faltando”, como dizia José Saramago, pretendo no ano que vem (pois no segundo semestre deste ano tenho muitas viagens a fazer) preparar um curso semelhante. A dúvida é apenas optar entre as sete noveletas de Corpo de Baile (1956) e as quarenta historietas de Tutaméia (1967). Cada um de nós se esquecera de seu mesmo, e estávamos transvivendo, sobrecrentes, disto: que era o verdadeiro viver? E era bom demais, bonito – o milmaravilhoso – a gente voava, num amor, nas palavras: no que se ouvia dos outros e no nosso próprio falar. E como terminar? ("Pirlimpsiquice") 4957) Entrevistas Transcendentais: Edgar Allan Poe (30.6.2023) O sol de Baltimore, nesta tarde de outono e céu azul, brilha como se por trás de uma redoma, lançando muito pouco calor sobre a rua. Caminho devagar, olhando as fachadas, até localizar o número 203. É uma casa de esquina com tijolos marrons, dois andares, uma lucarna projetando-se para fora lá no alto, onde deve ser o sótão. Subo os degraus da entrada, toco a campainha. Sou recebido por uma curadora metódica, trajando uniforme. De iPad em punho, ela checa meu agendamento, pede meu login e senha, indica-me a escada. Olho em torno. Mobília de época: móveis pequenos, reluzentes, nenhuma toalha de mesinha fora do lugar. Vou subindo para o sótão, onde ele fez seu gabinete de escrita. Do segundo andar para o sótão a escada é meio desconjuntada, insegura, e com o teto muito baixo. Imagino com que esforço os visitantes idosos que vieram antes de mim conseguiram subir. No sótão, o teto é inclinado, mal permitindo a uma pessoa de estatura normal ficar com o corpo ereto. (Amity Street 203 / Google View) Ele está sentado numa cadeira junto à lucarna. No parapeito largo da janela há um corvo empalhado, sobre um pedestal de madeira. Numa mesinha próxima, uma bandeja com chá. Ele se ergue, aprumado, cavalheiresco, estende-me a mão com a pose de um gentleman que perderá os ossos antes de perder as boas maneiras. Indica-me uma cadeira próxima, serve chá para nós dois. As mãos tremem ligeiramente, mas não hesitam. Trocamos amabilidades; ele ergue uma sobrancelha diante do meu sotaque, mas estou me esforçando para falar de forma compassada, separando bem as palavras, mesmo que isso me dê um ar artificial. A voz dele é profunda, melodiosa, e passa-me pela cabeça a idéia de que em outros tempos poderia ter sido um locutor de rádio. Mas não: é o teatro, o teatro que ele nunca praticou, mas tem no sangue. Ou talvez tenha praticado a vida inteira – autor, ator e personagem. BT – Mr. Poe, o senhor produziu uma quantidade espantosa de textos em sua curta existência. Na minha biblioteca, o volume dos seus “Contos e Poemas Reunidos” tem 1.026 páginas, e o de “Ensaios e Resenhas” tem 1.472. Como vê essa produção, hoje? Preferiria ter escrito menos? Mais, talvez? POE – Sou um escritor profissional. Não penso em termos da obra acumulada, penso apenas no texto que produzo naquele momento. Vivo em função do presente, não da posteridade. Não tenho do que me queixar. Tive uma vida difícil, cheia de conflitos familiares, decepções pessoais, penúria financeira; mas não a vejo como uma vida diversa da maioria das pessoas da minha época. E, embora muitos possam me considerar um incompreendido, fui um editor respeitado, meus contos e poemas foram recebidos com admiração. Muitos contemporâneos meus, homens e mulheres de talento, não alcançaram certos patamares de sucesso que eu conheci. BT – Pessoas de talento, concordo; mas sem a sua fagulha de genialidade. POE – Sempre achei que os maiores gênios, os mais brilhantes intelectos que a humanidade produziu, não devem ser procurados nas academias ou nos salões científicos, e sim no manicômio ou na prisão. Terão sido gênios, mas em seu século foram tidos como incoerentes ou insanos. O vigor de uma inteligência excepcional não garante que nos comunicaremos com nossos contemporâneos. Sem ter um semelhante com quem dialogar, um indivíduo desse tipo prega no deserto e amedronta até os que mais o querem. Nossas sociedades se organizaram de forma a reconhecer o talento individual e empregá-lo em seu benefício, mas o “gênio”, pelo seu caráter de incontrolável rebeldia, terá sido na maioria das vezes vítima de incompreensão, perseguições e castigos. (Poe, by Court Jones) BT – O senhor é tido, hoje, como um dos criadores, ou precursores, de três tipos muito populares de literatura: a narrativa de mistério detetivesco, a ficção científica e o conto de horror. Não sei se, na época em que escrevia, essas distinções eram assim tão claras. POE – Não eram. Como editor, descobri cedo o quanto é útil produzir no leitor algum tipo de expectativa prévia. Algumas vezes usei o termo “contos de raciocínio”, pois este me parece um filão pouco explorado da literatura. A literatura do meu tempo era fervilhante de sentimentos, de emoções ora nostálgicas ora assombrosas, e eu também as explorei, ao meu modo. Mas minhas histórias sobre a importância do raciocínio, da interpretação correta de fatos e aspectos da realidade constituem, para mim, um gênero legítimo dentro da literatura. Contos tão diversos quanto como “O Escaravelho de Ouro”, “Descida no Maelstrom”, “Tu És o Homem” e “A Queda da Casa de Usher” abordam esse tema: o raciocínio aplicado a situações limite. BT – Ainda hoje os apreciadores da literatura policial discutem sobre a importância do detetive raciocinador nessas narrativas. POE – Considero um erro, ou pelo menos uma limitação desnecessária, apor o rótulo “policial” a essa literatura, que nem sempre envolve polícia ou criminosos. O raciocínio é uma das luzes que o Criador nos deu, e não é privilégio de policiais. (ergue-se, caminha pelo sótão enquanto com as mãos ilustra a cena que descreve) Tenho em minha casa uma gata que aprendeu sozinha a abrir a porta para sair, pulando para agarrar-se ao ferrolho, movendoo com a pata, impulsionando a porta para abri-la, e depois pulando para o chão e saindo. Os animais têm sua forma de raciocínio; mais rudimentar que a nossa, por certo, mas real. Pude utilizá-la na justificativa para os crimes da Rua Morgue, onde um animal com instinto imitativo mata uma pessoa sem saber o que está fazendo. (Detém-se diante de uma gravura na parede, mostrando um gato preto em pose imperial, sobre uma almofada.) Quem tem animais domésticos, sejam cães ou gatos, sabe dos seus lampejos extraordinários de inteligência na resolução de problemas práticos. No homem, esses lampejos podem ser fonte infinita de inspiração literária, para além da mera investigação criminal. Isto que chamam hoje de “detetive” não se distancia muito de um médico que em dez minutos de conversa com um doente reúne elementos suficientes para deduzir o mal que o aflige, ou de um relojoeiro, que abre o nosso relógio e rapidamente descobre a razão do seu defeito. É o raciocínio aplicado aos dados da vida concreta. BT – Esta sua tendência de pensamento nunca entrou em conflito com a sua fascinação pelos aspectos sombrios, inconscientes e indecifráveis da mente humana, e do Universo? POE – Nosso espírito tem marés que avançam e recuam, como as dos oceanos. Não nego que em vida tive fases de exaltação e fases depressivas, bem como fases de auto-confiança no intelecto e fases de pavor diante de aspectos inexplicáveis de nossa existência. Falei que o terror não vem da Alemanha, vem da alma, tentando exprimir essa percepção de que esse medo reside em nós e não podemos fugir dele. Podemos entendê-lo, interpretá-lo, e neste caso a mente raciocinadora nos ajuda, se não a eliminar o terror, a colocálo em palavras. Não deixa de ser um triunfo parcial. BT – A palavra nos dá uma sensação de poder, diante da realidade... Ele volta a sentar. Estende o braço e acaricia a penugem do corvo empalhado, com ar distraído. POE – Sim... Quando me referi ainda agora à inteligência dos animais, não mencionei o corvo, que é rapidíssimo na solução de problemas, usa instrumentos agarrados com o bico, e demonstra ter uma clareza de pensamento que nos assusta. Por isso o elegi como protagonista de um dos meus poemas. Ele é, sim, o espírito da noite, o anjo ou demônio que negreja. Mas ele se exprime através da palavra, de uma única palavra: “Nevermore”. O que esta palavra significa fica a cargo do raciocínio do narrador, e este, a cada passo, dá a ela um sentido diferente em relação a sua própria vida. Talvez sejamos como o corvo. Talvez toda a literatura da espécie humana seja essa palavra, que um dia será lida por uma espécie superior à nossa, tal como o homem é superior ao corvo. E essa espécies de seres superiores dará, ao que escrevemos, sentidos que nos escapam. (Poe, by Edouard Manet) BT – Esta sua valoração da inteligência nos animais poderia se estender, talvez, até as máquinas? POE – Em princípio, nada impede que isto ocorra, se imaginarmos a inteligência como um processo combinatório definido por uma mecânica de possibilidades e escolhas, uma faculdade meramente acessória do Espírito, e sem a transcendência deste. O senhor deve lembrar o meu artigo sobre o Turco Enxadrista. Recusei-me a crer numa máquina capaz de jogar xadrez, nas condições daquela época. Pareceu-me mais plausível, pela navalha de Occam, que se tratasse de um mero truque: um homem oculto no gabinete de madeira. Nada impede, porém, que em condições técnicas mais avançadas isso possa ser obtido. O xadrez pode ser reduzido a combinações matemáticas, e os exemplos da calculadora de Pascal ou da máquina de Charles Babbage poderiam ser direcionados para operações tão complexas quanto as que o jogo requer. BT – E quanto a operações mais complexas ainda? A criação de textos ficcionais, por exemplo? POE – Em primeiro lugar, devo insistir na distinção entre a mente humana, onde brilha o Espírito, e uma máquina, por mais poderosa que seja. Com esta ressalva, não vejo por que seria impossível criar um mecanismo capaz de gravar em sua memória um número extraordinário de combinações numéricas, e depois atribuir a esses elementos as mesmas funções das nossas palavras e dos fragmentos do nosso discurso. É uma operação análoga à que descrevi em “O Escaravelho de ouro”, só que com palavras e frases no lugar de letras, portanto em outro patamar de complexidade – imenso, mas não inatingível. BT – A criação de frases seria um processo meramente estatístico? POE – Não apenas isso, mas esse aspecto é essencial para a criação de filtros de probabilidade. No xadrez, em cada momento há centenas de jogadas possíveis, permitidas pelas regras; mas o intelecto do jogador descarta de pronto todas as jogadas inócuas, contraproducentes, irrelevantes, e se concentra naquelas que têm maior peso para a disputa travada no tabuleiro naquele instante. Num criptograma, estabelecemos regras de probabilidade para as letras, sendo a letra “E” a mais frequente em nosso idioma inglês; e regras específicas, como a de haver sempre uma letra “U” após a letra “Q”, etc. Esse cálculo pode ser ampliado para pequenas frases. “Céu azul”, “céu nublado”, “céu chuvoso” são combinações frequentes; “céu cavalo” “céu xícara”, “céu assoalho” não fazem sentido e podem ser descartadas. As regras gramaticais eliminariam automaticamente bilhões de respostas possíveis, e o avanço seguinte da máquina se daria num repertório de escolhas bem mais reduzido. BT – Pode-se criar textos literários dessa maneira? Prosa, poesia? POE – É discutível, mas é uma questão em aberto. Assim como não há mistério concebido pela mente humana que outra mente humana não possa esclarecer, também não existe prodígio concebido pela imaginação humana que o engenho humano não possa tornar realidade. Faço apenas a ressalva de que a um processo 100% mecânico de criação de textos faltariam duas condições essenciais à literatura humana: alma e corpo. Entre os bilhões de combinações de palavras que nossa mente analítica pode formar, é o Espírito quem decide as mais elevadas, as mais nobres, as mais carregadas de verdade humana. E há também o nosso corpo, de quem nossa linguagem tanto depende. Criamos literatura com o corpo, tanto quanto com a mente. Alguém incapaz de escutar conceberia um poema como “The Bells”? A audição e a visão são essenciais a tudo que produzi. Muitos efeitos de contos como “A Tale of the Ragged Mountains”, “The Sphinx”, “The Oval Portrait”, “A Descent of the Maelstrom” dependem essencialmente do modo como nossos olhos enxergam. Por outro lado, efeitos sonoros e percepção auditiva são essenciais em ”The TellTale Heart”, “The Fall of the House of Usher” etc. Pergunto: uma máquina combinatória, sem corpo, poderia espontaneamente produzir histórias desse teor? O senhor deve recordar as críticas do Chevalier Dupin aos procedimentos da polícia parisiense, no episódio do orangotango. Ele ironizava o chefe de polícia dizendo-o “esperto demais para ser profundo” e que sua inteligência tinha apenas cabeça, e não corpo. E no caso da carta furtada, o ministro D. tinha qualidades de poeta e de matemático, porque se tivesse apenas estas últimas estaria às mãos da polícia, que tem esse tipo de raciocínio. Uma máquina-escritora, sem a inspiração divina do Espírito, e sem um corpo (incluo aqui todos os poderes de observação empática de outros seres humanos, como no caso dos jogadores de whist), não poderia ter a fagulha poética, criadora. Seria um mero mecanismo re-arranjador de frases previsíveis. O smartphone me dá um aviso vibratório e inicia a contagem regressiva de dez minutos. Ergo-me, despeço-me dele, desejo-lhe um dia produtivo de trabalho, pois não me escapou à vista, no outro extremo do sótão, a bancada coberta de folhas garatujadas, os tinteiros cheios, os porta-penas, os mataborrões. O contrato me impede de questioná-lo a respeito do que está escrevendo, porque poderia produzir uma alteração no algoritmo. Nosso último aperto de mãos me recompensa com um olhar cálido, cheio de companheirismo. POE – Fico muito grato pela sua visita. Há tão poucas pessoas que me procuram hoje em dia. Brasil, não é mesmo?... Que surpreendente. Bem, leve consigo minhas melhores lembranças aos meus leitores de Buenos Aires. BT – Tem pelo menos dois, lá, e o admiram muito. A escada íngreme e a funcionária atenciosa me conduzem de volta àquela rua pacata, àquele trecho de cidade sub species aeternitatis, àquela grama que não cresce, àquele sol que não aquece, ao céu daquele corvo que não crocita nunca mais. (Nota necessária: esta série de "Entrevistas Transcendentais" é composta por textos imaginários. Eu não entrevistei essas pessoas.) Augusto dos Anjos: https://mundofantasmo.blogspot.com/2021/01/4660-entrevistastranscendentais.html Philip K. Dick: https://mundofantasmo.blogspot.com/2020/08/4608-entrevistastranscendentais-philip.html Agatha Christie: https://mundofantasmo.blogspot.com/2020/05/4583-entrevistastranscendentais-agatha.html Julio Cortázar: https://mundofantasmo.blogspot.com/2020/12/4651-entrevistastranscendentais-julio.html Alfred Hitchcock: https://mundofantasmo.blogspot.com/2022/12/4894-entrevistastranscendentais-alfred.html 4958) Salve o compositor popular (3.7.2023) Fazer uma música é um dos prazeres mais simples e artesanais que nos restam, num século em que tudo tem que ser, a) monumental, b) lucrativo, ou c) legitimador de alguma tecnologia recém-posta à venda. Há quem diga que literatura é a mais barata das artes, uma “arte a custo zero”, porque pode-se escrever um livro inteiro usando apenas papel e lápis. Pois olhe, música você pode fazer de mãos nos bolsos, e assobiando pra não esquecer a melodia. Eu já compus assim. Quantos bilhões de melodias já terão sido inventadas, decoradas e repetidas, nestes últimos milênios de História? Perderam-se? Foram esquecidas? Que importa? Também se perderam ou foram esquecidas as pessoas que as criaram, e mesmo assim não acho que a maioria delas creia que viveu em vão. Tenho para música aquilo que a gente chama de “ouvido duro”: dificuldade para lembrar uma melodia, para distinguir duas notas ou dois acordes muito parecidos, para perceber que uma corda de violão está semitonando. Talvez por isso mesmo, cada lararaiá que inventei me parece um triunfo pessoal sobre mim mesmo, digno de comemoração. Uma vez, na casa de alguém, eu estava conversando com um músico de orquestra sinfônica, um cara da minha idade, mas com uma carreira profissional que já vinha desde a infância. – Acho incrível a pessoa que compõe – disse ele. – Tocar, como eu toco, é fácil. Mas compor! Nunca consegui compor uma música. – Mas é muito fácil – disse eu, com a auto-confiança dos primitivos. Peguei um violão que estava por perto, arpejei meu ré-maior básico e comecei a solar. – Tiruliruliro... tralá-laiá... Pronto, está aqui uma melodia. Compus agora. Ele recuou horrorizado, como se eu tivesse lhe exibido uma ratazana sanguinolenta. – Mas compor não é isso! – exclamou. – Não é apenas enfileirar notas. É algo muito mais complexo. Ele tinha razão. Ele é um músico erudito. Eu sou um músico popular. Eu posso compor assobiando, em pé no ônibus. Eu posso me dar o luxo do lugarcomum, do formatinho banal, da melodia naïve. O luxo da repetição, como o pintor de paisagens da Praça General Osório. Ele, não. Para ele, vale sem dúvida a máxima de Thomas Mann quanto à literatura: “Escritor profissional é aquele para quem o ato de escrever é mais difícil do que para as outras pessoas”. Minha primeira música gravada foi “Caldeirão dos Mitos”, que Elba Ramalho incluiu em seu segundo álbum, Capim do Vale (1980). Quando o disco saiu, eu tocava a faixa cinquenta vezes por dia, para me assegurar de que ela não tinha ido embora. Era bom demais para ser verdade. Uma noite, nessa época, estava bebendo com amigos num bar de João Pessoa, e a algumas mesas de distância um grupo de jovens alegres, de violão em punho, cantava músicas variadas. De repente, começaram a cantar o “Caldeirão”: “Tãrãrã-tãrãrã... Eu vi o céu à meia noite, se avermelhando num clarão...” Comoção geral na minha mesa; eu fiquei sem fala. Os amigos me disseram: “Vai lá!... Vai na mesa deles, fala que a música é tua!” Eu, sabiamente, não fui. Ir para quê? Para amarrar a importância da música à presença do autor? De jeito nenhum. Música gravada é passarinho fora da gaiola. “Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho... voou, voou, voou, voou...” Alguns anos atrás, eu estava na FLIP, em Paraty. Tinha acabado de anoitecer e eu vinha testando meus tornozelos por cima das pedras traiçoeiras daquele calçamento. Numa esquina, encontrei um ou dois amigos fazendo parte de um grupo maior. Parei, trocamos abraços, cumprimentos, apresentações rápidas, dez minutos de papo, e o grupo se desfez. Saíram todos e ficamos eu e um senhor, idoso, negro, bem vestido. – O senhor é nordestino – constatou ele, com simpatia. – Sou mesmo – disse eu. Estendi a mão e me apresentei: – Braulio Tavares, da Paraíba. – Prazer – disse ele. – Sou Edeor de Paula. Fiz um samba em homenagem ao seu Nordeste. Eu não reconheci o nome, como não reconhecera o rosto. – Que ótimo. Como é o samba? Ele pigarreou e puxou: – Marcado pela própria Natureza... E eu já emendei em uníssono, no tom dele, com o verso seguinte: -- O Nordeste do meu Brasil... Oh, solitário sertão, de sofrimento e solidão... (Edeor de Paula) E ali, naquela encruzilhada de um começo de noite paratiense, cantamos todo o samba “Os Sertões”, que desde 1976, quando foi lançado pela escola Em Cima da Hora, eu me acostumara a cantar em Campina Grande, na nossa batucada de fins de semana, a “Batucada de Lanka”. Cantando junto com o autor, eu me lembrei de Lanka, de Lucy, de Chiquinho, de Marquinho, dos batuqueiros que já se foram e que dariam altas gargalhadas se me vissem ali, quarenta anos depois, tirando a maior onda e cantando o samba junto com o autor do samba. Seu Edeor se comoveu, certamente; nos despedimos com um abraço amistoso, e ele deve ter experimentado pela milésima vez o raro prazer de ser conhecido por uma música que criou. Não existe fórmula nem receita para fazer música. Ela pode ser criada na calada da noite por uma pessoa sozinha, e pode surgir numa ruidosa mesa de bar, rabiscada às pressas em guardanapos, com palpites e pitacos até do garçom. O que importa é que depois de criada a música cria seu primeiro círculo de ressonância, entre os que cantam, os que escutam, os que decoram, os que repetem... A música é gravada e ai vira tudo outro patamar. A gente ouve a música no rádio do táxi, no corredor do shopping, no palquinho de um forró, no altofalante da rodoviária, na sala de espera do dentista... É um passarinho que voa para onde quer, sem pedir outra coisa senão o alpiste de três minutos de atenção. O cara que compôs a música também escuta, mas dá menos atenção à música do que aos rostos e aos olhos de quem está ouvindo. Não basta a música tocar no rádio: ela tem que tocar as pessoas. Dizem que Oscarito, no auge das chanchadas que estrelava com Grande Otelo na Atlântida, costumava botar algum disfarce de óculos e chapéu e assistir ao filme nas sessões da tarde na Cinelândia. Entrava, sentava num cantinho... e não olhava para a tela. Olhava para a platéia. Queria ver se a piada funcionava, se o timing de uma cena tinha ficado correto... É nisso que a gente pensa: no que o público está pensando. O que bate com um preceito sábio de Bertolt Brecht, quando explicava a diferença entre o teatro tradicional e o seu teatro épico: no teatro tradicional, a platéia observa o palco; no teatro épico, o palco observa a platéia. Por isso quando a gente encontra um desconhecido numa esquina e ele, sem saber sequer o nosso nome, é capaz de lembrar e cantar uma música que a gente fez, então nesse momento o circuito se fecha. A energia flui. A gente fica sabendo (mais uma vez) que aquela noite em claro não foi em vão. 4959) Zé Celso Martinez Corrêa, 1937-2023 (6.7.2023) Um livro famoso de Zuenir Ventura chamou 1968 de “o ano que não terminou”, e a morte de Zé Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina de São Paulo, é mais um lembrete da longevidade daquela época de geléia geral, de miserere nobis, de divino maravilhoso, de brutalidade jardim. Zé Celso era no universo do teatro uma figura semelhante à que Glauber Rocha foi no cinema ou que os compositores baianos foram na música popular. Era um criador incansável, um desarrumador de mobília, um subversor de dicionários, um sistemático derrubador das fronteiras entre a arte coletiva e a vida pessoal. Alguém citou nestes dias, nas redes sociais, uma frase atribuída a ele: “É preciso viver ao vivo, e também morrer ao vivo”. Dele ou não, a frase o exprime. E exprime toda uma estética que explodiu em meados do século passado, uma mistura herética entre a arte e a vida. Essa mistura, essa mestiçagem ilegal permeou o rock, o teatro, a poesia, o cinema, as artes plásticas e sei lá mais o quê. Ainda é costume chamar essa explosão de A Contracultura, termo com que Theodore Roszak a exprimiu num livro excelente e hoje esquecido. A verdade é que o conceito tinha em si essa própria essência explosiva de mandar cada fragmento em sua própria trajetória, afastando-se uns dos outros. Foi uma espécie de Big Bang. Uma crítica frequente que se faz a elementos dessa Contracultura é que as obras resultantes são chatas: os poemas dos beatniks, o cinema de Andy Warhol ou da fase final de Glauber ou de Godard, os LPs onde um lado inteiro era ocupado por jam sessions de roqueiros chapadões-do-bugre, os ritos dionisíacos de atores nus no palco... Concordo em grande parte, apenas com a ressalva de que quando alguém dinamita as fronteiras entre a Vida e a Arte é de se esperar que a Arte (antes limitada a obras nítidas, arrogantemente específicas, sequiosas de perfeição) acabe ficando parecida com a Vida: informe, desorganizada, sem rumo certo, à mercê do eventual narcisismo, ou preguiça, ou volúpia dionisíaca, ou agenda ideológica dos seus praticantes. Curiosamente, não me lembro de ter assistido nenhuma peça dirigida por Zé Celso. Havia sempre uma aura ameaçadora de ritualidade bacante em torno delas. Tenho uma vaga lembrança de algum espetáculo que veio ao Rio de Janeiro e alguém me disse: “Prepare-se para seis horas ininterruptas de festim, eles arrastam todo mundo para cima do palco e fazem tirar a roupa!”. O que no caso de um vitoriano como eu equivale a mandar ficar em casa. A peça-de-teatro-que-dura-um-dia-inteiro faz parte dessa concepção de arte e vida misturadas como café e leite. Lembro bem, na minha adolescência, o sobressalto de angústia das platéias da sociedade campinense quando a luz se apagava e o começo da peça mostrava um ator que entrava recitando a plenos pulmões, pelo meio do público. “A que ponto chegamos,” sussurrava alguém; “agora só falta o comunismo”. A "quarta parede" do palco italiano é um hímen mental que precisa ser tirado do caminho, teimosamente, a cada geração. O fato de que ela se reconstitui prova a sua necessidade; o fato de poder ser rompida prova que é apenas um elemento essencial, entre tantos outros, que cada artista trata como lhe convém. Zé Celso organizou um movimento, orientou um carnaval, criou em torno de si um castelo sem alicerces que ele levava para onde lhe convinha; mas ele não era apenas duende, era também lenhador, sabia prover necessidades. Sua batalha pela conquista do espaço do Teatro Oficina, num cabo-deguerra permanente contra os bilhões do Grupo Sílvio Santos, não é a batalha de um mero maluco beleza, é a batalha de um construtor. Tinha algo de Brancaleone ou de Dom Quixote, mas sabia assoprar como ninguém as chamas da guerra simbólica. Não tinha bilhões de reais investidos no Mercado: tudo que tinha investiu em papéis efêmeros: peças, poemas, manifestos, entrevistas. No mercado impalpável dos corações e mentes. Foi, a seu modo, uma espécie de guru psicodélico, teve o talento agregador de manter sempre em torno de si um grupo teatral permanente e flutuante. Uma pequena comunidade de seguidores, que eram ao mesmo tempo (isto vem na receita) executantes e problematizadores da proposta coletiva. Arte coletiva não subsiste sem um centro de decisão e de normatização (que é em geral uma pessoa, a figura do líder) e sem uma periferia indócil de pessoas criativas, contraditórias, solidárias, rebeldes, capazes de manter ao mesmo tempo esse ligação-tensa com o centro e com as outras pessoas em volta. Vendo os palcos sempre a uma certa distância, mais de uma vez me ocorreu comparar mentalmente o teatro de Zé Celso com o teatro de Antunes Filho. Deste último, sim, vi várias peças, acompanhei mais de perto, talvez por ser mais parecido com o tipo de teatro que me deixava mais à vontade. Tinha uma noção mais clássica de estrutura, de começo-meio-fim, e de um diálogo com o público baseado em expectativas mais nítidas. Em termos estruturais, o teatro de Antunes era o desfile de uma escola de samba, o de Zé Celso era um bloco bate-a-lata. (E eu acho as duas coisas igualmente boas e necessárias.) Posso estar cometendo erros e injustiças de julgamento, porque estou falando de um ofício de que conheço só um pouco (o Teatro) e da obra de um grande artista de quem não vi a luz, vi somente o luar refletido. No entanto, a simpatia instintiva que os trabalhos e as aprontações de Zé Celso me despertavam vem da minha curiosidade por esses criadores que preferem viver eternamente numa espécie de infância mental no bom sentido. Um estado permanente de curiosidade, de perguntas, de descobertas fundamentais, de brincadeiras gratuitas, de molecagens que fazem os críticos entrar em parafuso. Tal como Antunes, Glauber, Godard, deve ter sido uma pessoa fascinante de conhecer, mas não muito fácil de conviver, pelo seu voluntarismo com uma franja permanente de narcisismo, pela sua imprevisibilidade, pela recusa à repetição confortável do que já-deu-certo. Me lembra às vezes um depoimento de um músico de Bob Dylan: no meio do show, depois de um número, Dylan se volta para a banda e diz: “Agora vamos tocar Tangled Up In Blue, mas não é em Sol Maior, é em Lá.” E a banda que se vire para transpor – ao vivo. O Teatro é a arte do momento, a ciência do agora. Como dizia um amigo meu, “nem adianta filmar, o teatro é justamente o que a câmera não capta”. E quem o pratica, e quem fica depois que a luz se apaga, pode muito bem ter em mente, como consolo e triunfo, os versos de Carlos Pena Filho: Quando mais nada resistir que valha a pena de viver e a dor de amar, e quando nada mais interessar (nem o torpor do sono que se espalha); quando pelo desuso da navalha a barba livremente caminhar, e até Deus em silêncio se afastar deixando-te sozinho na batalha arquitetar na sombra a despedida deste mundo que te foi contraditório... Lembra-te que afinal te resta a vida com tudo que é insolvente e provisório, e de que ainda tens uma saída: entrar no acaso e amar o transitório. (foto: Ana Branco) 4960) Nordestinense: em grande quantidade (9.7.2023) No Rio de Janeiro, quando se quer falar em grande quantidade de algo se diz que tem coisa pra caramba, pra dedéu, a dar com um pau... Pronto, eis aí uma que eu acho muito boa. Haver alguma coisa “a dar com um pau” é uma boa maneira de exprimir visualmente a idéia de alguém rodeado de... de que? De sapos, de coelhos, de grilos, de torcedores de um time adversário – uma proliferação de criaturas incômodas, das quais o cidadão só pode se livrar empunhando um pedaço de pau e distribuindo bordoadas a torto e a direito. O linguajar nordestinense também é cheio de opções para se referir a grandes quantidades de alguma coisa. Quando queremos dizer que tinha muita gente dizemos com frequência que tinha ali “um horror” de gente. A palavra horror exprime bem o sentimento de espanto e de uma certa repulsa diante da situação descrita. “Tenho um horror de provas pra corrigir.” “Depois que ganhei na Mega-Sena tem um horror de pretensos amigos-de-infância me mandando mensagens de “lembra de mim”?...” Um horror é uma expressão que se usa nesse tom. Pode-se dizer, por outro lado, que tem alguma coisa “dando no meio da perna”. Outra imagem visualmente forte e evidente por si mesma. “Rapaz, fui na tal Festa de Cerveja, e a cerveja dava no meio da perna.” Ou seja, um verdadeiro alagamento. Até mesmo quando se refere a coisas não-líquidas, porque podese dizer também que “no carnaval de Olinda estava dando mulher no meio da perna”. Algumas dessas expressões são bem-humoradas, mas outras trazem consigo (como o “horror” citado acima) uma conotação misteriosamente aflitiva. É o que acontece quando se diz: “um castigo”. "Detesto ir num Banco no dia 1º do mês, é aquele castigo de gente, cada fila enorme." "Pensei em ir na praia ontem, mas quando vi o castigo de gente passando nos ônibus acabei desistindo." "Passei dois meses viajando, quando cheguei em casa tinha um castigo de contas pra pagar." Quando vejo essas frases tenho sempre uma vaga curiosidade em saber como surgiram. Não propriamente quem as inventou – que diferença faz, caso se descubra que quem primeiro usou “um castigo” foi um tal de Espiridião Curió, em Palmeira dos Índios, em 1835? Diferença nenhuma. Mas eu gostaria de entender o raciocínio que subjaz ao famoso “em banda de lata”. "Rapaz, eu fui na festa de Fulana ontem, tinha gente em banda de lata." "No dia em que fizerem uma devassa no ECAD, vão prender gente em banda de lata." Coletivos de pessoas são muitos, só esses encheriam um pequeno glossário. “Magote” é um dos meus preferidos, embora há anos não o use, para não gerar balloons interrogativos sobre a cabeça dos meus interlocutores cariocas. Em todo caso, é geralmente usado em tom levemente depreciativo, mesmo com bom humor, como se vê nesta citação do meu saudoso amigo Pedro Nunes Filho: Certa vez, Martins Preto chegou à Fazenda Bonfim, onde seu filho, Pedro Martins, era o vaqueiro de maior confiança, procurou o proprietário, Antônio Nunes, e disse: -- Seu Antônio, eu estou muito aperreado porque Joaquim Aragão quer tomar minha terrinha e eu não sei o que vou fazer para sustentar o magote de moleque que eu tenho. (Pedro Nunes Filho, Guerreiro Togado) “Ruma” cumpre um papel bem semelhante, e palpita-me que esse substantivo tenha alguma relação com o verbo “arrumar”, que talvez signifique, por certo ponto de vista, “enfileirar as várias rumas de coisas”... algo assim. Poeta popular gosta muito de usar esse termo: Galinha põe todo dia invez de ovos, é capão, o trigo invez de semente bota cachadas de pão, manteiga lá, cai das nuvens fazendo ruma no chão. (Manoel Camilo dos Santos, Viagem a São Saruê) Quando o chão está molhado aparecem coisas boas: se levantam cogumelos que as capas parecem broas; os sapos chocam de ruma, bordam com cachos de espuma os cenários das lagoas. (Sebastião Dias, cit. em De Repente, Cantoria, de Geraldo Amâncio e Vanderley Pereira) Como toda linguagem oral, essas expressões nordestinenses dependem muitas vezes de um complemento visual ou sonoro. Nisso os nordestinos se aproximam dos italianos, que quando conversam parecem estar fazendo tradução simultânea em Libras, o tempo inteiro. Nordestino também gesticula muito, como por exemplo ao dizer “está assim de gente”. A expressão é complementada pelo gesto de unir as pontas dos dedos em círculo e fazer pequenos movimentos de abre-e-fecha. "Rapaz, eu fui no comício ontem à noite. Disseram que ia ser fraco, mas a praça estava ‘assim’ de gente!" O gesto, pela convergência das pontas dos dedos, indica quantidade e aglomeração; mas no Rio existe um gesto semelhante que os motoristas fazem uns aos outros, durante o dia, para alertar que o outro está com os faróis acesos, por distração. Nesse caso, o gesto significa os raios de luz, e o piscar do farol. Durante muito tempo, toda vez que eu via esse gesto nas avenidas ou nas estradas, pensava que queria dizer "trânsito congestionado no trecho onde passei ". Para se falar em multidões compactas, conheço poucos termos mais adequados do que “duro de gente”. “Fui assistir o show de Elba no Parque do Povo, mas nem cheguei perto do palco, estava duro de gente, só consegui ficar a uns cinquenta metros”. É a multidão cerrada, no aperto, impenetrável. Há um comparativo de quantidade que a gente diz muito usando o termo “o mesmo tanto” ou “outro tanto”. Significa a mesma quantidade, ou mesma proporção, que acaba de ser mencionada. “Fulano disse que vai pagar dois mil, e o pai dele outro tanto, para ajudar na sua operação.” Quanto mais eles andavam menos saíam do canto porque o chão dessa ponte avançava o mesmo tanto, e eles não prosseguiam pela força desse encanto. (Braulio Tavares, A Pedra do Meio Dia, ou Artur e Isadora) E gosto muito de uma que já ouvi de meus amigos cearenses, quando queriam se referir a uma quantidade respeitável de algo: “coisa que dá uma guerra”. “Rapaz, fui ver o tal Museu de Arte Popular, tem coisa que dá uma guerra.” “Meu pai me chamou para ajudar a limpar a garagem da casa dele, mas desanimei quando vi... Tem coisa que dá uma guerra!”. O que são essas expressões? Regionalismos? Gírias? Ecoletos? Só sei que para meus ouvidos são expressões pertencentes à língua, mesmo que não sejam conhecidas por todos os utentes da língua. E por este ponto de vista, são tão legítimas quanto “em abundância”, “à cunha”, “à farta”, “à beça”, “em penca”, “uma pá de coisa”... 4961) A Vida, o Universo e tudo o mais (12.7.2023) Existem dois tipos de questões existenciais. As que se referem ao Ser Humano, e as que se referem ao Universo. O Ser Humano nos inspira o famoso grupo de perguntas: “Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? O que estou fazendo aqui?”. São as perguntas que os filósofos fazem a si próprios, até porque se um soldado de polícia os abordar de noite na rua eles precisarão ter essas respostas na ponta da língua. As questões relativas ao Universo são na área conceitual de: “O que é o Universo? Quem o criou? Como o criou? Para que o criou? O que acontecerá com o Universo no futuro? Existem outros Universos além deste?”. E por aí vai. As religiões dão respostas variadas a estas perguntas. As ciências também. E o mesmo acontece com a literatura. Com dez anos de idade eu me deparei com um conto de Clifford D. Simak intitulado “As Respostas”. Está incluído na excelente coletânea Maravilhas da Ficção Científica (Ed. Cultrix, 1958, organização de Fernando Correia da Silva, seleção de Wilma Pupo Nogueira Brito). (Clifford D. Simak) É a última história do livro, e vem depois de uma série de contos pesopesados que, lidos naquela idade, me deixaram de queixo caído e com alguns nomes de autores gravados a fogo na minha memória: Alfred Bester, A. E. Van Vogt, Fredric Brown, Ray Bradbury, Isaac Asimov... O conto de Simak fala de uma expedição espacial numa nave tripulada por quatro criaturas: o Cão, o Humano, a Aranha e o Globo. Cada um deles representa uma raça diferente, e percorrem a Galáxia fazendo pesquisas. Chegam a um planeta habitado por humanos, e o Humano decide ficar ali, ao constatar que os habitantes levam uma vida pacata, modesta, de baixa tecnologia. Ele é recebido pelos locais, interage com eles, aproxima-se aos poucos de uma família, um casal idoso (Jed e Mary) e sua filha Alice. Quando se tornam mais amigos, o astronauta pergunta por que levam uma vida tão simples e tranquila, sem máquinas, sem aparelhagens complicadas. E Mary lhe responde: “Encontramos a Verdade”. No dia seguinte, Jed o leva até um edifício empoeirado, no centro de uma aldeia deserta. Ali, há uma máquina que responde perguntas. Na verdade, a máquina responde duas perguntas, apenas. E o homem faz a primeira pergunta. Qual é a razão de ser do Universo? E vem a resposta, através de uma fita impressa: O Universo não tem razão de ser. O Universo apenas aconteceu. Ele nem sequer tem tempo de formular a segunda pergunta, que é um tanto óbvia. A resposta sai antes mesmo disto; uma outra fita impressa, onde está escrito: A vida não tem significado. A Vida é uma casualidade. Por que motivo algumas coisas nos parecem plausíveis, na infância, e outras não? Bem, há milhões de livros respondendo essa questão, de modo que vou passar adiante. Depois das aventuras espetaculares dos outros contos do livro, o conto de Simak encerrava a antologia quase que num anti-clímax. Não havia hiperuniversos, divindades alienígenas, nenhum dos prodígios cósmicos que naquela época eu lia na pulp fiction de F. Richard-Bessière, Jimmy Guieu ou Stefan Wul. Depois de tantas histórias em “Cinemascope Barroco”, era até reconfortante escutar uma explicação tão simples, tão repousante, tão óbvia. Por isso não me angustiei nem um pouco quando, já aos 20 anos, li A Náusea de Jean-Paul Sartre, o livro em que o impacto da pura existência é visto como a pior bad trip possível – a existência sem essência prévia, sem uma Divindade que lhe dê forma e função, sem um Imperativo Cósmico que, uma vez descoberto, me ensine o que vim fazer no Universo. Não vim fazer nada. Eu simplesmente aconteci. O que vou fazer agora, vai depender “de mim e de minha circunstância”. Posso – como o Antoine Roquentin de A Náusea – largar meus planos de fama intelectual ou de ascensão social e ir escutar uma negra cantando um blues numa vitrola de ficha, perto do cais do porto. Posso ir viver a vida como ela é. “A vida, apenas, sem mistificação” (Drummond). “It’s alright, Ma – it’s life, and life only” (Bob Dylan). A maioria dos críticos considera o livro de Sartre como o aterrorizante testemunho do absurdo da existência. Eu o considero um dos livros mais otimistas, mais zen, mais serenos da literatura universal. É a história de um homem que percebe, sem máquina interplanetária alguma, que o Universo não tem razão de ser e que a Vida não tem significado. Quer maior liberdade do que isto? Quer maior responsabilidade do que isto? O conto de Clifford D. Simak foi publicado pela primeira vez na revista Future Science Fiction (março de 1953) sob o título “...And the truth shall make you free” (algumas republicações trazem o título usado na tradução brasileira, “The Answers”). É uma citação do Evangelho Segundo S. João, cap. 8, versículo 32. Clifford D. Simak (1904-1988) não era um existencialista da Rive Gauche, experimentador de mescalina e flertador com o comunismo. Era um homem conservador e pacato do Meio Oeste (passou a vida quase toda em Wisconsin), autor de uma obra que vê a simplicidade da vida rural, junto à natureza e aos animais, como uma espécie de ideal. Sua ficção científica tem um fundo humanista, místico, quase ecológico “avant la lettre” em sua valorização e respeito por todas as formas de vida, terrestres ou alienígenas. A vida será o que fizermos dela. O universo será o que fizermos dele. Sorte a minha de estar a ler ficção científica desde tão cedo (e de ter um pai que me comprou aquele livro, imaginando que me traria algum proveito), para que aos vinte anos pudesse ler sem descrença ou assombro, mas com uma sensação de estar-voltando-para-casa, estes versos de Fernando “Alberto Caeiro” Pessoa: XLVII Num dia excessivamente nítido, dia em que dava a vontade de ter trabalhado muito para nele não trabalhar nada, entrevi, como uma estrada por entre as árvores, o que talvez seja o Grande Segredo, aquele Grande Mistério de que os poetas falsos falam. Vi que não há Natureza, que Natureza não existe, que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores, ervas, que há rios e pedras, mas que não há um todo a que isso pertença, que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A Natureza é partes sem um todo. Isto é talvez o tal mistério de que falam. Foi isto o que sem pensar nem parar, acertei que devia ser a verdade que todos andam a achar e que não acham, e que só eu, porque a não fui achar, achei. (Fernando Pessoa) 4962) Escutem a voz dos doidos (15.7.2023) (Ariano Suassuna) O pensamento das pessoas chamadas normais é como os automóveis no trânsito, e o pensamento dos doidos é uma bicicleta. O automóvel, teoricamente, poderia andar de ré em plena rua, poderia subir na calçada, poderia dirigir na faixa da esquerda e não da direita, e assim por diante. Poderia fisicamente, é claro. Não o faz porque existem leis, códigos, punições previstas; e existe um consenso geral de que é melhor assim, é melhor que haja proibições e restrições, desde que isso deixe as possibilidades mais claras, e facilite a vida de todo mundo. A bicicleta, não. O ciclista é um ser estranho, meio esquizóide. Está montado num veículo mas se considera pedestre. Ciclista sobe na calçada, anda na contramão, enfia-se a toda velocidade por um grupo de pedestres, pedala do lado esquerdo, do lado direito... Todo mundo obedece regras, mas o ciclista só obedece sua própria conveniência. O juízo dos doidos é assim também – pensa o que gosta e o que consegue, e danem-se as outras formas de pensar. Quando digo “os doidos” não me refiro necessariamente às pessoas com problemas mentais, internas nos manicômios, etc. Refiro-me a todas as pessoas que pensam “fora do esquadro”, pessoas cujo raciocínio segue leis próprias; e o fazem espontaneamente, e não de forma lúcida e deliberada como o fazem os poetas, escritores, etc. Exemplo do pensamento de um doido: o primeiro dicionário de polonês foi publicado em 1746, e entre outras definições tinha esta: “CAVALO – Todo mundo sabe o que é um cavalo”. Este dicionarista é um doente mental? Provavelmente não, mas o raciocínio que o fez redigir este verbete é o típico raciocínio de um doido. G. K. Chesterton tem algumas excelentes páginas sobre a doidice no capítulo “The Maniac” de Orthodoxy (1908). É dele a famosa frase de que “um doido é alguém que perdeu tudo exceto a razão”. Vale lembrar que Chesterton dizia isso lamentando o doido, e não para celebrá-lo. O sentido profundo de sua frase é de que um doido é alguém incapaz de pensar em diferentes categorias, de compreender um ponto de vista diferente do seu. O doido é alguém “cheio de razão”, como a gente diz na Paraíba para qualificar uma pessoa arrogante, prepotente, que se recusa a entender o ponto de vista do interlocutor. Para Chesterton, a insanidade é quando uma pessoa começa a raciocinar sem partir dos princípios corretos; ela entra num vale-tudo mental, porque a sua razão é “uma razão sem raízes, uma razão que gira no vácuo”. Um pensamento insano, mesmo que articulado de modo aparentemente correto; como certas frases sintaticamente corretas mas que nada dizem, como no caso dos cambueiros que taliscam a bata de qualquer catalunga, sem perceber que o tirambó não calistura, nem as tragas fazem qualquer pinelo. A doidice – essa doidice – seria um pensamento que perdeu a semântica mas mantém um arremedo de sintaxe. Chesterton abomina o doido (“o maníaco”) porque, para ele, doido é quem não é cristão, quem não parte dos princípios corretos. Na análise dele não há lugar para o doido engraçado, o doido surrealista, o doido imprevisível. O tipo que ele descreve (com o brilhantismo de sempre) é o monomaníaco, o doido vazio, o doido sem graça. Por isso ele diz que “mesmo os delírios mais poéticos dos insanos só podem ser apreciados por uma pessoa sã; para o insano, sua insanidade é extremamente prosaica, porque é real”. Acho que foi Henri Bergson, em sua teorização sobre o Riso, quem sugeriu esse ângulo para definir o Humor: é a nossa reação quando vemos alguém se comportar cegamente, de maneira mecânica, encalhada num só tipo de visão, de reação, de raciocínio. Neste ponto há uma convergência interessante com o pensamento de Chesterton, porque esse tipo de personagem é alguém que perdeu tudo, exceto a razão, perdeu qualquer capacidade de pensar, exceto aquele pensamento mecânico que o transforma num cego repetidor de clichês, de palavras-de-ordem ou de mantras que nem ele mesmo entende. Existem doidos de toda qualidade. Dizer “o Doido” é tão inconclusivo como dizer “o Artista”, porque dentro desse termo cabe um milhão de tipos. Guimarães Rosa exclama, através do seu narrador de “A Terceira Margem do Rio”: “Ninguém é doido. Ou então todos.” Rosa era fascinado pelos doidos, e um conto como “O Recado do Morro” (hoje incluído no livro No Urubuquaquá, no Pinhém) exibe uma galeria de doidos muito variada. Tem o “Catraz”, cientista amador, o homem que inventou um automóvel ainda incompleto, porque só funcionava na descida, “na subida e no plaino ainda não é capaz de rodar.” O Catraz queria voar para a Lua montado numa catrevage puxada por urubus amarrados, bastando-lhe erguer na ponta de uma vara um pedaço de carniça, que faria os urubus levantarem voo para alcançá-la, e como a vara estaria igualmente se elevando, acabariam desembarcando na Lua ou além. Tem o “Coletor”, doido que vivia rabiscando números nos muros da cidade, contabilizando suas cabeças de gado, suas terras, seus ouros... A doideira dele era uma só: imaginava de ser rico, milionário de riquíssimo, e o tempo todo passava revendo a contagem de suas posses. Escrevia em papel, riscava no chão, entalhava em casca de árvore, em qualquer parte. (...) Aquele homem tinha uma felicidade enorme. Nossos magnatas de fortunas eletrônicas, virtuais, compartilham dessa imaterial felicidade, e ai de quem sugerir recolhê-los ao Pinel. Me digam em que casca de árvore ficaram os bilhões de Eike Batista ou de Bernard Madoff. São doidos? Não, são espertalhões, mas eram menos espertos do que imaginavam. Dinheiro é um poderoso alucinógeno; ele proporciona visões deslumbrantes, mas também faz o sujeito atravessar a rua na hora errada. No mundo de Chesterton não há lugar para o doido esperto. O doido esperto é simplesmente o esperto que se faz de burro para enganar os burros que se consideram espertos. O exemplo clássico é o Doidim que os caras da cidade chamam e mandam escolher entre uma moeda pequena de ouro e uma moeda grande de cobre – e ele sempre pede para si a moeda maior. Quando alguém vai lhe explicar que seria mais jogo pegar a outra, ele diz: “Se eu pegar a outra, eles param de me chamar”. Esse é o doido esperto, o doido ciclista, que inventa um caminho mais útil para si mesmo, aproveitando-se do fato de que os outros só raciocinam de um jeito. Perderam todas as outras formas de pensar, e só lhes resta “a razão”. São previsíveis. Podem ser driblados. Um clássico exemplo de doido esperto é Dom Pedro Dinis FerreiraQuaderna, o narrador do Romance da Pedra do Reino (1971) de Ariano Suassuna, um personagem mercurial, escorregadio, que ao longo do romance se faz de doido, se faz de cego, se faz de besta, se faz de intelectual, se faz de qualquer coisa que lhe convenha a cada instante. Quaderna tem, como certos doidos, a mania de grandeza, de se acreditar o futuro Imperador do Brasil, por ser descendente dos fanáticos que degolaram dezenas de pessoas em 1838, na Pedra do Reino, para desencantar um castelo e trazer de volta Dom Sebastião. Quaderna acredita nisso? Depende. Acredita quando lhe convém. Tem mais juízo do que eu ou você. Meu saudoso amigo Arievaldo Viana contava esta, de algum doidim cearense: Hoje encontrei um doido que anda pedindo esmola aqui na Praça Pedro Américo. Sempre eu dou-lhe um trocado. Ele botou a mão na minha cabeça e falou: "Se você tá com Deus, um bandido bota a arma na sua cabeça, aperta o gatilho e a arma não dispara." Perguntei: "E se for uma arma boa e disparar?" Ele foi rápido: "Era porque você estava pronto pra ir ao encontro de Deus". (Arievaldo Viana) 4963) A arte da ironia (18.7.2023) A repetição está na raiz de qualquer literatura. Tudo que dizemos provavelmente já foi dito por alguém, em algum momento. Não importa se eu já vi esta frase ou não; ela já foi dita. O fato de eu ter ou não consciência disto cria uma diferença. Se eu desconhecia a frase, estou repetindo; se eu a conhecia, estou imitando, mas posso também estar produzindo uma variante deliberada. A Literatura vive, também, da criação contínua de variantes do que já existe. São as variantes de uma idéia que, injetando nela algo de novo, garantem a sua sobrevivência e a chance de que venham a ser novamente imitadas no futuro. É assim que se criam os gêneros literários: imitando algo que já foi feito, e introduzindo pequenas surpresas e viradas-de-esquina. Repetindo o que já se tornou patrimônio coletivo, e inserindo nele uma contribuição individual. Mark Twain, um grande fazedor de frases, disse certa vez num discurso: “Fiquei triste ao ver meu nome mencionado como um dos grandes autores da Literatura, porque eles têm o triste costume de acabar morrendo. Chaucer já morreu, Spencer morreu, o mesmo aconteceu com Milton, com Shakespeare... e eu mesmo não me sinto muito bem”. É uma enumeração grave e sisuda que resvala, aos poucos, para um final meio gozador. O que na retórica chama-se de bathos, uma forma de anticlímax que geralmente produz o riso quando a usamos de forma mais caricatural: “Entre as minhas influências literárias estão Shakespeare, Goethe, Dostoiévski e Didi Mocó.” Mark Twain foi o primeiro a fazer esse tipo de enumeração irônica? Pode ter sido, ou pode ser que não; não importa. Quando uma forma de dizer as coisas se revela eficaz, ela provavelmente será imitada por alguém. Em seguida, a existência desses dois exemplos aumenta as chances de que haja um terceiro. E depois um quarto, e depois um quinto... e eu mesmo já estou derrapando no mesmo caminho. Coube a Woody Allen, um discípulo de Mark Twain (todos os humoristas norte-americanos o são), dar sua versão desta figura retórica quando disse: Deus está morto, Marx está morto, e eu mesmo não estou me sentindo muito bem. Num poema do livro Sentimento do Mundo (“Ode ao Cinquentenário do Poeta Brasileiro”) Carlos Drummond de Andrade fez uma bela homenagem a Manuel Bandeira, e a certa altura comparou o destino discreto de Bandeira, de poetar quase em segredo, com o destino de outros colegas seus: Efetivamente o poeta Rimbaud fartou-se de escrever, o poeta Maiakóvski suicidou-se, o poeta Schmidt abastece de água o Distrito Federal... Macacos me mordam se não há uma ironia mordaz nessa comparação, em que ele justapõe dois poetas (Rimbaud e Maiakóvski) que viveram trágica e radicalmente a poesia e Augusto Frederico Schmidt, um poeta-empresário, sócio de variadas indústrias, dono de supermercados. Jean-Luc Godard é um autor que usa a ironia e o sarcasmo como outros usam o sal e a pimenta. Além do mais, é um citador inveterado, e já afirmou que o cinema deveria consistir apenas em pessoas diante de uma câmera lendo trechos de seus livros preferidos. (A Chinesa) Em A Chinesa (1967), ele faz a personagem Véronique (Anne Wiazemsky) dizer: Olhe aqui... Nizan está morto. Merleau está morto. Sartre se escondeu dentro de Flaubert. E Aragon se escondeu na matemática. Ele se refere a Paul Nizan (1905-1940), escritor ligado ao grupo existencialista, cujo romance Aden-Arabie fornece o nome escolhido pelos personagens do filme de Godard para batizar a sua “célula maoísta”. Merleau é Merleau-Ponty (1908-1961), filósofo, co-editor com Sartre da revista Les Temps Modernes. A ironia com os contemporâneos vai na direção de Sartre, na época mergulhado em sua gigantesca análise da vida e obra de Flaubert (L’Idiot de la Famille, 1971-1972), e do poeta Louis Aragon. No caso deste não encontrei nenhuma relação com a Matemática, mas seja o que for soa como uma ironia (do personagem) para com um dos criadores do Surrealismo e depois comunista militante. E da literatura e do cinema esse recurso retórico acaba chegando à música popular através de Caetano Veloso, na canção “O Estrangeiro” (no álbum Estrangeiro, 1989): O amor é cego, Ray Charles é cego, Stevie Wonder é cego, e o albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem... O mesmo recurso de enumeração decrescente serve aqui a outro propósito. Eu vejo uma intenção irônica ou levemente depreciativa nos exemplos de Carlos Drummond e de Godard. Não vejo o mesmo propósito neste exemplo de Caetano, que formou sua citação mais pelo ouvido (ecoando o trecho final de “...não muito bem...”) do que por uma intenção satírica. A letra de “Estrangeiro” é uma dessas letras viajandonas de Caetano, à base de citações inesperadas, associações livres, lirismo palavra-puxa-palavra, quase como uma escrita automática surrealista. Mas, como sempre, “existe método nessa loucura”. Caetano joga o tempo todo, nestes versos, com o conceito mutante de beleza visual, coisas que todo mundo vê mas vê de forma diferente. Uns acham a Baía de Guanabara uma beleza, outros um horror, outros a olham e não a veem. Enxergar é uma coisa, ver é outra. Isto é reiterado no videoclip, em que ele “vê”, se se virar, o velho e a moça que caminham atrás dele na areia da Baía. “Cego de tanto vê-la”, ele se equipara a Ray Charles, Stevie Wonder e Hermeto Paschoal, e se o faz no formato retórico celebrizado por Mark Twain, é com uma intenção totalmente diferente. “Repetir, modificando” é um conselho útil para quem escreve ou cria; aliás nem precisava ser um conselho, porque é uma coisa inevitável. Repetir é sempre modificar, porque mesmo se copiarmos a obra de alguém tintim-por-tintim o simples fato de fazer isto noutra época e noutro contexto já desvia e refrata as leituras possíveis. Não precisa. “Repetir, modificando” é um prazer. O que nos leva a fazê-lo é menos a preguiça de quem repete do que a excitação de quem quer introduzir uma variante, porque teve uma idéia nova em torno daquilo e mal pode esperar para botá-la na roda. 4964) O não-espaço (21.7.2023) (ilustração: Sujit Sudhi) Um não-espaço é qualquer lugar capaz de servir como uma negação (mesmo uma negação puramente simbólica) do espaço convencionalmente aceito. Não é um conceito científico, é dramatúrgico. Tem função na literatura e em outras artes narrativas. Serve para o autor pegar um personagem e retirá-lo do espaço comum a todos, engastando-o num local onde tudo tem que se reorganizar em torno dele. “A Terceira Margem do Rio”, de Guimarães Rosa (em Primeiras Estórias, 1962) é um bom exemplo desse conceito. Um homem já idoso constrói para si uma pequena canoa e, abandonando a família sem dar explicações, mete-se na canoa rio adentro, mas sem se deixar levar pela correnteza e sem atravessar o rio por completo. Fica para lá e para cá, indo e voltando, no meio do rio. É um não-espaço no sentido de que ele procura permanecer num espaço que, em uso comum, serve apenas como fluxo, como espaço a ser transposto e deixado para trás. Nesse espaço de não-permanência, ele se instala e não faz menção de sair. (O Terminal) Outro exemplo, mas com características totalmente diversas, é o filme O Terminal (Steven Spielberg, 2004). Tom Hanks faz o papel de um cidadão de um pequeno país em turbulência política. Ao desembarcar no aeroporto de Nova York, ele fica sabendo que devido a um golpe de Estado seu país não existe mais, e seu passaporte não tem valor. Ele não pode embarcar de volta, não pode ser aceito em território dos EUA, não pode embarcar para outro lugar. Fica morando no não-espaço do aeroporto. Um local de passagem, de fluxo, onde ele é forçado a criar técnicas e truques de morador permanente. (Simão do Deserto) O não-espaço pode ser escolhido por motivos publicamente aceitáveis. É o caso do protagonista de Simão do Deserto (Luís Buñuel, 1965), uma reconstituição fantástica da vida de alguns santos medievais, principalmente Simão Estilita, que passou 37 anos vivendo no alto de uma pilastra. O santo se isola ali no alto para se martirizar, para fugir às tentações do mundo, e também para servir de exemplo, pois multidões se reúnem para assistir o “nãoespetáculo”. A coluna do santo faz lembrar outro conto de Guimarães Rosa, no mesmo livro: “Darandina”. Um homem chega a uma Casa de Saúde ou hospício e pede para ser internado, pois acha que o mundo lá fora está ficando cada vez mais louco e se o destino dele é ficar doido também é melhor garantir desde logo um bom lugar. Como o homem não parece doido coisa nenhuma, não é aceito; mas imediatamente vai para o meio da rua, rouba pertences dos passantes e escala uma enorme palmeira que há na praça. Lá em cima, o homem grita frases de efeito para a multidão que rapidamente se reúne, e acaba tirando a roupa por completo e jogando-a lá do alto. Os bombeiros vêm mas hesitam, com medo de que ele se jogue, mas de repente o surto acaba, ele se horroriza e desce de boa vontade. O alto da palmeira é um não-espaço, um lugar onde alguém só subiria para cumprir alguma tarefa rápida e descer em seguida. É um lugar onde ninguém é proibido de ir, mas só um doido quereria se demorar ali em cima. Uma situação parecida com personagem de Ítalo Calvino em O Barão nas Árvores (1957), em que um rapaz decide passar o resto da vida morando nas ramagens das árvores, sem voltar a pôr o pé no chão. É uma decisão não muito distante da do barqueiro de “A Terceira Margem do Rio”, e embora a história percorra caminhos diferentes, o não-espaço está ali: o espaço de que só pode se locomover sem tocar no chão. O não-espaço é muitas vezes uma espécie de limbo, de lugar isolado de tudo, um lugar não-lugar. Fora do espaço-tempo, talvez – e é neste aspecto que a ficção científica multiplica as situações em que alguém se situa num tal “ponto negativo”. Isto vem desde a FC mais pulp fiction, como as narrativas do imaginoso e envolvente F. Richard-Bessière. Em A Máquina Infernal do Tempo ("Carrefour du Temps", Tecnoprint, s/d, trad. David Jardim Júnior) ele mostra como o repórter Sidney Gordon, por ter praticado um ato que ameaçava a própria existência do nosso Universo, é “exilado” dele e instalado num “não espaço”. Ele acorda à noite em seu apartamento e estranha a escuridão absoluta no quarto: O pior, porém, foi quando me debrucei sobre a sacada. Diante e embaixo de mim, não havia coisa alguma, a não ser o vácuo impalpável e aterrador. Dirse-ia que a vida material tivesse desaparecido, além daquele peitoril e que não existisse a própria cidade. Acima, de mim, a mesma coisa. Senti, então, o maior medo de toda a minha vida, pois pensei que estivesse cego. O grito que quis dar não saiu da minha garganta, e foi com a mão trêmula que acendi o isqueiro... Graças a Deus, não estava cego... Estava vendo tudo que se encontrava DENTRO do quarto, mas coisa alguma que estivesse FORA dele. Que se passava? Corri para a porta e abri-a, bruscamente. Não sei o que se teria passado, se eu não tivesse recuado instintivamente. Dessa vez, gritei mesmo, e senti um suor frio escorrer-me ao longo da espinha. O que se estava passando era fantasmagórico, alucinante. Para além da porta não havia mais o corredor. Em seu lugar estava o nada, o vácuo, o infinito, o desconhecido... Este tipo de não-espaço não tem verossimilhança científica, e é produzido apenas para efeito dramático. (Praticamente tudo na pulp fiction visa apenas ao efeito dramático, e a Ciência que vá pastar.) Ligeiramente menos implausível, pelo menos em termos narrativos, é o não-espaço onde um personagem é projetado em Zeitgeist (2000, Bruce Sterling). Por estar muito próximo ao local da explosão de uma bomba atômica, no deserto do Novo México, o Vovô Joe deixa de existir no aqui-e-agora do nosso espaço-tempo, e vê-se espalhado ao longo de todo o século 20, como quando a gente espalha com a mão uma mancha úmida de tinta. Um não-espaço que na verdade é um não-tempo: há resíduos dele espalhados ao longo de todo o século 20, mas ele permanece lúcido e consegue se comunicar com o neto. Não acho que seja forçação de barra comparar o destino de Vovô Joe com o destino do “nosso Pai” de “A terceira margem do rio”. É a força do símbolo (e do símbolo em branco, sem conteúdo pré-fixado) que inspira e arrasta estas histórias: a nossa fascinação pela possibilidade de imaginar um destino improvável mas que corresponde, pela simples negação, à realidade em que vivemos. Ajuda a ver essa realidade “de fora”, de um espaço que é virtual, conceitual, dramatúrgico, alegórico, nocional: um não-espaço. 4965) "Explicação": o manifesto de Carlos Drummond (24.7.2023) Alguma Poesia (1930), livro de estréia de Carlos Drummond de Andrade, foi uma estréia discreta, como aliás a de todos os poetas modernistas. Antonio Cândido, num depoimento sobre Graciliano Ramos, no YouTube, lembra aos leitores de hoje que o Modernismo não tomou de assalto a literatura brasileira em 1922. Foi um movimento pequeno, localizado, à revelia do Brasil. Sua importância e sua influência foram se ampliando e se solidifcando muito aos poucos. Drummond estreou em 1930 com este livro onde já estão presentes muitos dos elementos que ele iria amadurecer e aprofundar ao longo da vida. Elementos que poderiam na época parecer uma adesão automática a certas táticas modernistas (o poema curtíssimo, o poema-piada, a gramática e a grafia bárbaras das ruas, a ironia, a desconstruções dos ícones românticos e parnasianos), mas hoje, em retrospecto, podemos considerar traços essenciais do autor. Das muitas portas abertas pela agitação modernista, foi por estas que ele se esgueirou com mais espontaneidade. O Modernismo de 1992 era afeito aos manifestos, às palavras de ordem. Drummond não redigiu nenhum, ao que eu saiba, mas vários poemas deste primeiro livro têm um pouco esse tom de quem dá as cartas, de quem anuncia valores. É o caso de “Explicação”, que começa lembrando Manuel Bandeira (“Uns tomam éter, outros tomam cocaína, / já tomei tristeza, hoje tomo alegria.”): Meu verso é minha consolação. Meu verso é minha cachaça. Todo mundo tem sua cachaça. Para beber, copo de cristal, canequinha de folha-de-flandres, folha de taioba, pouco importa: tudo serve. Para louvar a Deus como para aliviar o peito, queixar o desprezo da morena, cantar minha vida e trabalhos é que faço meu verso. E meu verso me agrada. Confesso que não visualizo com facilidade o poeta, com sua calva precoce e seus óculos redondos, pedindo uma bicada no balcão para curtir “o desprezo da morena”. Me soa como uma precoce infiltração sambista, talvez, agarrada a esse ubíquo verbo “cantar”. De mais a mais, a esta altura a intelectualidade e o samba já começavam a passear de braços dados, como registram Hermano Vianna em O Mistério do Samba (1995) e André Gardel em O encontro entre Bandeira e Sinhô (1996). Meu verso me agrada sempre... Ele às vezes tem o ar sem-vergonha de quem vai dar uma cambalhota, mas não é para o público, é para mim mesmo essa cambalhota. Eu bem me entendo. Não sou alegre. Sou até muito triste. A “cambalhota” soma-se a muitos versos, já presentes neste primeiro livro, em que o poeta se oferece como algo parecido com um clown, um artista de circo, ocupações que a intelectualidade da época olhava com os mesmos olhos com que um intelectual de hoje observa o baile funk. E alguém imaginaria os grandes poetas da geração anterior (Bilac, Cruz e Sousa, Guimarães Passos) apregoando uma cambalhota? E ficamos com esta última linha, e seu eco inevitável trazendo à memória Cecília Meireles e seu “Não sou alegre, nem triste: sou poeta”, um achado de límpida simplicidade, que logo se incorporou à nossa linguagem falada. A culpa é da sombra das bananeiras de meu país, esta sombra mole, preguiçosa. Há dias em que ando na rua de olhos baixos para que ninguém desconfie, ninguém perceba que passei a noite inteira chorando. A sombra das bananeiras! Esta planta, velho símbolo nacional, é insistentemente convocada pelo poeta estreante (v. “Cidadezinha qualquer”, “Fuga”, “Sesta”). Faz parte do nosso Brasil, desde aquele tempo, o hábito de atribuir ao clima tropical e sua flora as características indolentes do povo. Mais interessante é a dicotomia que Drummond começa a estabelecer nas linhas seguintes: Estou no cinema vendo fita de Hoot Gibson, de repente ouço a voz de uma viola... saio desanimado... Ah, ser filho de fazendeiro! À beira do São Francisco, do Paraíba ou de qualquer córrego vagabundo, é sempre a mesma sen-si-bi-li-da-de. E a gente viajando na pátria sente saudades na pátria. Aquela casa de nove andares comerciais é muito interessante. A casa colonial da fazenda também era... No elevador penso na roça, na roça penso no elevador. Aqui não se trata simplesmente do poder da natureza. O poeta nos oferece algo em troca dela: Hollywood, por exemplo. E Drummond nunca foi imune às seduções do cinema de seu tempo, de Charles Chaplin a Greta Garbo. O cinema aparece aos olhos do rapaz como a promessa de um mundo feérico, onde de vez em quando as aventuras dos cowboys são estragadas pela contaminação bárbara de “uma viola”. O Modernismo pós-1922 deitou e rolou em cima desses contrastes entre Rural e Urbano – contrastes que o Tropicalismo viria anos depois tonificar, valendo-se de um momento cultural muito mais vibrante no cinema, nas artes plásticas, no teatro, na própria literatura. A comparação drummondiana entre “a casa de nove andares comerciais” e “a casa colonial da fazenda” são o equivalente, em seu tempo, à “força da grana que ergue e destrói coisas belas”. E o jovem poeta já nos traz esta fórmula sua, que considero uma das mais diretas e inesquecíveis: “No elevador penso na roça / na roça penso no elevador”. Quem me fez assim foi minha gente e minha terra e eu gosto bem de ter nascido com essa tara. Para mim, de todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa A Europa é uma cidade muito velha onde só fazem caso de dinheiro e tem umas atrizes de pernas adjetivas que passam a perna na gente. O francês, o italiano, o judeu falam uma língua de farrapos. Aqui ao menos a gente sabe que tudo é uma canalha só, lê o seu jornal, mete a língua no governo, queixa-se da vida (a vida está tão cara) e no fim dá certo. Ariano Suassuna, que se recusava a viajar para fora do Brasil, assinaria com entusiasmo esse verso sobre a burrice de suspirar pela Europa. Drummond, na verdura dos 28 anos, pensa muito na Europa em termos das pernas das atrizes, que o cinema começava a propagar e que as ruas de cidades como Belo Horizonte e Rio de Janeiro já se juntavam aos espetáculos das calçadas, do footing ao entardecer. São curiosos estes versos sobre o fato de “ser tudo uma canalha só”. Cada leitor tem seu viés, é claro; eu já tive um tempo em que via nestas linhas uma aconchegante sensação de ser brasileiro como todo mundo. Hoje, nesta conflagrada terceira década do novo século, perto de se completarem os 100 anos do poema de Drummond, já não sei se um dia verei (ou alguém verá), mesmo poeticamente, os brasileiros como “tudo uma canalha só”. Houve uma clivagem brutal nestes últimos quarenta anos. Se meu verso não deu certo, foi seu ouvido que entortou. Eu não disse ao senhor que não sou senão poeta? A pergunta deste final – desabusada, cheia de intimidades – equivale a um pequeno manifesto sem cabeçalho. Tímido, discreto e convencional, por fora, Drummond também sabia ser irreverente, emotivo sem melodrama, menino sem puerilidade. Andando na rua poderia ser tomado por um parnasiano, mas dentro dele (como dentro da poesia brasileira) surgia de forma irresistível essa busca da linguagem direta e simples da rua à sua volta, da admiração franca mas nunca embasbacada diante do cinema estrangeiro, desse interesse pela coisas novas, coisas que podem se multiplicar, sob a condição de que deixem intactas as coisas velhas... Enfim: uma contradição que um século depois o país ainda não resolveu. 4966) A tabela periódica de Primo Levi (27.7.2023) Estou lendo A Tabela Periódica (1975) de Primo Levi, na ótima tradução de Luiz Sérgio Henriques (Ed. Relume Dumará, 1994). Levi é conhecido por obras em que contou sua passagem pelos campos de concentração nazistas, como Isto é um Homem? (1947). A Tabela Periódica não tem muito a ver com o gênero conhecido como “ficção científica”, mas é sempre mencionado quando se fala em “literatura baseada na Ciência”. E ele é exatamente isto, e brilhantemente isto. É um livro de memórias, em que o autor conta episódios variados de sua vida. Conta o que lhe aconteceu, reflete sobre o que conta. Inventa pouco (acredito eu). Mas tem o dom da escrita, o dom da contação de histórias, e curiosamente talvez o tenha por ser um cientista, não um literato. Tem a mente clara do cientista, a percepção-de-sutilezas do cientista, a disciplina organizadora do cientista, a consciência permanente dos limites de seu conhecimento – do cientista. Levi é um químico, e adotou aqui uma curiosa “contrainte”. A história é narrada por ordem cronológica, e ele atribui a cada capítulo o nome de um elemento químico, o qual aparece ali ora como fator essencial, ora como metáfora, ora como detalhe secundário mas presente. Não há forçação de barra, não há trapaça. Eu acredito piamente que na vida de um químico os elementos aparecem de forma tão constante e tão variada que dificilmente se encontraria um episódio significativo em sua vida sem que houvesse a menção necessária a um deles. No primeiro capítulo, “Argônio”, Levi fala dos chamados gases chamados “nobres”, ou “inertes”, porque não se combinam com nenhum outro elemento e não interferem nas reações químicas. Ele usa essa metáfora para falar de seus antepassados, “inclinados à especulação desinteressada, ao discurso arguto, à discussão elegante, sofística e gratuita”. No capítulo dois, “Hidrogênio”, ele já está com dezesseis anos, e conta suas primeiras atividades de laboratório, bem desajeitadas, ao lado de um colega. Encerra o capítulo contando como uma experiência resultou numa pequena explosão, por sorte sem maior gravidade: A mim tremiam-se um pouco as pernas, sentia medo retrospectivo e, ao mesmo tempo, um orgulho tolo por haver confirmado uma hipótese e por haver desencadeado uma força da natureza. Então, era mesmo hidrogênio: o mesmo que queima no sol e nas estrelas e de cuja condensação, em eterno silêncio, se formam os universos. Todos descrevemos o mundo através de comparações, extraídas de um glossário de idéias e de situações que nos são familiares. No capítulo três, “Zinco”, Levi narra suas experiências com este metal, já na era fascista, e num laboratório burocrático e pedante. O zinco “não é um elemento que puxe muito pela imaginação, (...) é um metal aborrecido.” O trabalho é tedioso, e Levi aproveita para fazer comparações químicas, ao descrever um diretor do laboratório: Como todos aqueles que exercem funções vicárias, constituía um exemplar humano interessante: quero dizer, como aqueles que representam a Autoridade sem possuí-la em si mesmos, como, por exemplo, os sacristães, os guias de museu, os bedéis, os enfermeiros, os “assistentes” dos advogados e dos tabeliães, os representantes comerciais. Todos eles, em maior ou menor medida, tendem a transfundir a substância humana de seu Principal na própria figura, como ocorre com os cristais pseudomórficos. O judeu Levi passa o período entreguerras dando dribles no governo fascista, adere brevemente à Resistência, é preso. A Tabela Periódica toca apenas de leve no seu período em Auschwitz, já dissecado com detalhes no seu livro de maior sucesso, Isto É Um Homem?. Um dos capítulos mais amargos é “Vanádio”, no qual ele reencontra por acaso, via correspondência profissional, um alemão, seu ex-chefe na fábrica nazista de borracha em que foi forçado a trabalhar. Levi o reconhece pelo sobrenome e pela grafia peculiar de um termo químico. Começa uma troca de cartas entre os dois, agora ambos cidadãos livres. O ex-nazista lembra-se dele, sim. Reconhece sua parcela de culpa, alega que poderia ter se comportado de maneira muito pior; e Levi reflete: Quase simultaneamente me chegou em casa a carta que esperava, mas não era como a esperava. Não era uma carta modelo, paradigmática: neste ponto, se esta história fosse inventada, poderia referir somente dois tipos de carta: uma carta humilde, calorosa, cristã, de alemão redimido; ou então altiva, soberba, glacial, de nazista impenitente. Ora, esta história não é inventada, e a realidade é sempre mais complexa que a invenção: menos arrumada, mais áspera, menos arredondada. Raramente está contida num só plano. É um ponto de vista de cientista, mas também de escritor. De um homem capaz de ver o quanto a ficção romanesca, aparentemente tão libertária em termos de imaginação, obedece tanto a fórmulas quanto a fabricação de vernizes. E onde é sempre mais prudente fazer as coisas conforme se faz há cem anos e há cem anos que dá certo. Não que falte imaginação ao autor. Alguns capítulos são contos. “Chumbo” é a história de uma terra meio imaginária chamada Thiuda, e uma família de homens que sabem extrair o chumbo das pedras e ganhar dinheiro com seu comércio. “Mercúrio” conta de um capitão de navio semi-exilado com a esposa numa ilha quase deserta onde começam a chegar náufragos misteriosos, inclusive um pretendente a alquimista. Tensões e disputas levam a pequena população a arranjos inesperados, em virtude da descoberta de jazidas de mercúrio: Quanto a encontrar o mercúrio em estado bruto, não nos custava nada: na caverna, chapinhávamos no mercúrio, que nos gotejava na cabeça e nas costas, e ao voltar para casa tínhamos mercúrio nos bolsos, nas botas e até nas camas; subia-nos à cabeça um pouco a todos nós, tanto que começava a parecer-nos natural trocá-lo pelas mulheres. É verdadeiramente uma substância esquisita: é frio e fugidio, sempre inquieto, mas quando pára é possível nele espelhar-se melhor do que num espelho. Se o fazemos girar num recipiente, continua a girar por quase meia hora. Nele não somente flutua o crucifixo sacrílego de Hendrik, mas também as pedras e até o chumbo. O ouro, não: Maggie fez a experiência com seu anel, mas ele logo submergiu e, quando o repescamos, se fizera de estanho. Em suma, é uma matéria que não me agrada, e eu tinha pressa de concluir o assunto e livrar-me dele. Também parece ser um conto a pequena narrativa de suspense “Titânio”, sobre a madrugada insone do técnico que faz o possível para controlar uma caldeira prestes a explodir, experimentando este ou aquele procedimento, e sempre com a sensação de que a qualquer momento aquilo tudo voa pelos ares. O último capítulo, “Carbono”, é um clássico várias vezes antologizado: a história de um átomo de carbono, cuja importância ele resume com simplicidade: O carbono é um elemento singular: é o único que sabe ligar-se a si mesmo em longas cadeias estáveis sem grande dispêndio de energia, e para a vida na Terra (a única que até agora conhecemos) se necessita justamente de longas cadeias. Levi passa a descrever toda a trajetória randômica desse átomo, ligandose a isto e àquilo, passando milhares de anos num lugar, milhões em outro, transferindo-se da terra para um ser vivo e daí à terra novamente... Faz lembrar aquela imagem de Jorge Luís Borges de que ele talvez já tenha respirado um átomo de oxigênio que Shakespeare também respirou, visto que átomos não se desfazem com muita facilidade. Levi insiste em dizer que não é cientista, pois não completou estudos superiores. Considera-se um técnico (e ganhou a vida como diretor técnico de várias indústrias químicas), mas sua paixão pela ciência e sua honestidade intelectual aparecem em cada frase. Um dos aspectos curiosos do seu estilo é o seu modo criativo de usar a figura de linguagem chamada de “Falácia Patética”, e que consiste em atribuir emoções a seres inanimados, com o fito de emocionar o leitor. É um recursos que tende facilmente para o melodramático ou o piegas: “As estrelas surgiram timidamente no céu”, “a Natureza está chorando pela tua morte”, “adormeceu embalado pelas carícias amorosas da brisa”... Um antropomorfismo kitsch que Alain Robbe-Grillet demoliu em seu famoso ensaio Por Um Novo Romance (1963). Levi atribui aos seus elementos químicos toda uma gama de desejos, preconceitos, simpatias, intenções. Faz isto com o didatismo de um professor que quer descrever com clareza para os alunos o processo das reações químicas, combinações, etc. E ao mesmo tempo o faz com autoridade de ficcionista, capaz de transformar qualquer coisa, até um átomo, num personagem cuja existência e cujo destino são capazes de nos interessar. 4967) A velhice: uma pequena morte (30.7.2023) Um dos livros marcantes da new wave da ficção científica norteamericana, durante os anos 1960-70, foi Dying Inside (1972) de Robert Silverberg. É a história de um telepata, David Selig, um cara que desde a infância é capaz de ler os pensamentos das pessoas. É um livro crepuscular e melancólico, e talvez por isto não tenha sido um sucesso de vendas (apesar da ótima tradução de Ivanir Calado) quando o incluí na minha efêmera Série Rama, que editei pela Editora 34, sob o título Uma Pequena Morte (1993). Selig é um desajustado, um arredio. Um protagonista que de cara explode toda a expectativa do leitor de FC habituado a lidar com heróis cuja missão é salvar o Universo. (Ou, em casos mais modestos, salvar a Humanidade.) Ele não salva nem a si próprio. Seu relacionamento com outras pessoas é problemático, porque ele é capaz de sintonizar o pensamento delas e tem acesso a esse desvão proibido – “o que Fulano ou Sicrano realmente pensam e sentem ao meu respeito”. A infância de Selig não foi fácil, até ele descobrir por conta própria (porque ninguém entendia as suas perguntas titubeantes) que as outras pessoas não eram capazes de “escutar” o que ele escutava. Nunca foi bom aluno, “colava” nas provas, estudava o menos possível, mas lia muito. Adulto, ganha a vida fazendo bicos, como por exemplo redigir dissertações e trabalhos para universitários preguiçosos. A indústria dos “trabalhos fake” não é coisa recente. Selig tem um certo jeito para escrever, e as informações estão à solta, por aí. As mentes humanas são uma Internet que ele acessa sem dificuldade. Dying Inside é considerado um clássico, e é visto por muitos críticos como uma metáfora da velhice – porque durante a narrativa tomamos conhecimento de que agora, por volta dos quarenta e tantos anos, Selig começa a perder seus poderes telepáticos. Antes, acessava os pensamentos de qualquer pessoa, mesmo um transeunte anônimo na rua, com a facilidade de quem sintoniza uma estação de rádio. Agora, não, Há momentos (cada vez mais frequentes) em que ele tenta, tenta, e não consegue captar. Silverberg é um prodígio na FC. Não é exagero dizer que ele é o autor mais versátil de sua geração. Do ponto de vista estilístico, é um sujeito camaleônico, capaz de saltar da aventura mais desenfreada para a FC-cabeça mais erudita. Tão prolífico quanto Isaac Asimov, tão narrativamente eficaz quanto Robert Heinlein, tão inovador quanto Harlan Ellison. Ele tem um excelente ensaio autobiográfico, “Sounding Brass, Tinkling Cymbal”, incluído em Hell’s Cartographers (ed. Brian Aldiss & Harry Harrison, Harper & Row, 1975). Silverberg nasceu com o dom da escrita fluente, elegante (muitíssimo mais que a escrita igualmente fluente de Asimov). Produzindo FC, fantasia, livros didáticos e outros tipos de escrita-por-encomenda, ele confessa que aos 30 anos já estava rico, e pensando em se aposentar. Eu escrevia com espantosa rapidez, vendendo quinze histórias em junho de 1956, vinte no mês seguinte, catorze (incluindo uma serialização em três partes) no outro mês. (trad. BT) Quando contava apenas 21 anos, ele já tinha mais de um milhão de palavras publicadas (entre contos e romances). Aos 30 anos, já era um homem rico, e comprou a mansão onde tinha morado o prefeito de Nova York, Fiorello La Guardia. Ele conta, então, que por volta de 1968 acordou durante a madrugada, numa noite de inverno, vendo uma luminosidade esquisita pela porta do quarto. Pensou que um ladrão tinha entrado na casa. Não era ladrão, era um incêndio. A casa ficou destruída de cima a baixo – literalmente; ele diz que o fogo começou no meio de documentos guardados no sótão. Ao amanhecer, tudo chegara ao fim. O teto não existia mais, o sótão fora destruído, meu escritório no terceiro andar era uma ruína, e os andares inferiores da casa, embora não queimados, estavam inundados de água, que rapidamente congelava. E ele se tornou um escritor igual aos outros. Até 1967, eu escrevia meus textos, ambiciosamente, uma só vez, produzindo vinte ou trinta páginas de texto final todos os dias, e fazendo apenas pequenas correções a mão. Quando recomecei a trabalhar após o incêndio, tentei prosseguir assim, mas tudo avançava devagar, eu me via parando o tempo todo em busca de palavras, atrapalhando a narrativa; depois de meia lauda tinha que parar tudo e começar de novo, fazendo pausas para recuperar as forças. (...) Eu tinha me tornado um simples mortal como os demais, e tinha que produzir dois ou três rascunhos de cada página, às vezes uma dezena, antes de poder datilografar a versão final. Como qualquer bom livro, Dying Inside pode ser uma metáfora da velhice e da perda de memória, e pode ser também uma ressonância autobiográfica do próprio autor. Pars sorte nossa, essa reduzida-de-marcha transformou Silverberg num autor literariamente mais refinado, mais maduro, mais pensado. Seus melhores livros foram escritos desta fase em diante. Os meus preferidos são The Masks of Time (1968), The Man in the Maze (1969), o próprio Dying Inside (1972), The Second Trip (1972), The Stochastic Man (1975), e algumas coletâneas saídas no Brasil: Rumo aos Mundos do Futuro (Edameris, 1967), Outros Tempos, Outros Mundos (Círculo do Livro, 1972). Se tomarmos Uma Pequena Morte como uma reflexão sobre a vida do autor, e não simplesmente uma metáfora da velhice, é possível pensar que rapidez e quantidade podem ser qualidades positivas para quem escreve, mas não são as únicas. Após o trauma do incêndio, ele passou um período difícil. Seu amigo Frederik Pohl lembra, em The Way The Future Was (Del Rey, 1978, cap. 11, trad. BT): Durante algum tempo chegou a parecer que a vida do casal Silverberg e a nossa estava intimamente ligada. Carol e eu sofremos uma morte na família, e depois um incêndio que danificou seriamente nossa casa, e quase a destruiu por completo; pouco depois, aconteceu o mesmo a eles. Bob me escreveu uma carta de reclamação, usando aquele tipo especial de ironia que disfarça um sofrimento real, dizendo que não estava gostando dessa história de recapitular as tragédias da minha vida, e pedindo-me o favor de avisá-lo o que viria em seguida, para que ele pudesse se preparar. Na juventude, é natural que a pessoa queira ganhar prêmios, bater recordes, alcançar limites. Há um certo excesso de energia que precisa ser queimada, precisa ser posta a bom uso. Passada esta fase, é preciso entender quais são as vantagens da fase seguinte, e mudar de estratégia. Aos 60 anos um escritor pode não ser tão prolífico quanto era aos 30, mas se souber reorganizar sua vida e otimizar seus recursos pode produzir menor quantidade com maior qualidade. No mais, é como dizia Ivanildo Vila Nova: “Cantador de viola, jogador de futebol e rapariga tem até os 40 anos para ficar rico, porque depois não tem mais chance.” Quem escreve tem. (Robert Silverberg) 4968) A literatura e a câmera-olho (3.8.2023) A relação entre a literatura e as artes visuais começou talvez com a pintura, avançou para a fotografia e por fim chegou ao cinema. (Este trajeto, é claro, pode ser ampliado indefinidamente: a TV, o computador, o celular, o videogame...) As artes visuais ensinam nosso olho a captar, interpretar e memorizar o mundo. E a literatura acaba refletindo ao seu modo o comportamento desse olho recém-educado, os seus modos de ver e de entender. O ensaio de Alan Spiegel Fiction and the Camera Eye: Visual Consciousness in Film and the Modern Novel (1976) procura rastrear as técnicas de visualização da prosa literária moderna, mostrando as semelhanças e as diferenças entre o olho do cinema e o olho da literatura, bem como as contribuições peculiares a cada autor. Spiegel cita a profissão de fé de Joseph Conrad em seu prefácio a O negro do Narcissus (1897): “O objetivo que pretendo alcançar é, pelo poder da palavra escrita, fazer você ouvir, fazer você sentir, e acima de tudo fazer você ver. É isto e mais nada, e isto é tudo”. O objetivo de Conrad era de certa forma o mesmo de Flaubert, que a partir de Madame Bovary (1857) tornou-se o modelo para todos os escritores para quem a literatura é uma “forma concretizada”, um conjunto de personagens, ações e ambientes em que basta ao autor expor o que acontece. Ao visualizar cada cena, o leitor prescinde de explicações, porque a cena diz tudo, pela escolha cuidadosa do modo de apresentação. Com Flaubert, de certo modo, começou a tendência do “mostrar, ao invés de dizer”. Como diz Spiegel, “Flaubert permite que a ação narrativa exponha tudo que precisamos saber sobre os personagens; ele próprio se mantém em silêncio”. (Gustave Flaubert) A literatura sempre teve o privilégio de saltar instantaneamente do mundo exterior e visível para dentro da mente dos personagens, dizendo algo como: “Ao ver aquele acidente, Fulano sentiu um misto de medo, repulsa e raiva, e lembrou aquele dia, quando era criança, em que tal ou tal coisa lhe acontecera...” O cinema, ao contrário, não pode nomear emoções, e só com certa precaução pode mostrar a visualização dos pensamentos do personagem. A literatura sempre teve uma amplitude de ação maior que o cinema; por que motivo abriria mão dela? Ora, quando um escritor resolve contar uma história abrindo mão dos comentários autorais e da liberdade de explicar ao leitor o que um personagem está pensando, ele perde um instrumento que foi utilíssimo à literatura durante séculos, mas por outro lado ele convoca o leitor a um envolvimento maior. É como se dissesse ao leitor, estalando os dedos: “Acorde! Não vou lhe dizer o que essas pessoas sentem. Abra os olhos, preste atenção. Está vendo? O que acha disto?”. A literatura tradicional dava ao escritor a confortável ubiquidade e onipotência do contador de histórias, que sabe tudo da história que está contando e puxa o ouvinte/leitor para junto de si, prometendo revelar o máximo possível. O narrador moderno, ao contrário, dá um passo atrás, afasta-se da zona iluminada, e deixa o leitor sozinho diante daquela cena reconstruída em palavras, para que a interprete sozinho. O leitor era um ouvinte passivo; tornase agora um colaborador. Alan Spiegel analisa o estilo de visualização de autores pré-Flaubert. Balzac, por exemplo, “não vê uma cena com o olhar de um homem, mas com o olhar de um deus que se imagina ao mesmo tempo fisicamente presente numa cena e, ao mesmo tempo, fora dela e flutuando sobre ela”. Já Charles Dickens “adere mais intimamente aos movimentos de um olho que está presente em cada cena, um olho totalmente coordenado aos movimentos dos objetos que descreve”. De certa forma, esses autores pré-cinema criavam um cinema próprio com seus planos gerais, planos de detalhe, movimentos ao longo de um ambiente. A necessidade de “fazer ver” é sempre próxima da necessidade de narrar, e em autores do século XIX vemos inúmeros trechos que diríamos “cinematográficos” se eles não tivessem sido escritos décadas antes da Saída dos operários da Fábrica Lumière (1895), ou seja – muito do que chamamos “linguagem cinematográfica”precede a invenção do cinema, foi criado pela literatura. Spiegel aponta duas linhas no desenvolvimento da ficção dos fins do século XIX e começo do XX. Na primeira, a ênfase do romancista se afasta do objeto visto e se concentra no olho do observador, a ponto de virtualmente dissolver o objeto; ele analisa trechos de Émile Zola, D. H. Lawrence e Virginia Woolf para ilustrar essa tendência. Na segunda, os autores mantêm um equilíbrio entre objeto e observador, produzindo uma narrativa mais próxima da experiência cinematográfica, e os exemplos neste caso são colhidos na obra de Henry James, Joseph Conrad e James Joyce. (James Joyce) Ele observa, com riqueza de exemplos, o quanto Joyce deixa claro ao longo de suas narrativas qual é a posição dos olhos do personagem e o que, exatamente, ele é capaz de avistar, dando a esse personagem uma função semelhante à da câmara. Essa condição assume um duplo papel que varia entre a identificação e o distanciamento, entre uma participação subjetiva do personagem, misturando-se mentalmente àquilo que está vendo, e um afastamento: “a característica frieza de visão de Joyce, uma espécie de separação espiritual que começa com um olhar passivo, não-afetado, e nunca permitirá ao observador uma relação completa com o que se encontra em seu campo visual. (...) Uma espécie de solidão ocular”. O romance contemporâneo fez um grande esforço para criar através da prosa a frieza e a impessoalidade da câmara de cinema; um dos principais teóricos e praticantes desse estilo foi Alain Robbe-Grillet, que aliás acabou derivando para o cinema propriamente dito, como roteirista e diretor, sem abandonar a literatura. Seus romances, como os de vários autores do Nouveau Roman, são de uma visualidade exacerbada, que começa com a aparência de objetividade total. O autor nada diz do mundo interior dos personagens, apenas os mostra pelo lado de fora, como se fosse uma câmara. Mas essa aparente super-objetividade acaba servindo como um bloqueio, uma amarra à narração, porque o leitor não depende apenas de informações visuais para recompor uma narrativa em sua mente. A literatura descritiva, cujo lado visual vai sendo hipertrofiado, busca “a inspeção microscópica dos momentos da existência”, uma fascinação quase alucinatória pelo detalhe visto com uma nitidez que chega a ser excessiva, e com uma predominância que empurra para segundo plano outros elementos da narração verbal. (D. H. Lawrence) D. H. Lawrence já ironizava esse tipo de literatura num texto de 1923: “Oh, meu Deus, se eu gostasse de me observar bem de perto, se eu gostasse de analisar meus sentimentos nos menores detalhes, enquanto desabotoo minhas luvas, em vez de apenas dizer rudemente que as desabotoei, então eu poderia me alongar por um milhão de páginas em vez de apenas mil. Na verdade, quanto mais penso nisso, é muito rude, muito pouco civilizado dizer bruscamente: eu desabotoei minhas luvas. Afinal, que aventura absorvente é essa! Comecei por qual botão?...” Lawrence vê nesse delírio de objetividade excessiva uma literatura narcisista, preocupada apenas com o Eu: “Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou outra coisa. Minha reações são esta, e essa, e aquela”. Alan Spiegel fez esta avaliação em meados dos anos 1970, quando as vanguardas literárias, européias principalmente, levavam a extremos certas experiências dos modernistas do começo do século. Mas ele divide a ficção experimental daquela período em dois grupos: o de escritores “que tentam promover a credibilidade do seu conteúdo narrativo (personagens e ação), por mais fantásticos e inesperados que sejam”, esperando dos seus leitores a costumeira “suspensão voluntária da descrença”, e um segundo grupo que “procura destruir a credibilidade narrativa (dos personagens e da ação) e força o leitor, queira ou não, a um exercício da descrença”. Essa adoção da câmara-olho, de um olhar “cinematográfico”, começou por enriquecer a literatura. Ela era dependente da voz narrativa onisciente e todo-poderosa do autor do século 18, dirigida explicitamente ao leitor, entrando com ele na mente consciente e até no inconsciente dos personagens, produzindo juízos de valor e comentários morais sobre as cenas que narrava, chegando a usar o romance como uma espécie de púlpito para pregações que eram só dele, autor, e de nenhum dos seres humanos virtuais cuja história estava sendo contada. A literatura modernista, adotando a narração no estilo câmara-olho (além, é claro, de variados outros recursos), esvaziou esse papel centralizador e paternalista do autor, mas acabou por substituí-lo por um universo onde tudo é superfície visível, tudo é imagem exterior. O autor não apenas não interpreta, mas parece querer impedir que o leitor o faça. Essa literatura tende a entrar num parafuso metalinguístico de auto-reflexão e auto-desmascaramento: “ela nega personagens e ação ao nos forçar sistematicamente a analisar os meios que os produzem. Ela nos pede para nos privarmos da experiência do romance quando nos obriga a examinar os processos que produzem o romance”, diz Spiegel. Curiosamente, alguns desses aspectos que a literatura tentou esvaziar acabaram se exilando no próprio cinema. “Desde praticamente sua criação, e com incrível facilidade e rapidez, o filme tem assimilado todas as velhas formas narrativas e material dramático que já se supôs serem exclusivos do romance. O épico, a saga, o romantismo, a crônica, a história social, a biografia, a confissão, as velhas histórias de crime, paixão, aventura, sentimento e terror – tudo isto se tornou parte do repertório essencial do filme. Existe provavelmente uma apreciação de personagens e de ambiente mais rica e dedicada, maior desenvolvimento e amplitude, maior profundidade analítica e vastidão espacial – ou seja, aquilo que pertencia à antiga experiência literária – em filmes como Intolerância, Ouro e Maldição, A Grande Ilusão, Cidadão Kane, O Boulevard do Crime, Os Sete Samurais, A Trilogia de Apu, Uma Mulher para Dois, Fellini 8 ½, Dr. Fantástico e Os Emigrantes do que em qualquer obra literária recente de Robbe-Grillet, Michel Butor e J. M. G. Le Clézio”. O impasse que Alan Spiegel analisa nesse livro se prolongou pelas décadas seguintes, com consequências talvez inesperadas. Escritores intelectualmente sofisticados do final do século, como Umberto Eco, Georges Perec, Thomas Pynchon, Don de Lillo, Osman Lins, etc. souberam evitar o impasse vanguardista produzindo obras que denotavam uma consciência semiótica e uma rica capacidade descritiva, sem com isto abrir mão do prazer literário de contar histórias tão capazes de envolver o leitor quanto qualquer romance de cem anos atrás. Obras como O Nome da Rosa de Eco ou A Vida Modo de Usar de Perec têm um poder descritivo quase catalográfico, só que associado a um entusiasmo narrativo que recupera seu vínculo com a literatura narrativa tradicional, a que narra uma experiência humana complexa, multidimensional, capaz de ser reconhecida e assimilada pelo leitor. (Uma versão ligeiramente diferente deste texto foi publicada na revista Língua Portuguesa (Editora Segmento, São Paulo), no número especial sobre cinema, novembro de 2011) 4969) O Nonsense Metafísico (6.8.2023) (Philip K. Dick) O nome “ficção científica” foi, é e será uma fonte permanente de mal entendidos para pessoas que se acercam pela primeira vez dessa literatura à procura, por exemplo, de histórias aplicadamente submissas às leis científicas, ao método científico, ao jeito-de-pensar científico. Existem, sim, mas me atrevo a dizer que são minoria. Elas estão situadas naquele terreno impreciso que em inglês é chamado de “hard science fiction”. Algumas pessoas traduzem por “ficção científica dura” ou “FC dura”, mas eu acho isso muito ao pé da letra. Prefiro traduzir por “FC pesada”, pois acho que sugere melhor o peso da informação científica necessária. Esse rótulo designa as histórias onde a verossimilhança científica é obedecida tintim por tintim. Em contraposição, temos as histórias de “soft science fiction” que traduzo por “FC leve”. Existe nessas histórias uma referência a ciência e tecnologia, que as distancia da mera narrativa fantástica ou da fantasia. Os elementos mais comuns são viagens interplanetárias, contatos com alienígenas, espaçinaves, máquinas do tempo... Uma certa parafernália tecnológica, mas as histórias não resistiriam a uma sabantina científica rigorosa. Meus próprios contos geralmente são assim. Se a história se passa noutro planeta que não a Terra, e as pessoas andam ao ar livre, respirando sem cilindros de oxigênio, não me pergunte qual a composição química da atmosfera; não é disto que o livro trata. É outro planeta porque preciso colocar ali coisas que não poderiam existir na Terra, mas imagino que o sol de lá, a atmosfera e outros elementos são análogos aos da Terra. Quem deu um drible muito eficaz nesse problema foi (entre outros) Ursula Le Guin, quando postulou a existência dos Hainish, uma raça super-evoluída que “plantou” uma espécie humana (a nossa) em vários planetas semelhantes, por toda a galáxia, para ver como se desenvolvem. Somos apenas uma entre várias espécies humanas parecidas, em planetas parecidos. O peso do termo “científico” no rótulo da FC gera discussões intermináveis. “Mas isto não é científico!” brada alguém ao ler um livro em que um personagem, na Terra, dialoga com um lodo viscoso de Ganimede, capaz de ler pensamentos. Virando-se, Chuck viu um lodo viscoso e amarelo de Ganimede, que tinha se espremido silenciosamente pela fresta embaixo da porta e agora estava se recompondo numa pilha de pequenos globos, a aparência normal de seu corpo físico. – Eu moro no conapt em frente ao seu – declarou o lodo. – Entre os terrestres existe o costume de bater na porta antes de entrar – disse Chuck. Este é um trecho de Clans of the Alphane Moon (1964) de Philip K. Dick. Um leitor que exija rigor e verossimilhança científica numa história fica compreensivelmente chocado ao ler uma cena assim – para não falar no resto do livro, igualmente surreal. A literatura de Dick tem essa fisionomia cartunesca, parece mais (em certos momentos) com um desenho animado do que com um filme com atores. Os alienígenas têm as aparências físicas mais extravagantes, e no entanto pensam como pessoas, comunicam-se como pessoas. Em Now Wait for Last Year (1966), o protagonista, Eric Sweetscent, usa uma droga que lhe permite viajar no tempo, e vai parar num futuro próximo em que a Terra está invadida pelos Reegs, uma raça alienígena. Nesta cena, Eric vai a uma indústria química para comprar mais droga, e se depara com um deles: Era um organismo totalmente sem olhos; ele pensou, ao ver aquilo, em frutas que havia encontrado quando era criança, peras demasiado maduras caídas na relva, cobertas por uma camada fervilhante de criaturinhas amarelas, atraídas pelo odor adocicado da putrefação. Aquele ser era vagamente esférico. Tinha atado seu corpo a arreios, no entanto, que se afundavam tortuosamente por ele todo; sem dúvida precisava daquilo pra se lomocover no ambiente terestre. Mas ele ficou imaginando se esse esforço valeria a pena. – Ele é mesmo um viajante no Tempo? – perguntou o homem enquanto contava o dinheiro no caixa, fazendo um gesto com a cabeça na direção de Eric. O organismo esférico, enfiado nos seus arreios de plástico, disse por meio de seu sistema mecânico de áudio: – Sim, sr. Taubman, ele é mesmo. – A coisa flutuou na direção de Eric, então se deteve, quase meio metro acima do solo, enquanto produzia um ruído de sucção, como se estivesse sugando fluidos através de tubos artificiais. – Esse cara aí – disse Taubman a Eric, indicando o organismo esférico, é de Betelgeuse. O nome dele é Willy K. É um dos nossos melhores químicos. Escritores como Philip K. Dick fazem um malabarismo constante com vários tipos de verossimilhança. A verossimilhança científica é a primeira que vai pro espaço, mesmo que ele se dê o trabalho de mencionar um vago “sistema mecânico de áudio” que ajuda na comunicação. O que importa, contudo, é que tanto o lodo viscoso de Ganimede quanto o Reeg esférico e sem olhos entram na história com verossimilhança dramática (porque rapidamente se encaixam no enredo, assumem funções claras e ativas) quanto verossimilhança psicológica (suas reações diante de tudo são reações puramente humanas – o autor poderia tê-los encaixado como dois seres humanos quaisquer). Aceitamos esses alienígenas de aparência espantosa porque eles se comportam exatamente como humanos. É o mesmo processo que nos faz aceitar o Pato Donald e o rato Mickey metendo-se em aventuras, morando em casas, dirigindo automóveis,fazendo refeições à mesa, tal como qualquer humano. Se as ações e o modo de pensar são humanamente reconhecíveis, o leitor logo se esquece de sua aparência física porque no contexto ela serve apenas, no caso dos livros de Dick, para dar um verniz superficial de exotismo. Dick era um escritor meio alucinatório, que lia carradas de pulp fiction mas queria discutir problemas metafísicos. O que é a realidade externa, e o que é a realidade percebida pela mente? O que é um ser humano, e o que é uma máquina? As drogas aumentam ou diminuem a nossa percepção da realidade? Que tipo de compromisso ético temos com seres iguais a nós, ou diferentes de nós? Seus romances são um tipo particular de literatura absurdista, usando os elementos externos da ficção científica que ele tanto gostava de ler, e para cujo mercado produzia suas histórias. Ele praticava um Nonsense Metafísico, datilografando histórias à velocidade de uma rajada de metralhadora, produzindo uma espécie de “escrita automática” diferente da que os Surrealistas franceses preconizavam. Um jeito de escrever praticado por muitos autores de pulp fiction. Histórias concebidas em torno das imagens mais delirantes, e desenvolvidas meio de improviso, sem planejamento, quase como se o Inconsciente do autor estivesse batucando diretamente no teclado. Chamar esse gênero de “ficção científica” dá uma ênfase desproporcional à presença da Ciência, o que faz muitos leigos se decepcionarem com alguns livros, justamente porque queriam algo mais respeitoso com a Ciência. Muito mais adequado é o termo alemão para essa literatura: “wissenschaftlich-fantastischen Erzählungen”. Narrativas científico-fantásticas. Porque a Ciência é uma referência que pode estar ora próxima ora distante, mas a FC é uma literatura da imaginação e vai muito além do realismo literário tradicional, mesmo que valendo-se de suas estruturas. 4970) O fim da crítica de cinema (9.8.2023) A crítica de cinema é uma atividade em extinção? Não, não é, apesar de tudo o que tem acontecido. Principalmente (entre muitas, muitas outras coisas) a resistível ascensão do “influenciador de internet”, a pessoa que tem um canal de YouTube, um blog, um saite, seja lá o que for – e com essa arma explica o mundo para um milhão de seguidores. O medo é real, no entanto, e um artigo recente de Manuela Lazic no The Guardian pergunta: “Quem precisa de críticos de cinema, quando os estúdios têm como certo que os influenciadores vão elogiar o filme?”. Eu diria que O Império dos Fãs é um título muito mais ameaçador do que O Ataque Dos Clones ou mesmo A Vingança dos Sith. https://www.theguardian.com/film/2023/aug/01/what-are-film-critics-fortoday Não posso ser demasiado severo com os fãs cinematográficos: fui um deles, e pelo que me dizem não existe o conceito de “ex-fã”. Não há como negar, porém, que qualquer multidão de fãs tem um comportamento ligeiramente insetóide, e há um mecanismo pavloviano conduzindo essas multidões na direção da bilheteria e, depois, na direção dos teclados, onde passarão a conduzir novas levas para a bilheteria – que, mais do que a tela, é a razão de ser de tudo aquilo. Não entra aqui, por enquanto, a questão dos filmes serem bons ou ruins, até porque estes conceitos são construídos através do que podemos chamar de “subjetividade coletiva” – grupos significativos de pessoas que compartilham critérios e opiniões. Se um milhão de pessoas no mundo inteiro diz que um filme de Fellini ou um filme de David Lynch é bom, isto significa alguma coisa. Se dizem que o filme de [coloque aqui o nome de algum diretor ruim de hoje em dia, estou desatualizado] é bom, também não posso discutir. Como diz um meme famoso, “cultura não é só o que você gosta”. Paciência. A Internet e suas plataformas de vídeo têm canais onde os chamados influenciadores falam diretamente para centenas de milhares de pessoas, ou até milhões, seja ao vivo ou em gravação. Isto vai muitíssimo além, no Brasil por exemplo, do que um crítico de cinema de jornal ou revista pode alcançar. Em termos de formação de opinião, no atual desnível tecnológico, os fãs andam de Ferrari e os críticos no fusquinha de sempre. O poder dos críticos sempre foi proporcional ao poder dos meios de comunicação. Nos anos 1980, no Rio de Janeiro, uma crítica negativa de Maria Helena Dutra era capaz de tirar de cartaz um show que acabara de estrear no Canecão. Bárbara Heliodora demolia uma peça de teatro, e a peça corria o risco de não ter uma segunda temporada. Curiosamente, devastações desse tipo são mais raras na literatura. Pouca gente apanhou tanto quanto Carlos Drummond e Guimarães Rosa – mas se impuseram. Também tiveram críticos respeitados a seu favor. Ou seja: havia peso nos dois pratos da balança. Pode-se estender um pouquinho essa metáfora e dizer que o problema agora não está na balança; digamos que esteja na fita métrica. Críticos de peso continuam existindo, mas os critérios de sucesso ou fracasso não são determinados por eles, e sim por uma floração de semi-críticos, que são os influenciadores. Alguns certamente têm formação cultural semelhante à dos críticos da imprensa. Outros são demasiado jovens, voluntariosos, opinativos na base do “amei” ou “detestei”. Em parte foram formados pela própria imprensa, quando esta começou a usar slogans redutores tipo Imperdível ou Fuja! para qualificar os espetáculos. (Pauline Kael) A novaiorquina Pauline Kael, que escrevia na poderosa The New Yorker, já teve um enorme peso-de-poder nas mãos, algo que um crítico brasileiro jamais imaginaria. Suas opiniões nem sempre coincidem com as minhas, mas ela fala com clareza, com paixão, com bons argumentos e com conhecimento de causa – mesmo quando destrói filmes que eu admiro ou quando elogia banalidades. Eu leio os críticos, afinal, não na expectativa de que concordem com a minha opinião, mas para que a enriqueçam. Às vezes a crítica dela vinha carregada de vitríolo, vinha azedada por aquele complexo-de-sabe-tudo que os novaiorquinos têm (e não só eles, mas cala-te boca). Pauline dizia receber cartas ameaçadoras dizendo em quantos pedaços o missivista pretendia cortar seu corpo, e o que faria depois com cada um deles. No filme What She Said: The Art of Pauline Kael (Rob Garver, 2018), há um depoimento de David Lean que chega a incomodar. Ele tinha sido convidado a um almoço do New York Critics Circle, em 1970. Existe uma coisa, não sei bem como chamá-la, digamos: um círculo de críticos. Eles têm línguas afiadas. E eu fiquei ali por duas horas. E Pauline Kael tem uma língua especialmente afiada. Eu só lembro de ter dito, no final: “Acho que vocês só ficarão satisfeitos no dia em que eu fizer um filme preto-e-branco em 16mm”. E Pauline Kael disse: “Oh, não, pode fazer colorido.” E isto foi tudo. Teve um efeito muito sério sobre mim. Eu pensei: por que diabo estou fazendo filmes? Eu não tenho que fazer isso. E deixei de fazer, por algum tempo. Isso abala a confiança da gente, sabe, de um jeito terrível. (David Lean) Quem diz isso não é um jovem inseguro, é o homem que dirigiu A Ponte do Rio Kwai, Doutor Jivago, Lawrence da Arábia e A Filha de Ryan. Disse ao ser acuado por críticos que certamente não gostavam de seu cinemão de tela larga, paisagens amplas, dramas pessoais misturados a momentos épicos da História, com bela música orquestral. Bons filmes. (Eu gosto.) Hoje, um rapaz ou uma moça de 25 anos, que ouviu algum galo cantar mas não sabe onde, pode fazer um estrago semelhante ao de Pauline. Mesmo que não seja algo encomendado por inimigos pessoais do diretor ou por estúdios rivais, mesmo que seja uma opinião sincera e sem maldade, pode produzir um estrago pela simples questão dos grandes números. Millôr Fernandes (que tinha língua tão ferina quanto a de Pauline Kael) disse que ditadura é quando você manda em mim, e democracia é quando eu mando em você. Dá para pensar que um bom crítico/influenciador é o que concorda com meu gosto, e o mau é o que discorda. As opiniões em si teriam um efeito apenas estimulante se não fosse o enorme poder que é conferido a alguém, seja nas páginas de uma revista influente como The New Yorker seja num canal de YouTube com um milhão de assinantes. Dizem que o poder corrompe, e se fosse só isto era bom. A verdade é que o poder ilumina, ofusca, fortalece, inebria, ilude, reafirma, provoca, atiça... Um crítico em posição de poder é uma pessoa montada num tigre. (Um artista também.) 4971) O começo Mike Tyson (12.8.2023) (Gardner Dozois) Gardner Dozois, editor da Asimov’s Science Fiction, uma revista que recebia centenas de contos por semana, tinha uma receita infalível para filtrar este material. Dizia ele: Leio a primeira página do conto, e depois a última. A primeira página tem que me dar vontade de continuar lendo sem parar. A última precisa me dar vontade de voltar atrás e saber o que aconteceu para resultar naquele desfecho. Quando se tratava de um romance (completava ele), fazia o mesmo com o primeiro e o último capítulo. Isto não é um critério absoluto de julgamento literário, porque alguns textos começam de mansinho e vão nos envolvendo. Outros terminam bem, mas de maneira indireta, alusiva, sem desfechos bombásticos. Mas para quem precisa definir um critério urgente de interesse, serve perfeitamente. Um bom começo é meio caminho andado. Já tive o hábito de chamar esse tipo de abertura de conto “O Começo Mike Tyson”. Mike Tyson foi o campeão mundial dos pesos-pesados nos anos 19801990, e era famoso por ganhar as lutas logo no primeiro assalto. A gente ia assistir a luta num bar, e quando emendava as mesas, sentava e pedia a primeira cerveja... a luta já tinha acabado. Ele partia pra cima e resolvia o problema, às vezes, em questão de dois ou três minutos. (Machado de Assis, por Abel Costa) No conto (ou romance), às vezes nem precisa ser um parágrafo inteiro, porque a primeira frase pega o leitor pelo braço e o conduz. Machado de Assis é um mestre nessas frases de abertura que em poucas palavras impõem uma situação, jogam o leitor de súbito no meio de um acontecimento. Como em “O relógio de ouro”: “Agora contarei a história do relógio de ouro. Era um grande cronômetro, inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia”. Em “Fulano”, ele arrasta o leitor: “Venha o leitor comigo assistir à abertura do testamento do meu amigo Fulano Beltrão. Conheceu-o? Era um homem de cerca de sessenta anos...” Em “A carteira”, começa ele: “...De repente Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes”. Outras frases de abertura provocam espanto, como em “História comum”: “Caí na copa do chapéu de um homem que passava...” O autor não tarda a revelar que quem conta a história é um alfinete. Começos bruscos convêm a histórias de mistério e suspense, como na aventura de Sherlock Holmes “A granja da abadia”, contada por Conan Doyle: “Numa fria e nevoenta manhã de inverno, em 97, acordei com uma batida no ombro. Era Holmes. A vela que ele segurava brilhava no rosto ansioso e fiquei imediatamente sabendo que acontecera alguma coisa. – Venha, Watson, venha! O jogo começou! Nem uma palavra! Vista-se e venha!” É a técnica de começar a história in media res, já no meio dos acontecimentos, sem deixar ao leitor tempo para respirar, como faz Rubem Fonseca na abertura de “Desempenho”: “Consigo agarrar Rubão, encurralando-o de encontro às cordas. O filho da puta tem base, agarra-se comigo, encosta o rosto no meu rosto para impedir que eu dê cabeçadas na cara dele”. É a descrição de uma luta, que o autor torna vívida através do uso de palavrões, que exprimem a agressividade animal da cena, e do uso do jargão dos lutadores (“de encontro às cordas”, “tem base”). Fonseca é mestre nos inícios coloquiais, em que logo na primeira frase nos deparamos com uma história de narrador pouco confiável, como “Gazela”: “O senhor talvez pense que eu estou bêbado, mas não estou bêbado porra nenhuma. É esta história que me deixa tonto, nunca contei nada para ninguém; na verdade, quem me parece bêbado é o senhor”. Outra técnica tradicional das aberturas é anunciar o caráter extraordinário da história a ser contada, e fisgar o leitor logo na primeira linha. Como faz Conan Doyle, em “O caçador de besouros”: “—Uma experiência curiosa? disse o doutor. – Sim, meus amigos, aconteceu-me curiosíssima experiência. Espero nunca ter outra, porque seria contra todas as leis da probabilidade que dois acontecimentos semelhantes se passassem numa só vida de um homem. Podem vocês acreditar-me ou não, mas a coisa aconteceu exatamente tal como a conto”. Criar uma aura de mistério ou anunciar uma revelação espantosa serve a autores que lidam com o fantástico, como Guy de Maupassant na abertura de “Quem sabe?”: “Meu Deus! Meu Deus! Vou afinal escrever o que me aconteceu! Mas será que conseguirei? Terei coragem? Aquilo é tão estranho, tão inexplicável, tão incompreensível, tão louco!” O tom desesperado, quase histérico de Maupassant é herdeiro direto de autores como Edgar Allan Poe, que manipularam com a mesma mestria o conto alucinatório. Poe começa assim “O coração denunciador”: “É verdade! Tenho sido e sou nervoso, muito nervoso, terrivelmente nervoso! Mas, por que ireis dizer que sou louco? A enfermidade me aguçou os sentidos, não os destruiu, não os entorpeceu.” Ou em “O gato preto”: “Para a muito estranha embora muito familiar narrativa que estou a escrever, não espero nem solicito crédito. Louco, em verdade, seria eu para esperá-lo, num caso em que meus próprios sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Contudo, louco não sou e com certeza não estou sonhando”. Muitos autores escolhem começar assim um conto. Anunciar um mistério, uma dúvida, uma situação enigmática e inquietante, e contar com a curiosidade do leitor pra mantê-lo preso até o final. Isto pode ser feito como Conan Doyle em “Os três Garridebs”, com a revelação parcial de detalhes: “Podia ter sido uma comédia como podia ter sido uma tragédia. A um homem custou a perda da razão, a mim me custou um pouco de sangue e a um terceiro lhe custou as penas da lei. Entretanto, sempre houve um elemento de comédia. O leitor que julgue por si mesmo”. Claro que nem sempre é preciso recorrer ao suspense ou a situações violentas. Basta o mistério, como Machado começa “Entre santos”: “Quando eu era capelão de S. Francisco de Paula (contava um padre velho) aconteceu-me uma aventura extraordinária”. Em “Idéias de canário” ele começa assim: “Um homem dado a estudos de ornitologia, por nome Macedo, referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou o juízo. Eis aqui o resumo da narração”. E seu conto clássico “Missa do Galo” principia: “Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos, contava eu dezessete, ela trinta”. Esta frase inicial dá o tom de todo o conto, em que a personagem feminina nos é revelada pelo narrador ingênuo, sem que ele entenda os fatos que está narrando. (Uma versão ligeiramente diferente deste artigo foi publicada na revista Língua Portuguesa (Ed. Segmento, São Paulo) em dezembro de 2008.) 4972) A não-música de John Cage (15.8.2023) No mês de setembro completam-se 111 anos do nascimento de John Cage, o compositor mais fora-de-esquadro da música dos Estados Unidos. Chamado de gênio e de charlatão por muita gente. É o que acontece com muitos artistas de vanguarda que inventam um conceito de criação artística, aferram-se a ele com uma monomania quase psicótica, e acabam sendo compreendidos por um certo número de pessoas, em quantidade (e importância) suficientes para garantir a sobrevivência das suas obras. Cage é visto como um dos integrantes do que alguns gozadores chamam “a turma do barulho”, compositores de formação erudita que utilizam métodos não-convencionais para produzir música. Instrumentos, notações, estruturas, tudo a serviço de composições que parecem querer, insistentemente, desmontar nosso conceito do que é música. Perguntado num programa de TV se de fato fazia música, ele disse: “Sim. Eu considero que música é a produção de sons, então posso chamar de música isto que faço”. Cage faz música experimental de muitos tipos. Um deles consiste em descobrir sonoridade e expressividade em sons de origem diferente e estrutura diferente do que se observa numa música orquestral comum. Acho que é mais fácil entendê-lo quando pensamos nas experiências do nosso Hermeto Paschoal na música popular. O albino Hermeto toca chaleira, toca badalo de vaca, bota porco para roncar numa gravação, balança uma lata cheia de tampas de garrafa... É música? Eu acho que sim, porque, sendo músico popular, ele envolve tudo isso num colchão sonoro de música convencional, feita com teclados, saxofones, etc. Em Hermeto, os sons não-convencionais passam como mero complemento da música dele. Uma música às vezes estranha, mas jazzística, meio erudita, meio popularzona, uma música que tudo recebe e tudo acolhe. John Cage, não. Ele oferece ao ouvinte o som concreto, cru e cumulativo de campainhas, percussões aleatórias usando vidro e metal, água jorrando ou sendo chacoalhada, ruído de aparelhos culinários, rádio captando estática... Ele faz essa música propositalmente não-melódica, não-rítmica e não-harmônica (creio eu) não para agredir nossos ouvidos, mas para despertá-los. A música que nós ouvimos (erudita ou popular) é feita de um repertório de sons muito vasto, os sons produzidos pelos instrumentos de uma orquestra, uma banda de rock, uma escola de samba, etc. Sua riqueza é espantosa, inesgotável, mas é um conjunto de timbres, fraseados melódicos, estrutura e cadências com as quais já nos acostumamos. Reagimos a ela como um cachorro reage a uma campainha. Fomos treinados para aceitá-la, e nossa balança de gosto/não-gosto funciona em torno do cardápio que ela oferece. Mas... Basta ouvir meia hora de música oriental ou africana para perceber o quanto ignoramos e o quanto provavelmente estamos perdendo. Bastava ouvir mais, prestar atenção, ler um pouco a respeito, construir uma nova sensibilidade... Mas a verdade é que pouca gente tem tempo pra isso. Contentase com o que já conhece, e que não é pouco. Cage é um artista provocativo, com muito da atitude dos artistas plásticos de vanguarda. Ele faz uma composição que consiste apenas de silêncio, o que equivale às telas em "Branco sobre branco" de Malévitch. Com um complemento: a peça 4’33” exige que o concertista se sente ao piano, mas sem tocar, e a peça sonora será composta pelos ruídos da plateia. Todo o trabalho de Cage (incluindo livros, palestras, entrevistas) mostra os bastidores da música, a discussão do que constitui uma música, o limite entre a música na cabeça do compositor e o resultado final mostrado ao público. Em geral, essa discussão não nos interessa. Somo consumidores, somos ouvintes, queremos o resultado pronto. Não queremos participar da discussão criativa, queremos fruir uma criação e passar para a próxima. Esse “queremos” é relativo, claro, porque milhares de pessoas (eu por exemplo) tem algum interesse por essas discussões. Não queremos só andar no carro, queremos saber como o motor funciona. Daí que a língua inglesa tem um expressão-padrão para isso: “a poet’s poet” é um poeta que escreve para outros poetas, “a painter’s painter” é um pintor cuja obra interessa mais a outros pintores do que ao público, e assim por diante. Não tem nada demais nisso, e só mesmo o furor consumista e anti-intelectual de nossa época para considerá-lo uma forma de elitismo. Em todo caso, Cage é abraçado e estudado não apenas por músicos eruditos. Roqueiros como Frank Zappa, Brian Eno, e outros tocam para multidões, fazem música dançante para balançar o esqueleto, mas gostam de refletir sobre a filosofia da composição, e de estudar em profundidade a matéria primas (o som e o silêncio) que estão manipulando, e os instrumentos que utilizam. E a obra de Cage é uma referência para eles. No documentário John Cage: Journeys in Sound (2012) de Allan Miller e Paul Smaczny, Cage aparece em papos-cabeça com John Lennon e Yoko Ono; explicando sua obsessão por cogumelos comestíveis; compondo com o auxílio do I-Ching, o Livro das Mutações. É um experimentalista, um curioso com erudição, um cara que gosta – pra usar um clichê do momento – de “pensar fora da caixa”. No programa de TV que aparece no documentário, Cage conta que às vezes o pai o levava para caçar no bosque, e os dois não conseguiam abater nenhuma caça para o jantar. Então o pai dizia: “Não faz mal, a gente sempre pode ir na cidade e comprar alguma coisa de verdade”. Os animais caçados pessoalmente são vistos como um substituto da comida “de verdade” – a industrializada, que se compra no supermercado. Essa curiosa dicotomia está na raiz da música de Cage. Para ele, os sons de verdade, a música de verdade, são as sonoridades livres, selvagens e à solta que existem no mundo: barulho de chuva, de trânsito, de talher de metal em prato de louça, de porta rangendo, de vidro quebrando, de papel sendo amassado... E não a música radiofônica, feita como sonoridades industrializadas, codificadas, domesticadas, padronizadas... A comida-enlatada do som. No mesmo programa de TV o apresentador previne Cage, antes do “concerto”, que algumas pessoas da platéia poderão rir durante os seus números “musicais”. Ele responde, tranquilo: “Tudo bem. Eu acho o riso melhor do que as lágrimas”. 4973) Otacílio Batista, cantador (18.8.2023) O próximo mês de setembro trará as comemorações do centenário de nascimento de Otacílio Batista, um dos grandes cantadores de viola de sua geração. Um amigo-e-mestre com quem tive a sorte de conviver durante alguns anos, principalmente entre 1975 e 1980, quando eu morava no Nordeste (Campina Grande, Salvador) e convivia mais de perto com o Olimpo da cantoria. Digo “Olimpo” na brincadeira, mas a cantoria é meio assim – uma montanha fabulosa habitada por deuses capazes de façanhas que nos parecem sobrenaturais, mas basta subir a ladeira e vê-los de perto para constatar que são “humanos, demasiado humanos”, com as mesmas paixões nossas, os mesmos sentimentos, as mesmas qualidades e defeitos... Ou seja: são duas vezes mais interessantes. Otacílio Batista (28-9-1926 / 5-8-2003) era um dos três irmãos violeiros que muito fizeram para transformar São José do Egito (PE) numa das capitais simbólicas da cantoria. Junto com Lourival (1915-1992) e Dimas (1921-1986) ele representou a geração de meados do século 20, que viveu e impulsionou um dos vários ciclos de expansão e modernização da arte do repente. E está pronta para ir às livrarias a biografia Otacílio Batista, uma história do repente brasileiro (São Paulo: Hedra & Acorde!, 2023), escrita pelo seu neto Sandino Patriota, pesquisador da Universidade Federal do ABC (UFABC). Não é o primeiro livro abordar a pessoa e os versos de Otacílio, mas neste caso o autor, sendo da família, teve acesso a uma grande quantidade de material, inclusive narrativas orais que enriquecem o retrato. Otacílio Batista Patriota já tem o nome na métrica perfeita do decassílabo em martelo agalopado, com acento nas sílabas 3, 6 e 10. Era um cantador de verso rápido, mas com uma dicção calma e cadenciada, a cabeça trabalhando como um chip Intel enquanto a voz escandia as sílabas sem vexame (=pressa), como se estivesse ditando o verso para alunos aplicados. Fui um deles, aquele tipo de aluno de mesa de bar a quem ele sempre dava explicações pacientes, orgulhoso ao ver como os universitários cabeludos e intelectualóides estavam começando, em meados dos anos 1970, a querer saber quem inventou o galope beira-mar, quem foi Fabião das Queimadas, e a diferença entre sextilha e gemedeira. O livro de Sandino traz uma comparação detalhada e pitoresca entre os três irmãos Batista, traçando o perfil único de cada um. Lourival: o mais velho, boêmio, farrista, humor sarcástico, lirismo delicado, trocadilhista emérito, vida profissional caótica. Dimas (que não conheci pessoalmente) mais reservado, leitor voraz, lírico e erudito ao mesmo tempo, acabou deixando a viola de lado para ser professor e diretor de colégio. Otacílio, grande observador, de verso elegante e resposta rápida, autor de inúmeros livros, capaz de belas poesias líricas e de versos fesceninos de fazer inveja a Bocage. Como observa Sandino Patriota: Apesar de ser apenas oito anos mais velho do que Otacílio e seis do que Dimas, a distância real entre esses cantadores era de uma geração inteira. Lourival pertenceu à geração dos Vates antigos: cantava, se portava e pensava como os cantadores que fizeram fama no fim do século XIX. (pág. 24) Começando a carreira de cantador profissional em 1940, Otacílio foi um dos protagonistas do “boom” do repente após a II Guerra Mundial. Em 1946, Ariano Suassuna quebrou um honorável tabu da cultura elitista ao levar cantadores (os Batista entre eles) para o palco do Teatro Santa Isabel, no Recife. Em 1947, Rogaciano Leite organizou o primeiro congresso (=festival) de cantadores do Nordeste, no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, onde a dupla vencedora foi Cego Aderaldo e Otacílio Batista. Em 1948 Rogaciano “fechou o firo” ao levar para o Teatro Santa Isabel o segundo congresso de cantadores. Em 1949, um grupo de políticos e jornalistas, admiradores do repente, produziram e organizaram uma viagem, ao Rio e São Paulo, de um grupo de violeiros que incluía os três Batistas, o veterano Severino Pinto (o “Pinto do Monteiro”) e Agostinho Lopes dos Santos. A revista O Cruzeiro (25-6-1949) dedicou várias páginas à caravana de poetas, que cantaram para ministros e autoridades, e foram celebrados por Carlos Drummond de Andrade e Joaquim Cardozo. (Otacíio, Lourival, Pinto e Dimas) É bom destacar, sempre, que isto se deu num momento em que o baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira varria o Brasil radiofônico de ponta a ponta, e Gonzagão nunca deixou de lembrar o quanto sua música devia à batida da viola e às toadas dos cantadores. Foi um grande momento de evidência da cultura do Nordeste na indústria cultural (rádios, jornais, revistas) sudestina. Sandino aborda também a questão do mito de Zé Limeira, “o Poeta do Absurdo” celebrado por Orlando Tejo. Como se sabe, muitos dos versos atribuídos por Tejo a Zé Limeira foram escritos por Otacílio. Hoje, destrinchar quem fez o quê é um pouco como pegar uma xícara de café com leite e separar os dois. Otacílio era alto, corpulento, branco de olhos claros, sempre bem vestido, passo vagaroso, porte altivo. Sempre cortês e atencioso, mas avermelhava num segundo quando alguma coisa o irritava. Bem humorado na hora da anedota ou da piada ferina sobre algum incauto, tinha pavio curto quando se ofendia, erguia os ombros, ficava que era ver um touro. Mas não era homem de briga; se vingava no verso, porque Deus é grande. Lourival Batista já foi objeto de alguns livros (de Ivo Mascena Veras, Alberto da Cunha Melo), e de filmes de curta-metragem, inclusive o Bom Dia, Poeta (2015) de Alexandre Alencar, onde colaborei no roteiro. Otacílio tem agora esta atenta e útil biografia. Fica faltando a de Dimas Batista, o homem que disse: “tudo passa na vida, tudo passa, mas nem tudo que passa a gente esquece”. 4974) Eu já fui cineasta (21.8.2023) (Lydia Tár) Em certos momentos tenho a impressão de que fui a única pessoa a gostar do fime Tár, estreado por Cate Blanchett e dirigido (com brilhantismo) por Todd Field, aquele rapaz que faz o pianista amigo de Tom Cruise no filme kubrickiano Eyes Wide Shut (“De Olhos Fechados”, 1999). Sei que não sou o único, claro, e nas redes sociais vi inúmeros elogios. Mas vi também rejeições bruscas, irritadas: ao filme, ao enredo, à personagem principal, à narrativa, à verossimilhança da história contada. Tar se passa num mundo que eu só aceito como real porque sei que o é. É o mundo das pessoas riquíssimas, sofisticadas, cosmopolitas, poderosas. Não é um mundo de executivos bilionários, de banqueiros, de políticos. Curiosamente, é o mundo da Cultura e da Arte, ou seja, em princípio este mesmo mundinho de fundilhos rasgados e mão-em-concha onde vivo e bulo há mais de meio século. Só que, no caso dela, é o mundo da alta cultura, da música orquestral, das grandes temporadas líricas... Alguém já afirmou que a música sinfônica e a física teórica são as maiores contribuições da Europa ao pensamento humano. Uma constatação que pode ser ampliada, é claro (eu incluiria o romance dos séculos 18-19), mas nunca reduzida. Estes dois monumentos ninguém discute. Lydia Tár é uma maestra talentosa, culta, articulada, articuladora, ambiciosa, sagaz, olimpicamente certa do próprio poder no mundo da música. Não é um papel difícil para Cate Blanchett. Ela já interpretou Bob Dylan, o Dylan elétrico do Royal Albert Hall Concert, o Dylan de 1966. E tira Lydia Tár de letra. A maestra é do tipo capaz de passar o trator por cima de tudo, quando precisa alcançar um objetivo: namorar uma musicista jovem, demitir um funcionário, proteger a filhinha que sofre bullying na escola, acabar um namoro que perdeu o encanto. Tudo isto a ajudou na subida à Fama – e, como nos romances-para-costureirinhas, tudo isto vai provocar seu desmoronamento final. (Que, ao contrário da maioria dos espectadores, achei adequado, dramaturgicamente plausível, e narrado com desconcertante simplicidade.) Gosto de fazer aproximações inesperadas, meio randômicas, entre coisas não-relacionadas. O nome da personagem de Cate Blanchett me foi trazido à memória quando assisti agora há pouco tempo o documentário Béla Tarr: I Used to be a Filmmaker (2013) de Jean-Marc Lamoure, sobre o cineasta húngaro conhecido por seus filmes austeros, enigmáticos, arrastados, filosóficos, tarkovskyanos. (Béla Tarr) O documentário acompanha as filmagens de O Cavalo de Turim (2011) o último filme dirigido por Tarr, nascido em 1955, autor de Satantango, O Homem de Londres e outros. É um filme feito na borda do fim dos tempos, por assim dizer: uma campina semi-desértica, açoitada por uma ventania que parece obstinar-se em varrer dali a presença humana para que o mundo se acabe sem que haja testemunhas. Numa casa de pedra vivem um homem de um braço só e uma mulher jovem, aparentemente sua filha. Ele tem uma carroça e um cavalo, e de vez em quando vai vender coisas num vilarejo. E só. O filme é preto-e-branco, e tem uma música que parece uma ventania repetida em loop misturada a uivos de banshees carpindo a morte do sol. No doc, vemos Béla Tarr dirigindo cenas deste filme impressionante, e conversando com membros da equipe, que dão breves entrevistas comentando seu trabalho. São artistas que criam juntos com o diretor há muitos anos: a montadora (e esposa) Agnes Hranitzky, o escritor Lazslo Krasznahorkai, o fotógrafo Fred Kelemen, o compositor Mihaly Vig, a atriz Erika Bok. É o mundo da Arte e da Cultura, também. E ao ver as filmagens de O Cavalo de Turim tenho a sensação de que o diretor e sua equipe estão mais próximos, social e historicamente, daqueles personagens miseráveis cuja vida estão filmando do que do mundo glitzy, o mundo blasé, o mundo highbrow da maestra Lydia Tár. Tudo isso é cultura, por certo, e não estou aqui contrapondo maestras que vestem (o quê, Deus do céu? Eu só estudei até Dior e Givenchy) a cineastas intelectuais que trajam capote e botas. É um mundo só, e Béla Tarr não é propriamente um tresmundista rodando filme vencido e largando papagaios no comércio do vilarejo onde filmou. Seus filmes são produções internacionais, e aparecem nos grandes festivais de cinema. Ele não é um pobretão. Mesmo assim, há um contraste tão desconcertante entre o mundo de Lydia Tár e o mundo de Béla Tarr que o primeiro impulso é achar que são polos opostos, e que os dois nada têm em comum. Eu vejo, contudo, no olhar de Cate Blanchett (quando “recebe” a maestra) e no olhar do diretor húngaro a mesma concentração, a mesma fixidez, a mesma imperturbabilidade das pessoas capazes de criar com grande intensidade e em alto nível. O olhar impiedoso do artista nos momentos em que deixa de ser gente como a gente e passa a ser o que é. A maestra deixa que a vida pessoal lhe arruíne a carreira; o cineasta pára de filmar em 2011 e vai fazer outra coisa. Rica ou modesta, fashion ou ascética, a Arte de verdade cobra um preço alto. Feliz de quem tem uma vida com que pagá-lo. 4975) Drummond: "Cabaré Mineiro" (24.8.2023) Este poema do livro Alguma Poesia (1930) poderia aparecer numa antologia de poesia erótica brasileira, sem decepcionar. Decepcionaria, talvez, quem acha que a poesia erótica só é feita para excitar, para despertar um desejo bem empoderado de fazer “aquilo”. Nada contra; mas existe a poesia erótica que implica numa reflexão sobre o erotismo, num desvendar de sintomas do erotismo, como se mostrasse um ambiente (ou uma vitrine) e perguntasse mudamente ao leitor: “Isto te excita? E isso? E aquilo?”. Ou, para lembrar o título impagável de um conto de Robert Sheckley: “Você sente alguma coisa quando eu faço assim?...” “Cabaré Mineiro” é um título auto-explicativo e merecedor de comentário. Existem vários tipos de lugares chamados de "cabarés", que não são, necessariamente, casas de prostituição. Neste extremo, temos aqueles lugares onde os clientes entram, há um recinto com várias mulheres em exposição (ou elas são trazidas em grupo, para serem apreciadas), o cliente escolhe uma, e os dois se retiram rumo a um dos quartos. É um sistema vapt-vupt, eminentemente prático; ninguém perde tempo com nhém-nhém-nhém. (Já ouvi muuuito esse argumento.) A gente vê isso em contos de Rubem Fonseca, em filmes como Domicílio Conjugal de François Truffaut ou A Bela da Tarde de Luís Buñuel, em filmes de Fellini como Roma, Amarcord etc. Eu acho que chamar de cabaré um lugar desse tipo é usar um santo nome em vão. No extremo oposto, o cabaré é um lugar alegre. Um night-club: tem mesas, pista de dança, palco com orquestra (ou, na faixa popularesca, vitrola de ficha), balcão e garçons servindo bebidas... Os quartos ficam no andar de cima ou na parte traseira, mas as mulheres circulam por entre os clientes, conversam, sentam na mesa, bebem, flertam... Ali o nhém-nhém-nhém impera, porque (também já ouvi muito este argumento) sem nhém-nhém-nhém que graça tem?! O cabaré do poema de Drummond é bem assim, como os cabarés de Jorge Amado. É um espaço social onde os homens se exibem, gastam a rodo, disputam a atenção das mulheres mais bem cotadas, assistem danças, em alguns casos jogam baralho... O sexo é apenas um dos elementos envolvidos. O poeta diz: A dançarina espanhola de Montes Claros dança e redança na sala mestiça. A nacionalidade duvidosa da dançarina já carimba no primeiro verso a natureza fantasiosa do ambiente, onde o uísque escocês é paraguaio. A “sala mestiça” é um elemento confirmador de que não é nenhum “Tabarís” frequentado por coronéis ricaços; é um cabaré de classe média. Com olhos morenos estou despindo seu corpo gordo picado de mosquito. Tem um sinal de bala na coxa direita, o riso postiço de um dente de ouro, mas é linda, linda, gorda e satisfeita. É interessante o fato do poema ser narrado, sem pudor, na primeira pessoa. Não se trata de saber, biograficamente, se Drummond frequentava cabarés, mas de vê-lo como um personagem-narrador identificado com o ambiente. É o mesmo poeta que no mesmo livro insiste em afirmar que já foi “brasileiro moreno como vocês”. O poeta afirma ter olhos morenos, como em outro poema queixava-se do “desprezo da morena”. Há uma busca consciente de brasileiridade, projeto meio confuso mas provavelmente sincero que os modernistas cultivaram em maior ou menor grau. A descrição realista da dançarina torna mais clara essa tensão mental e simbólica entre a mente de um rapaz classe-média (que está ali, em princípio, pagando) e uma moça pobre. Ela é picada de mosquitos, tem marca de bala, tem dente de ouro, é gorda... Mas é linda, é linda! O desejo fala mais ato do que tudo. O poeta vê os supostos defeitos, mas não liga. E quem liga?! Lembra um poema muitíssimo posterior de Drummond, de Boitempo, onde ele diz: “eu quero a puta eu quero a puta”. Ele (o narrador da historinha) quer descarregar a tensão sexual acumulada, é claro, mas é mais do que isso. Ele quer compartilhar (com ela, com o leitor, tanto faz) o instante de iluminação em que ele percebe que uma mulher feia pode ser linda, o desejo de quem precisa dela a torna linda; assim como um país feio pode ser um país lindo, se conseguirmos ter desejo por esse país. Como rebola as nádegas amarelas! Cem olhos brasileiros estão seguindo o balanço doce e mole de suas tetas... Estou exagerando? Não acho. Olha só o paralelismo dos versos “com olhos morenos... / cem olhos brasileiros...”. Ele pula da experiência particular para a experiência social, coletiva. Naquele salão, todos somos morenos, todos somos brasileiros, todos somos espanholas de Montes Claros. Há um desejo coletivo que serve de liga, de argamassa. As tetas da dançarina, elemento atrator do desejo dos homens, equivalem às tetas da lavadeira em “Iniciação amorosa”. E lembra os versos do repentista Canhotinho: Quando era injusto o Brasil, os pretos se cativaram; o choro dos filhos brancos, as mães pretas consolaram, e o leite dos filhos pretos, os filhos brancos mamaram! É mais um capítulo da nossa promiscuidade cruel e afetiva entre classes sociais, com sua mistura de desejo e repulsa, de dominação e submissão, de exploração e de armistício. (Canhotinho) 4976) A arte do nome do personagem (28.8.2023) O nome é o rosto verbal do personagem, a senha que basta pronunciar para fazê-lo surgir por inteiro. Na criação de um personagem, a escolha ou invenção de um nome próprio é uma decisão final que nem sempre é fácil. Alguns escritores costumam fazer listas de nomes e sobrenomes, e os distribuem pelos personagens seguindo um pouco o instinto e um pouco a busca de verossimilhança. Pode ser que o autor queira fazer do seu personagem alguém típico, mediano, e nesse caso pode ser útil dar-lhe um nome quase invisível. “José da Silva” já é caricatural, mas nomes como “Antonio Barbosa” ou “Paulo Ferreira” são nomes brasileiros que tendem a passar despercebidos. Qualquer “Maria” se dilui em milhões de outras, a menos que traga um segundo nome fora do comum. Na antiga literatura satírica ou moralizante usava-se o nome do personagem para revelar desde logo sua característica principal. Um indivíduo ingênuo chamava-se “Simplício” ou “Inocêncio”; um indivíduo decente e probo era “Honorato”. “Fidélia” sugeria uma esposa digna, e “Dolores” uma sofredora. Essas indicações óbvias destinavam-se talvez a um público leitor não muito sofisticado, para quem a iniciativa de associar o nome do personagem ao seu caráter era uma gratificante façanha intelectual. Com o passar dos tempos este recurso foi se tornando mais sutil, mas não se perdeu de todo. Em Dona Flor e Seus Dois Maridos Jorge Amado contrasta os dois esposos da protagonista chamando a um Vadinho, que sugere “vadio”, e ao outro Teodoro Madureira, que sugere um homem religioso e maduro. Os nomes dos personagens de Guimarães Rosa já mereceram numerosos estudos, começando pelo Recado do Nome de Ana Maria Machado, em 1976. Na literatura de Rosa existe um propósito permanente de não tratar os nomes próprios como um dado imutável, documental, extraído da realidade e impossível de modificar. Ele considera que o nome é um elemento literário a mais, e que cabe ao escritor interferir nele, torná-lo significante. Os nomes dos grandes personagens de sua obra (Riobaldo, Diadorim, Zé Bebelo, Augusto Matraga, Miguilim, etc.) já foram exaustivamente analisados pela crítica. Mas basta pegarmos uma lista de coadjuvantes para perceber o ouvido e a memória afetiva do autor, como nas listagens que Riobaldo faz dos jagunços do bando: Alaripe, Sesfrêdo, João Concliz, Quipes, Joaquim Beijú, Tipote, Quêque, Mão de Lixa, Freitas Macho, Preto Mangaba, Coscorão, Jiribibe, Moçambicão, Sidurino, Rasga-em-Baixo, Dimas Doido... Nomes tão peculiares e característicos quanto um rosto humano visto de perto. Nomes abstratos foram muito usados na literatura romântica, onde apareciam “o Marquês de S...” ou “a Duquesa de D...”, quando não “o Barão de ***” – o que levou a Emília de Monteiro Lobato a proclamar-se “Condessa de Três Estrelinhas”. Osman Lins foi um dos raros escritores brasileiros a criar um sinal gráfico para designar um personagem, em vez de um nome. Em seu romance Avalovara, uma personagem feminina é referida por um sinal: um círculo com um ponto no centro e duas pequenas saliências erguidas dos lados, como duas orelhas. Um recurso ousado, até pelo fato de que o leitor não dispõe de um equivalente sonoro para este sinal, como ocorre com qualquer nome comum. Se um personagem se chama “Capitu”, existem sons correspondentes à combinação dessas seis letras nessa ordem. Mas a personagem de Avalovara existe apenas para os olhos, na página; é um personagem fora do mundo oral. (Avalovara) Oswald de Andrade, embora mais conhecido como poeta e agitador literário, escreveu dois romances que estão entre as obras mais criativas de todo o Modernismo Brasileiro, Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Neles, a verve satírica do escritor se volta contra a afetada e ignorante burguesia de sua época, e ele prega aos seus personagens nomes burlescos: Pinto Calçudo, Machado Penumbra, Madama Rocambola, Carlindoga, Mariquinhas Navegadeira... São nomes que nada têm de realistas, mas que muitas vezes evocam justamente os apelidos cômicos que as pessoas de sobrenomes pomposos colocam nos parentes, na sua intimidade familiar. A literatura de ficção científica tem a obrigação de inventar outros mundos, outras civilizações, outras línguas e outras Histórias. Como produzir nomes que reflitam essa enorme estranheza? Um alienígena, vindo de outro sistema solar, não pode se chamar William nem Bóris. Uma solução frequentemente empregada pelos autores é tentar reproduzir foneticamente os sons, teoricamente ininteligíveis, que constituem os nomes próprios. Daí surgem nomes como “Ph’theri” e outros. Isaac Asimov, nas suas histórias sobre robôs inteligentes, dá aos seus robôs mecânicos siglas que são transformadas, na linguagem coloquial, em nomes próprios. Assim, “NS-Two” torna-se “Nestor”, “LV-X” torna-se “Elvex” e assim por diante. Já os nomes dos personagens humanos na sua série da “Fundação” são uma hábil mistura de radicais e sílabas aleatórias, que os tornam fáceis de pronunciar, mas com o grau de estranheza suficiente para parecerem nomes de outros mundos: Hari Seldon, Salvor Hardin, Golan Trevize, Dors Venabili, Ebling Mis, Eto Dermezel, etc. Cada escritor cria um laboratório de nomes de acordo com o universo que está criando. Os planetas onde ocorrem as histórias de Cordwainer Smith têm um clima retrô, são civilizações avançadas que procuram reproduzir fases antigas da História da humanidade, recorrendo a idiomas extintos. Isto o faz criar nomes próprios como Lord Jestocost, Dolores Oh, Magno Taliano, Lord Femtiosex, Lady Arabella, Lord Sto Odin, além de lugares como o planeta Viola Siderea e o Alpha Ralpha Boulevard, “a avenida que subia até as nuvens”. O ideal é que um nome literário seja marcante, único, e que fique colado àquele personagem para sempre: Quincas Borba, Jane Eyre, Gregor Samsa, Isaías Caminha, Emma Bovary, Dorian Gray, Maria Moura... Nomes fortes, característicos, não tão comuns que se confundam com outros, não tão raros que sugiram um exotismo desnecessário. (Uma versão ligeiramente diferente deste texto apareceu na revista Língua Portuguesa, Editora Segmento (São Paulo), março de 2009) 4977) Os monstros do Loch Ness (31.8.2023) Desde que eu me entendo por gente existe uma busca constante pelo famoso Monstro do Loch Ness, uma espécie de criatura aquática pré-histórica que se diz existir nesse lago da Escócia. Dezenas de pessoas dizem que já o viram, mas isto não prova a existência de nada. Algumas pessoas o fotografaram, mas isto nunca foi prova, mesmo no tempo dos filmes de celulóide e de negativos que podiam ser periciados. Depois da invenção do Photoshop, e, agora, com a famigerada Inteligência Artificial, fotos do monstro vão pipocar por todos os lados. O que também não serve de prova para coisa alguma. A foto mais famosa do monstro (a do início deste texto) foi tirada em abril de 1934 pelo médico londrino Robert K. Wilson. É tão famosa quando a foto do Pé Grande (ou “Sasquatch”) – na verdade um fotograma de um curto trecho de filme captado em 1967 no norte da Califórnia por Roger Patterson e Robert Gimlin. As acusações de fraude são muitas, é claro. Vendo um monstro, quem resistiria a fotografá-lo? Não o vendo, quem resistiria a forjar uma foto? Vendo a foto, quem resistiria a questioná-la? E la nave va. (O sasquatch) Neste ano de 2023 foi desencadeada uma nova busca ao monstro do Loch Ness, ou “Nessie”, desta vez usando barcos com hidrófonos (que captam o som num meio líquido) e drones térmicos, que fotografam a água de cima para baixo, registrando imagens dos objetos com diferença de temperatura. “Nessie” deve ser o mais famoso dos criptídeos (animal cuja existência é suposta, mas não comprovada). Buscas deste tipo criam uma situação ambígua. Descobrir o monstro (vivo ou morto) não seria uma maneira de extinguir a curiosidade, a atração, as polêmicas? Uma característica interessante do Loch Ness é a sua extensão. Ele é uma faixa de água estreita e comprida, num comprimento de cerca de 56 quilômetros por 2 ou 3 km de largura, e com uma profundidade máxima de 220 metros. A água é pouco transparente, devido às características do solo em volta. Ou seja – há uma série de circunstâncias físicas tornando a busca mais fácil ou mais difícil, conforme o ponto de vista. Há uma verdadeira indústria local em torno dos avistamentos do monstro, e isso nos remete a uma coisa curiosa. As aparições da Virgem Maria em localidades como Lourdes (1858), Fátima (1917), La Vang (1798), Zeitoun (1968) são fatos que desencadeiam reações muito parecidas. Alguém vê (ou imagina ter visto) algo extraordinário. A notícia se espalha, multidões acorrem, a imprensa aproveita, os céticos ridicularizam, os crentes se encolerizam e acreditam cada vez mais... E enquanto isto há um saudável aquecimento da indústria hoteleira local, dos restaurantes, dos postos de gasolina, das lojas de souvenires, dos postos de venda de produtos relacionados ao fenômeno – quadros, imagens, bonecos, panfletos, fotos, bonés, camisetas e por aí vai. Fatos deste tipo lembram um conceito proposto por Kurt Vonnegut Jr. em seu livro Cama de Gato (“Cat’s Cradle”, 1963). É o conceito de “wampeter” – que, ao que eu saiba, nada tem a ver com o trêfego jogador Vampeta, exCorinthians e Seleção Brasileira. Em seu livro, Vonnegut descreve uma religião bizarra, o “bokononismo”, organizada em torno de conceitos bem curiosos. Bem ao estilo do autor de Matadouro Cinco, são conceitos cheios de crítica corrosiva ao funcionamento do nosso mundo. O wampeter precisa ser entendido em função de outro conceito, o karass, que ele explica logo nos capítulos iniciais do livro (Cama de Gato, Ed. Aleph, trad. Livia Koeppl): Nós, bokononistas, acreditamos que a humanidade é organizada em equipes, equipes que realizam a Vontade de Deus, sem nunca descobrir o que estão fazendo. Bokonon chamou equipes como essas de karass (...). “O homem criou o tabuleiro de xadrez: Deus criou o karass”. Com isto ele quer dizer que um karass ignora fronteiras nacionais, institucionais, profissionais, familiares e de classe social. Tem a forma tão livre como a de uma ameba. (pág. 12) No capítulo 24, ele explica: Isto me leva ao conceito bokononista de wampeter. Um wampeter é a base de um karass. Não existe karass sem wampeter, Bokonon diz, assim como não existe uma roda sem eixo. Um wampeter pode ser qualquer coisa: uma árvore, uma pedra, um animal, uma idéia, um livro, uma melodia, o Santo Graal. Seja o que for, os membros do karass giram em torno do seu wampeter no caos majestoso de uma nebulosa espiral. É evidente que as órbitas dos membros do karass que estão em volta do wampeter em comum são órbitas espirituais. São as almas que giram, não os corpos. (pág. 58) O monstro do Loch Ness é um wampeter, uma hipótese que atrai para si a vida e os esforços de dezenas de milhares de pessoas, talvez mais, mobilizadas para demonstrar sua existência ou sua não-existência. Nesse grupo heterogêneo cabe todo tipo de gente, desde os fanáticos que fazem disto uma religião até cientistas de bom senso tentando estabelecer a verdade dos fatos, e gente com dinheiro sobrando, tempo livre, e disposição para embarcar em alguma aventura divertida. É possível (longinquamente possível, arrisco-me a supor) que haja algum ser pré-histórico no Loch Ness, ou se não pré-histórico pelo menos algum tipo raro de criatura volumosa e assustadiça. A busca por ela é algo mais justificável, por exemplo, do que a demanda dos defensores da Terra Plana. Ainda não podemos afirmar com certeza que “Nessie” não existe, então faz sentido investigar se ela é real ou não. Por outro lado, a redondeza da Terra foi comprovada de muitas maneiras. Que wampeter meio absurdo é este, que mobiliza tanta gente? (O Lago Ness) As pessoas precisam girar em torno de uma idéia, um projeto, um objetivo (=um wampeter), entre outros motivos pelo fato de que nossa sociedade se interessa por pessoas que agem assim. Vendo no streaming alguns documentários sobre terraplanistas, observei mais uma vez um padrão recorrente. Um número considerável deles são pessoas com certa segurança material (dinheiro herdado, ou profissões confortáveis) mas sem um objetivo mobilizador de suas energias, e muitas vezes com uma certa angústia de invisibilidade social, aquele pavor de “não ser ninguém”. No momento em que se tornam parte de um karass e dedicam-se a um wampeter (um wampeter extraordinário, polêmico, fora do comum) essas pessoas saltam para outro patamar social. Ficam famosas. São convidadas para participar de convenções, seminários, mesas redondas; recebem bilhetes aéreos e vouchers de hospedagem; dão entrevistas para jornais e emissoras de TV; envolvem-se em polêmicas que do dia para a noite fazem a Web pegar fogo com acusações, questionamentos, desmentidos, solidariedades, traições... Em suma: por causa do wampeter que cultivam, esses John Does, esses Zé Ninguéms tornam-se pessoas importantes, e os mais espertos chegam mesmo a faturar uma boa grana. O monstro existe? A Terra é plana? No fim das contas, isso é irrelevante. Existe a busca pelo monstro, existe a “demonstração” da idéia terraplanista, e é isto que faz mover a engrenagem de discussões, artigos, programas, debates, teses, documentários, notícias. O fenômeno de um karass em torno de um wampeter tem a forma de uma rosquinha, um “donut”, um toróide. O centro é vazio, sim, mas tudo que gira em torno dele é real. 4978) Quatro mentiras do bem (3.9.2023) 1 D. Hosana Silveira, 61 anos, dona de casa, foi até a feira livre de um bairro próximo, numa sexta, à procura de alguns ingredientes para o almoço de sábado. Fez as compras habituais em algumas barracas de vendedores já conhecidos, mas na última, a de melancia, teve uma decepção. “Tive um problema e só recebo amanhã,” explicou seu Arnaldo, alto, bigodão de ponta, prestativo. “Que pena,” disse ela, “meu cunhado vem almoçar com a gente amanhã, e ele adora”; mas comprou algumas frutas menores e despediu-se. Depois que guardou tudo em casa, lembrou-se de uma quitanda perto da praça onde vira melancias tempos atrás. Foi, arriscando; e deu sorte, porque havia, e ela comprou logo duas, para se garantir. No dia seguinte, passava um pouco do meio dia quando tocaram no portão, e ela saiu e deu de cara com seu Arnaldo, retirando do bagageiro de uma moto uma sacola grande. “Quem me ensinou sua casa foi Seu Dão, o do peixe.” Afastou as duas alças da sacola e revelou duas enormes melancias. “Trouxe logo duas, pra garantir,” disse todo animado. “Meu Deus do céu, seu Arnaldo,” exclamou D. Hosana. “Salvou meu almoço! Quanto é?...” 2 Bittencourt Juvino da Mota, 70 anos, metalúrgico aposentado, colaborador de semanários e tabloides trabalhistas, conhecido como “Bité do Sindicato”, intelectual auto-didata, amante dos livros e da música popular brasileira (“mas só a autêntica”), um auto-proclamado marxista-leninista, que rompera aos 19 anos com os pais ao se proclamar ateu e perseguidor de Papas, costumava de vez em quando tomar uma cervejinha de leve no bar do colega Damásio , lembrando os velhos tempos. Certa noite estava lá, perto da hora de fechar, quando elevou-se dos fundos do bar um alarido de choros femininos. “É a filha da cozinheira que o menino está com febre,” explicou Damásio, “não tem nem uma semana de nascido”. Os dois foram até o quarto dos fundos. Sentada na cama, uma moça magrinha de cabelos desgrenhados segurava ao colo um bebê minúsculo envolto num trapo, enquanto uma mulher idosa murmurava, debulhando um terço. A mocinha ergueu para os dois homens um rosto de lágrimas escorrendo. “Seu Damásio, o bichinho vai morrer pagão!” Bité aproximou-se, tocou no peito arquejante do bebê, viu como os olhos já meio que se reviravam. Viu uma caneca de lata junto do filtro, derramou ali dois dedos de água, pegou na asa dobrando o indicador esquerdo, mandou que todos se afastassem. Perguntou o nome do menino; era Natanael. Mergulhou o indicador direito no líquido, e fez o traçado regulamentar na testa que ardia em febre, dizendo: “Natanael, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.” Todos murmuraram: “Para sempre seja louvado.” E a mocinha beijou a mão de Bité. 3 Hélio Fernando de Sousa, 54 anos, comerciante em Patos (PB), acompanhava com vibração a campanha da Seleção Brasileira na Copa de 2014. Apesar das performances pouco convincentes do time de Felipão, ele estava confiante no Hexa, conforme dizia a sua esposa Dona Rute e a todos os amigos. Em 7 de julho, ao voltar para casa às pressas (tinha esquecido uma pasta de documentos que precisava apresentar no fórum) perdeu o controle da direção, colidiu em dois outros carros e espatifou o seu Pálio de encontro a uma árvore. Gravemente ferido, foi conduzido à UTI de um hospital local, onde permaneceu sedado. Dois dias depois, mesmo com seu estado se agravando, recuperou a consciência e reconheceu Dona Rute, perguntou que dia era. “Já teve o jogo Brasil x Alemanha?”, perguntou. Dona Rute, que na véspera assistira taciturna o jogo inteiro, na esperança de um dia comentar os detalhes com o esposo, disse que sim. “O Brasil ganhou?...” disse ele. E ela respondeu, com um sorriso: “Ganhou de dois a zero.” “Eu sabia,” disse ele, e fechou os olhos. Minutos depois mergulhou num coma profundo do qual nunca veio a retornar. 4 Leila Gonçalves, 28 anos, recepcionista, não cabia em si de felicidade após seu casamento com Djalma “Dêja” Antunes Ferreira, 33 anos, professor da rede pública. A grana era curta mas o amor não tinha mais tamanho, porque os dois tinham gostos e temperamentos harmônicos, conversavam muito, e estavam naquela fase inicial do casamento em que a alma se abre para o universo e o corpo só pensa numa coisa, que aliás estava mais que satisfatória para ambos. Leila era boa de receitas e gostava de cozinhar de vez em quando para ele (por questões de agenda e horário, durante a semana os dois comiam no trabalho). Certo fim de semana, Dêja acordou no bom humor de sempre e extraiu dela a promessa de que ficaria deitada até que ele a chamasse à sala. Quando o fez, ela se deparou com a mesa posta, uma terrina de arroz, outra de salada, outra de batatas, e uma travessa com dois enormes e suculentos bifes. Cobriu-o de beijos, sentaram-se, comeram, e a certa altura ele disse: “Seja honesta, seja amiga. Ficou bom?” Ela, que até então mastigara em silêncio, ergueu para ele dois olhos puros e límpidos de mulher apaixonada e disse baixinho: “Môzinho, está delicioso.” 4979) A Barbárie de Queimadas (6.9.2023) Numa noite de fevereiro de 2012, na cidade de Queimadas (PB), um grupo de homens armados e mascarados invadiu uma casa onde rolava uma festa de aniversário com rapazes e moças, alguns deles de famílias consideradas importantes na cidade. A luz foi apagada, as pessoas foram amarradas e distribuídas pelos vários quartos. Seguiu-se uma série de estupros, espancamentos, ameaças. A certa altura, duas das mulheres foram arrastadas para uma camionete, que partiu em seguida. Na mesma noite, as duas foram encontradas, mortas a tiros. Eram Izabella Pajuçara, “Ju”, e Michelle Domingos. O caso ficou conhecido como “a Barbárie de Queimadas”, e assim continua a ser chamado pela imprensa. Em princípio, é um caso de violência e feminicídio semelhante a muitos outros que acontecem no Brasil. O escritor e jornalista Bruno Ribeiro acompanha o episódio há mais de dez anos, e entrevistou mais de cem pessoas para escrever o livro Era Apenas Um Presente Para o Meu Irmão (Todavia, 2023). No dia seguinte ao crime, o mistério começou a ser esclarecido. O mentor do assalto foi Eduardo dos Santos Pereira, o dono da casa onde acontecia a festa. Ele convidou várias moças da cidade, de famílias amigas, que conviviam no dia a dia com ele e com seu irmão, o aniversariante Luciano. O objetivo era fingir um assalto (recrutando alguns amigos) e permitir que todos pudessem estuprar as moças. O livro de Bruno Ribeiro destaca esses pontos que diferenciam este crime da maior parte dos gang rapes que se vê por aí. O primeiro ponto é o fato de que criminosos e vítimas se conheciam, conviviam no ambiente de uma cidade pequena. Ou seja, mesmo com o uso de máscaras e balaclavas cobrindo os rostos, era provável que algum deles acabasse sendo reconhecido, mesmo com a casa sob blecaute; e foi o que aconteceu. Outro ponto é que no grupo de dez estupradores havia pelo menos três menores de idade, e alguns indivíduos (descritos pelas testemunhas como “bobões”) que poderiam servir de bodes expiatórios. Alguns declararam que só tomaram parte no assalto porque a intenção (de acordo com o mandante, Eduardo) era de “fazer uma brincadeira”, “dar um susto nelas”. A explicação final do cabeça do crime é justamente a que deu o título ao livro de Bruno Ribeiro. Ou seja, o aniversariante iria receber de presente a chance de “comer na marra” algumas moças bonitas da cidade. Apenas duas mulheres da festa não foram tocadas: as esposas de Eduardo e Luciano, que foram trancadas juntas num quarto e poupadas pelo grupo. Tudo desandou quando Izabella reconheceu Eduardo e começou a gritar seu nome. Outros homens foram reconhecidos, pela voz, ou por adereços pessoais. No dia seguinte, as primeiras prisões ocorreram durante o velório das duas moças, à medida que os assaltantes entregavam uns aos outros. Bruno Ribeiro é autor de romances como Febre de Enxofre (Penalux, 2016), Glitter (Moinhos, 2019) e Porco de Raça (Darkside, 2021). O livro sobre a Barbárie de Queimadas ganhou o Prêmio Todavia de Não Ficção e faz um poderoso contraponto à sua ficção áspera, de prosa crispada e tensa, sobre a violência que perpassa o espírito do nosso tempo. Um aspecto interessante é que por volta da metade de Era Apenas Um Presente... já foi descrito o crime, já lemos os depoimentos dos envolvidos, já aconteceram as prisões e os julgamentos, as sentenças já foram proferidas. Temos a impressão de que o livro termina ali. O que resta para contar? Daí em diante começa a investigação do que rodeou o crime; do que o favoreceu; do que conduziu àquele estado de coisas; do que veio depois. Eduardo, o líder, foi condenado a 106 anos de prisão. Em novembro de 2020, ele fugiu andando, pela porta, do presídio de segurança máxima PB1, em João Pessoa. O escândalo dessa fuga fez estremecer novamente todos os fios que convergem para o crime de 2012. Lealdades de família, troca de favores, influência política, proteção, pesados subornos, tudo é discutido no ambiente dos advogados, dos jornalistas, dos policiais, dos defensores dos direitos humanos. O livro mostra essa rede tensa de relações sociais baseadas no dinheiro, na violência, na influência política, no machismo e na certeza da impunidade. Algumas pessoas, na época, chamaram os estupradores de Queimadas de “imbecis” por terem acreditado que um crime tão mal executado poderia passar impune. Na verdade, não houve tanta preocupação em esconder a identidade dos assaltantes. Os que estavam à frente tinham certeza da impunidade, e sabiam que, mesmo presos, dariam um jeito de escapar. Bruno Ribeiro deixou o romancista de lado e ligou o aplicativo-jornalista para fazer o levantamento minucioso das histórias, versões e interpretações de dezenas de pessoas. Na última parte do livro, ele traz a narrativa para o presente e descreve, numa tensa narrativa em tempo real, a visita que fez à Rocinha, no Rio de Janeiro, e as cervejas que tomou no bar do pai de Eduardo – o bar onde muita gente, inclusive a polícia, acha que Eduardo está escondido até hoje. Nesse momento, depois de tantas páginas de compilação e recapitulação de momentos passados, o romancista emerge com a habilidade de mostrar o momento presente: um galeto servido na mesa, a troca “casual” de frases com os parentes do criminoso, a presença de homens que bebem numa mesa afastada, uma ida ao banheiro, uma música que toca... É em ambientes assim que os crimes são gestados? Talvez, porque a possibilidade do crime permeia tudo, como uma umidade relativa do ar que está sempre presente e invisível, e a qualquer momento, em qualquer lugar, pode se concentrar em tempestade. Como diz o autor: “Quando se estuda crimes no Brasil, pode-se dizer que aquele que suja as mãos é pego, mas quem o mandou sujar as mãos, não. Há sempre uma parte que nunca é agarrada, algo movediço, alheio aos nossos esforços. No caso da Barbárie, o julgamento foi uma resolução clara do caso, resolvido até com certa destreza. Mas as raízes do crime, tudo que existiu para fazê-lo acontecer e, não só ele, mas tantos outros casos de feminicídio que foram praticados e ainda acontecem em Queimadas, parece ficar na escuridão, abafado. A resolução de grandes crimes é sempre uma metonímia: uma narrativa que nos entrega mais um pedaço que o todo.” (pág. 188) 4980) Uma mulher chamada James Tiptree (9.9.2023) Nos anos 1960, um escritor misterioso chamado James Tiptree Jr. surgiu na ficção científica norte-americana, com uma série de contos inovadores, numa linguagem energética, calejada, cínica, que não recuava diante da violência. Demonstrava ter conhecimento direto dos bastidores do poder, da vida militar, do uso de armas e de tecnologias variadas. E, tendo uma escrita “máscula” e assertiva, demonstrava ao mesmo tempo um conhecimento surpreendente da psicologia feminina, e suas personagens mulheres geralmente eram protagonistas, tomando nas mãos as rédeas da narrativa. Tiptree não dava entrevistas, não telefonava, não comparecia às convenções de FC, não enviava fotos, fornecia escassos dados pessoais de si próprio, e comunicava-se apenas através de uma caixa postal no Estado da Virginia. Por outro lado, era um correspondente vibrante e dedicado, mandando cartas de dez ou quinze páginas para escritores e editores que sequer conhecia pessoalmente. Era um missivista compulsivo e envolvente, tal como Raymond Chandler ou H. P. Lovecraft. Seu nome começou a chamar a atenção por volta de 1968, ano em que saíram contos seus em revistas como Analog, Galaxy, Fantastic e If. Sua produção manteve-se constante a partir daí, e sua primeira coletânea de contos, Ten Thousand Light Years From Home saiu em 1973. Seguiram-se várias premiações importantes: o prêmio Hugo (1974, 1977), o Nebula (1973, 1976, 1977), o Jupiter (1977) e outros. Havia um certo consenso, na comunidade de FC, de que a discrição de James Tiptree era por ser ele um agente ou ex-agente da CIA (seus relatos pessoais indicavam isto) e precisava manter um low profile quando se envolvia em atividades profanas como a literatura popular. Havia consenso, também, de que se tratava de um homem, não apenas pelo nome. Robert Silverberg, um autor nem um pouco bobo, chegou a escrever, em 1975: Alguém sugeriu que “Tiptree” pode ser uma mulher, uma teoria que considero absurda, porque para mim existe algo de inelutavelmente masculino em sua escrita. Depois, Silverberg confessou, numa carta pessoal: “Você não me enganou. Fui eu que enganei a mim mesmo.” Sua identidade foi revelada em 1976. Tiptree mencionou casualmente que sua mãe havia morrido em Chicago. Seu correspondente Jeff Smith vasculhou os obituários, e conferiu os relatos de infância e juventude de “James Tiptree Jr.” com os textos sobre Mary Hastings Bradley, falecida aos 94 anos, escritora com vários livros sobre seus safaris na África ao lado do marido e da filhinha pequena. Jeff Smith escreveu ao seu amigo Tiptree: Meu caro Tip: OK, vou botar minhas cartas na mesa. Não se sinta obrigado a fazer o mesmo. Isto já deve ter chegado aos seus ouvidos, mas o fato é que está se espalhando um boato de que seu nome é Alice Sheldon. Alice Bradley Sheldon admitiu a verdade; continuou usando o pseudônimo masculino para assinar seus livros, manteve a privacidade (recebia pouquíssimas pessoas). E sua vida anterior começou a ser mais conhecida. Mary Hastings e seu marido Herbert Bradley (os pais de Alice) eram ricos, colecionavam objetos de arte, e eram fascinados pela África. Alice nasceu em 1915, e aos seis anos já acompanhava os pais em safaris, numa caravana com mais de 200 carregadores. Foram eles os primeiros brancos a alcançar as margens do Lago Kivu, entre Ruanda e o Congo, e fizeram as primeiras filmagens de gorilas em seu habitat. A garota alternava momentos de pânico e de onipotência. Se eu largasse alguma coisa no chão, já estava habituada a apenas bater palmas, e seis enormes canibais nus se precipitavam para recolher o objeto e me entregar de volta. (Alice Sheldon na África, aos 6 anos) De volta a Chicago, Alice leu furiosamente durante a adolescência e início da vida adulta: Rudyard Kipling, Spinosa, William James, W. B. Yeats, Proust, Freud, Ibsen, Dostoievsky – e carradas de pulp magazines de ficção científica, que ela doou a uma biblioteca quando entrou para o Exército (WAAC, Women's Army Auxiliary Corps) em 1942, aos vinte e sete anos. É grande a tentação de resumir aqui a vida de Alice, que casou com um militar (Huntington Sheldon, “Ting”), entrou com ele para a CIA em 1952, saiu de lá em 1955 e voltou para a vida universitária, onde se doutorou em Psicologia Experimental (1967). A biografia de Julie Philips, James Tiptree Jr. – The Double Life of Alice B. Sheldon (St. Martin’s Press, 2006) é uma das melhores que já foram escritas sobre um autor de ficção científica. Ela revela a rivalidade entre Alice e a mãe (uma “escritora de verdade”, autora de livros sérios, elogiados pelos críticos), sua paixão pelo xadrez (consta que seu marido, Ting, apaixonou-se por ela ao ser derrotado num jogo de xadrez onde Alice estava com os olhos vendados), seu projeto de montar uma granja de aves (que só lhe deu prejuízo), sua mania de escrever aos autores que admirava (Ítalo Calvino lhe respondeu: “Uma carta como a sua é o melhor presente que um carteiro pode deixar na minha caixa. É para o leitor desconhecido que todo autor escreve, mas são raras as chances de encontrá- lo, mesmo por correspondência, e de descobrir que ele é uma pessoa tão bacana e tão espirituosa”). Tal como Philip K. Dick (com quem também trocou cartas), Alice era viciada em drogas permitidas, drogas de farmácia. Julie Philips relata (Cap. 36) que num período de duas semanas em maio de 1976 ela registrou em seu diário o uso de Seconal, fenobarbital, Dexedrine, Compazine, codeína, Percodan, Valium, Demerol e Numorphan. O desgaste da idade se abateu sobre ela e mais ainda sobre Ting, que era doze anos mais velho, e cuja condição de saúde se agravou aceleradamente. Ela falava aos amigos mais próximos sobre um “pacto de suicídio”. Em 1987, ela matou o marido e se suicidou em seguida, não sem antes avisar o advogado da família. Os dois foram encontrados na cama, lado a lado, de mãos dadas. Alguns contos de James Tiptree Jr. já saíram no Brasil, na saudosa Isaac Asimov Magazine (Ed. Record), editada por Ronaldo di Biasi. Agora, a Ímã Editorial, na sua coleção “Meia Azul”, lança o volume Mulheres Que os Homens Não Veem. O volume traz um prefácio da escritora e blogueira Lady Sybylla, a transcrição de trechos de cartas de Alice, e três contos dentre os melhores dela, traduzidos por mim: “Mulheres Que os Homens Não Veem” (“The Women Men Don’t See”, 1973), “Garota Plugada” (“The Girl Who Was Plugged In”, 1973) e “As Mulheres Que Morrem Como Moscas” (“The Screwfly Solution”, 1977, publicado sob o pseudônimo de Raccoona Sheldon). James Tiptree Jr. é um desses casos de pseudônimo que acabou se tornando, como os heterônimos de Fernando Pessoa, um personagem em si, um “Eu dramatúrgico” que brota no momento da escrita e serve ao autor como uma personalidade postiça, capaz de mobilizar toda a sua energia criativa, e de acessar redutos emotivos que normalmente ficam vedados no dia a dia. A “máscara masculina” serviu a Alice Sheldon para a criação de uma persona biograficamente verdadeira mas com um espírito inventado. Depois que sua identidade se tornou pública, Alice explicou às pessoas com quem se correspondia (principalmente Ursula LeGuin e Joanna Russ) que tudo que dissera de si mesma era verdade, menos o fato de ser homem. E depois que o segredo vazou, ela confessou ser incapaz de “psicografar” novamente a voz de James Tiptree Jr. Foi como se ele tivesse desaparecido, e tudo que ela publicou a partir dali custou-lhe muito mais esforço e teve menos impacto. Ainda assim, o “menos impacto” de Sheldon/Tiptree está muitos pontos acima da maioria da FC norte-americana, onde a maioria dos autores não tem, nem de longe, a experiência de vida que ela teve, quando começou a publicar FC aos 50 anos. Neurótica, empoderada, desafiadora, sofisticada, ela dizia que um pseudônimo masculino a poupava de ser chamada pela enésima vez de “a primeira mulher a...”. Experiência múltipla de vida e cultura literária produziram essa autora capaz de usar títulos como: “Her Smoke Rose Up Forever” “Your Faces, Oh My Sisters! Your Faces Filled of Light!” “The Psychologist Who Wouldn’t Do Awful Things to Rats” “Faithful To Thee, Terra, In Our Fashion” “The Snows Are Melted, The Snows Are Gone” “Love Is The Plan, The Plan is Death” Uma autora que declarou, numa carta a um amigo: Eu sou metade mulher, metade ser humano. 4981) Young Sheldon (12.9.2023) Não assisto muitas sitcoms (“situation comedies”) na televisão. Não porque não goste, mas porque é algo como comer Batatas Pringle: de uma em uma você come uma caixa, e quando olha pela janela você percebe que agora é um septuagenário e ainda não leu A Divina Comédia. Este argumento me saiu muito ao estilo de Sheldon, o personagem da sitcom The Big Bang Theory, cuja infância estou agora acompanhando via Netflix na série Young Sheldon (primeira temporada). É bastante pringle esse seriado, porque cada episódio tem menos de meia hora, e a narrativa é rapida, estilo vaptvupt. Quando você menos espera o episódio terminou e você meio inconscientemente se permite saltar para o começo do próximo. Sheldon é um dos meus personagens preferidos na televisão, uma espécie “do que eu gostaria de ser caso crescesse”. Ele tem a memória de um Funes O Memorioso, a objetividade de um Sherlock Holmes, o traquejo social de um Jerry Lewis e a empatia de uma maçaneta. Depois de anos de sucesso de The Big Bang Theory, o ator que o interpreta (Jim Parsons) teve uma idéia: por que não fazer outra série, contando a infância do personagem? (Jim Parsons como Sheldon; Iain Armitage como o jovem Sheldon) Sheldon, segundo os críticos, tem um comportamento com características de autismo (ou de “síndrome de Asperger”) e de personalidade obsessivocompulsiva. Seus cacoetes são uma fonte permanente de humor nas histórias. Em Young Sheldon, aos dez anos de idade ele coloca em situações constrangedoras os pais, os irmãos, os professores e os colegas, pela sua mania impassível de recitar respostas certas ou de fazer comparações despropositadas envolvendo a Física Quântica, a Astronáutica ou o Cálculo Diferencial. Todos os pais querem ter um filho brilhante, mas ninguém quer ter um filho cujo poder intelectual está na razão inversa de sua capacidade de conviver. Em Young Sheldon, o geniozinho é de certa forma o eixo e o ponto de desequilíbrio de uma família assustadoramente comum. (Annie Potts, como a avó de Sheldon) Um episódio da primeira temporada mostra Sheldon e a avó Meemaw (a ótima Annie Potts, que sempre tem as melhores falas) assistindo um episódio de Star Trek. Sheldon, é claro, é fã de Mr. Spock, que ele vê como um modelo de inteligência, impassibilidade e invulnerabilidade emocional. Cabe à avó mostrar a ele que o herói dela na série é o Capitão Kirk, que tem mais jogo de cintura e é capaz de pequenas trapaças para conseguir o que quer. Com isso, ela ensina Sheldon a mentir e a trapacear – e de certa forma o liberta do automatismo. A série é divertida porque nos identificamos com a família de Sheldon – que não entende as fórmulas matemáticas e os conceitos científicos recitados por ele a qualquer pretexto. O garoto fica na condição de qualquer garotoprodígio num contexto não hostil, onde a família tem afeto e admiração por ele e faz o possível para criá-lo “como um menino normal”. Sheldon, por sua vez, se encaixa naquela definição de Henri Bergson segundo a qual o humor nasce quando vemos uma pessoa se comportar de maneira mecânica, cega, repetitiva, sem atentar para o feedback que recebe do mundo à sua volta. Por outro lado, o fato de Sheldon não possuir um grande “simancol” no trato social o faz revelar verdades ocultas, abordar problemas que outras pessoas varrem para baixo do tapete, criticar “sem papas na língua” os defeitos que percebe em outras pessoas. Young Sheldon é uma série-pipoca, divertida, que tem pontos de contato com outros trabalhos de maior espessura dramática. Desde o início me lembrei deste filme de Jean-Pierre Jeunet, um cineasta que aprecio muito: The Young and Prodigious T. S. Spivet (2013), onde um garoto também super-dotado manda um trabalho para o Smithsonian Institute (sem revelar a própria idade), e depois que o trabalho é aceito precisa fugir de casa (lá nos confins do Meio Oeste) para ir a Washington fazer a palestra (e aturdir de incredulidade os funcionários do Instituto). Lembrei também da série O Gambito da Rainha (2020) de Scott Frank, com sua protagonista super-inteligente, fora-de-esquadro, meio antissocial, meio imprevisível. E um filme talvez hoje esquecido, mas que na epoca me despertou muita atenção: Little Man Tate (“Mentes Que Brilham”, 1991), dirigido por Jodie Foster (ela própria uma criança excepcional) e que conta a história de um garoto superinteligente e do cabo-de-guerra entre a mãe (que o adora, mas é uma mulher “simples”, e não sabe como cuidar dele) e a professora (que pode dar a ele um acompanhamento profissional). Sheldon é uma versão bem-humorada desse problema – o que fazer com as crianças super-inteligentes, pontos-fora-da-curva. Trazê-las para a curva seria um desperdício, e além disso é impossível. É a curva que precisa diminuir a distância entre os dois. 4982) Minhas Canções: "Meu Foguete Brasileiro" (15.9.2023) Desde a adolescência eu vivo mergulhado em dois mundos aparentemente distantes, o da música popular brasileira e o da ficção científica. Primeiro como leitor e ouvinte, e depois como autor. Muita gente me pergunta o que tem uma coisa a ver com a outra, e uma resposta que já forneci foi um artigo publicado na saudosa revista Isaac Asimov Magazine (Ed. Record), em que mostro como diferentes compositores da MPB (e do rock brasileiro, também) trataram os temas da FC. Temos Gilberto Gil (para mim o mais consistente e de cabeça mais “ficcientífica”), Raul Seixas, Caetano Veloso, Fausto Fawcett... Muita gente. Temos a tendência a definir um gênero literário (cinematográfico, musical, etc.) a partir dos exemplos que conhecemos, e curiosamente às vezes tentamos atribuir ao gênero certas características das obras, que não são, em absoluto, típicas do gênero, e podem ser deixadas de lado. Meu exemplo preferido é de quando me pediram um exemplo do ghost story brasileira e eu mencionei Dona Flor e Seus Dois Maridos de Jorge Amado, história de um morto que volta para fazer vadiagem com a própria viúva. Meu interlocutor queixou-se: “Mas isso não é uma ghost story... Não tem castelo em ruínas, não tem abadia gótica, não tem aparição noturna arrastando correntes...” Passei por experiência semelhante ao falar de músicas brasileiras de ficção científica e citar o clássico Eu Vou Pra Lua, gravado por Ari Lôbo: “Eu vou pra Lua, eu vou morar lá... Vou no meu Sputnik, do campo do Jiquiá”. O campo do Jiquiá ficava no Recife; era o lugar onde os zepelins ficavam atracados no auge da fama desses dirigíveis. A canção descreve uma ida para a Lua e lá o encontro com uma civilização que é uma versão satírica da nossa. Por que não pode ser ficção científica? É o mesmo argumento que uso para defender esta minha simpática parceria com Antonio Nóbrega, “Meu Foguete Brasileiro” (no álbum Lunário Perpétuo, 2002). Na preparação do álbum, tínhamos feito um levantamento de temas e de estilos que podíamos abordar. Pensamos em fazer alguma coisa inspiradas nos cocos de embolada, e eu lembrei uma antiga canção de Manoel Serafim gravada por nossos amigos Cachimbinho e Geraldo Mousinho, “O Navio Brasileiro”, que tem o refrão: Meu navio deu um tombo que a proa abalou, o mastro pendeu e tombou lá no alto mar... Confiram aqui a gravação: https://www.youtube.com/watch?v=F1yjP3hGiE&ab_channel=AcervoOrigens É a descrição de um navio gigantesco, portentoso, que dentro de si contém máquinas fabulosas, edifícios, fazendas de gado, campos lavrados, residências, um despropósito de coisas de fazer inveja àquelas grandes embarcações dos EUA com não-sei-quantos andares, que fazem cruzeiro pelo Mar do Caribe. O coco de Cachimbinho e Geraldo segue uma tradição, cujo antecessor mais provável é “O Avião Brasileiro” dos saudosos Antonio da Mulatinha e Dedé da Mulatinha, que vi cantar muitas vezes em Campina Grande. A professora Elizabeth Travassos (UFRJ) faz uma transcrição e análise do coco dos dois irmãos campinenses num artigo incluído em Ao Encontro da Palavra Cantada, org. Cláudia Neiva de Matos, Elizabeth Travassos e Fernanda Teixeira de Medeiros (Rio: 7Letras, 2006). Como os poetas já tinham lançado mão de avião e navio, só nos restou apelar para o foguete interplanetário, e acho que veio de Nóbrega a idéia de, em vez de usar o verso curto da embolada, usarmos o verso longo do “galope beira mar”. E logo veio o recurso de trocar o refrão final desse estilo (“cantando galope na beira do mar”) por “cantando galope e voando no ar”, visto que se tratava de uma espaçonave. E fomos em frente, enfileirando situações utópicas e divertidas, na descrição desta super-espaçonave brasileira que sairia pelos arrabaldes do Sistema Solar, encontrando outros povos, fazendo trocas comerciais, desbravando novas paisagens. É ficção científica? É, sim, mas em vez da ficção científica ufanista, desbravadora e colonialista (“a missão do Homem é civilizar o universo”) é uma ficção científica brincalhona, irônica, meio ingênua em suas imagens e meio madura ao lidar com essa própria ingenuidade. MEU FOGUETE BRASILEIRO (BT & Antonio Nóbrega – março-abril 2002) https://www.youtube.com/watch?v=jHr3iojbb_s&ab_channel=AntonioN% C3%B3brega-Topic 1 Eu fiz um foguete de andar pelo espaço igual um que eu vi pela televisão: não sei se era coisa da França ou Japão mas basta ver gringo fazer eu já faço!... Mandei buscar logo cem chapas de aço, latão, alumínio, ferro de soldar; dez mil arrebites para reforçar a parte de fora da infra-estrutura: cem metros de longo, trinta de largura, e dez de galope voando no ar. 2 Por dentro o foguete tem compartimentos: setor de serviço, cabine da frente, motor titular e o sobressalente e pra equipagem mil apartamentos. Canhões telescópicos mais de duzentos, castelo de proa, sensor e sonar; torre de comando, luneta, radar, produto avançado da tecnologia: pretendo acabá-lo e sair qualquer dia cantando galope e voando no ar!... 3 Botei no foguete diversas antenas para captar raios infra-vermelhos. Na parte de cima um sistema de espelhos que amplia as imagens de estrelas pequenas. Motores na popa que servem apenas pra tudo aquecer, e pra refrigerar. Movidos a pura energia solar tem computadores, TVs virtuais: mil inteligências artificiais que cantam galope, voando no ar! 4 Maior do que tudo é a parte cargueira que leva produtos de exportação: tem saca de açúcar, tonel de carvão, baú de café, tora de madeira. Tem pano de lenço, tem palha de esteira, xampu, querosene, bebida de bar, rede de dormir, colchão de deitar, cueca de seda, calcinha de renda... Achando quem compre, não tem quem não venda, cantando galope e voando no ar! 5 Na parte de cima da carga pesada tem carro, trator, “caterpilha”, caçamba, tem alegoria de Escola de Samba, carro de bombeiro, mangueira e escada. Tem locomotiva recém-fabricada e tem ponte pênsil pronta pra instalar; tem ônibus-leito, tanque militar, caixão de defunto, navio de guerra... Um pouco de tudo que existe na Terra, cantando galope e voando no ar! 6 Merece destaque o setor do varejo, com mercadorias de boa saída: barraca de praia, caixa de bebida, ganzá, cavaquinho, tantã, realejo... Lagosta, siri, corda de caranguejo, tem carne de sol e tem frutos do mar; cordão de ceroula, produtos do lar, catálogo novo, preço de primeira: daqui do país, só não vendo a bandeira que vai hasteada, voando no ar... 7 Depois que enchi os porões do foguete com mil toneladas de mercadoria pensei que de nada adiantaria trancar-me sozinho nesse palacete. Não sou sacerdote, nem sou um cadete, não sou da igreja nem sou militar... Sou só um poeta doidim pra casar ganhar cafuné, um cheiro, um carinho... O diabo é quem sai viajando sozinho cantando galope, e voando no ar! 8 Olhei sem demora os mapas solares dos meus alfarrábios de Astrologia e vi que de fato eu precisaria de ter companhia nos céus estelares. Eu que planejava sair pelos ares buscando planetas pra colonizar, somente podia vir a povoar os mundos distantes, sem ter empecilhos, com muitas mulheres me enchendo de filhos, cantando galope, e voando no ar... 9 Ainda por cima, era necessário por uma bem simples questão de harmonia que as raças humanas que eu espalharia surgissem de modo bem igualitário. Fiz logo um harém multi-milionário nos seis continentes mandei contratar as deusas mais belas que pude encontrar e fiz delas todas as minhas mulheres: café da manhã com seiscentos talheres, cantando galope e voando no ar! 10 Criei no foguete diversos setores: indústria, comércio, serviços, lazer. Fazendas de soja pra dar de comer aos meus tripulantes e navegadores. Conjuntos de vilas pros trabalhadores, e até “piscinão” com água do mar; meu grande foguete é obra sem par maior do que a China, melhor que o Japão; tão belo de ver que parece o Sertão, cantando galope e voando no ar! 11 Depois eu sentei no meu tamborete puxei a lavanca, pisei no pedal, subi pro espaço com força total fazendo tremer o motor do foguete. Passei bem por cima do Empire State, da Torre Eiffel, Monte Palomar; e vi pela tela se distanciar a mancha azulada do nosso planeta... Pensei: “Minha Nossa! Aqui vai Tonheta, cantando galope e voando no ar!...” 12 Fiz logo uma escala no chão marciano vendi rapadura, comprei tungstênio, enchi os meus tanques de oxigênio, parti outra vez no começo do ano. Passei por Saturno, passei por Urano, cheguei lá no fim do Sistema Solar; desci em Plutão, tomei banho de mar, botei gasolina comum e azul, segui com destino ao Cruzeiro do Sul cantando galope e voando no ar! 13 Foi tanta viagem, foi tanta aventura, foi tanta Demanda, foi tanta Odisséia... Eu posso jurar à distinta platéia que tudo isso foi a verdade mais pura. Também teve um pouco de literatura, história inventada para relaxar; mas eu que não minto não quero falar e o resto eu só conto aqui pra você no próximo show, ou em outro CD, cantando galope e voando no ar! 4983) "A Tortura do Silêncio" (18.9.2023) Eu me lembro de que, ainda menino, ouvia minha mãe comentar com outras pessoas um filme com um tema arrepiante. Um padre, no confessionário, recebe a confissão de um assassino, que revela ter acabado de matar uma pessoa. O assassino vai embora. A polícia investiga o crime. O padre sabe quem foi; mas não pode dizer nada, porque o segredo da confissão, na religião católica, é inviolável. Depois, o enredo tem uma complicação a mais: a polícia descobre que o homem assassinado estava chantageando o padre, por algum motivo. Ele corre o risco de ser preso – e continua sem poder revelar quem é o criminoso. Somente depois vim a saber que esse filme foi dirigido por Alfred Hitchcock; é A Tortura do Silêncio (“I Confess”, 1953), com Montgomery Clift no papel do padre. Vi esse filme agora, pela primeira vez. Eu sempre guardo alguma coisa dos meus autores preferidos para ver um dia”. Quando eu estiver com 95 anos de idade, sempre terei à minha disposição um livro “inédito” de Kafka, um disco “inédito” de Gilberto Gil, um filme “inédito” de Scorsese. A velhice nunca nos privará de estar vendo algo pela primeira vez. A Tortura do Silêncio foi mal visto pela crítica justamente por causa de sua premissa central. A maioria das pessoas não “comprou” a idéia de que o padre tinha que manter silêncio. Os católicos levam a confissão muito a sério, mas nem todo mundo é católico, e a voz geral era: “Gente, custava nada dizer que quem matou foi o jardineiro? O Papa ia absolver!”. Isto nos conduz a um dos argumentos mais canhestros de nossa avaliação de obras literárias ou do cinema. É quando alguém desdenha a história, dizendo que ela não faz sentido, e somos obrigados a dizer: “Naquele tempo era assim”. Os valores morais eram outros. As lealdades familiares ou de grupo eram outras. As leis e proibições eram outras. Muitas vezes somos forçados a explicar para alguém (pais para filhos, professores para jovens estudantes) que aquela história não é absurda, pelo contrário, aquele drama vivido pelos personagens era, na época em que o livro foi publicado, um drama sério e real que pesava sobre as pessoas. É mais trabalhoso do que explicar a leitores jovens o que era orelhão, talão de cheques, aerograma, corso carnavalesco... Hitchcock era um cineasta católico, muito influenciado (tal como Federico Fellini, Luís Buñuel) pela educação religiosa que recebeu na infância. Para ele, o drama do Padre Logan, em A Tortura do Silêncio, era um drama real. A tortura de um indivíduo que conhece o autor de um crime mas não pode revelá-lo já estava no filme anterior do cineasta, Pacto Sinistro (“Strangers on a Train”, 1951). Nele, um psicopata (Bruno) propõe a um tenista profissional matar a ex-esposa deste, enquanto Guy, o tenista, deveria matar o pai de Bruno – enquanto ambos garantiriam álibis invulneráveis para o dia do crime. Guy recusa, horrorizado, mas quando sua ex-esposa de fato aparece morta ele não tem como denunciar o criminoso sem parecer cúmplice. (Montgomery Clift, como o Padre Logan) Em I Confess, o papel do Padre Logan coube a Montgomery Clift, um dos grandes atores de sua geração, mas cujo estilo não se afinava com o do diretor. Hitchcock sempre preferiu tratar os atores como se fossem bonecos, marionetes cujas ações, gestos e expressões seriam cuidadosamente previstos num storyboard e depois executados diante da câmera. Clift era um ator do método stanislawskiano. Procurava reconstituir a origem das emoções do personagem, e precisava de uma razão psicológica para tudo. Hitchcock dizia: “Eu pedia ao ator para que saísse do prédio e olhasse para o alto, para que eu pudesse cortar para a imagem seguinte. E ele dizia: Não sei se o personagem estaria olhando para o alto nesse momento...” O segredo da confissão é o grande “gancho” narrativo do filme, mas nem constitui uma grande novidade. Na segunda parte do Dom Quixote, logo no primeiro capítulo, Cervantes alude a um conto do folclore valenciano, em que um padre é roubado mas o ladrão o força a jurar que jamais o denunciará a pessoa alguma. Algum tempo depois, está o padre rezando a missa com a presença do Rei, e avista o ladrão no meio dos fiéis. Rapidamente, ele conta para a congregação o que lhe sucedeu, e virando-se para o altar declara: Jurei não o dizer a ninguém, mas digo-o a vós, Senhor Deus, que não sois homem nem mulher, e o ladrão está ali debaixo do púlpito. E com isso o ladrão é preso, o dinheiro recuperado, e a honra do prelado não sofre nenhum arranhão. 4984) A literatura de mundo afora (21.9.2023) (Ngugi Wa Thiong'o) Andei lendo, misturadamente, duas entrevistas de autores muito distantes entre si mas que trazem a discussão para um terreno comum: o da experiência transnacional, dos escritores exilados (voluntariamente ou não) em outro país ou outra língua, os escritores que se afastam de sua terra natal e assim podem até enxergá-la melhor. Aqui no Brasil existe um viés nacionalista muito forte desde que nossa literatura começou a existir “oficialmente”, como fenômeno coletivo de fato, no segundo Império, em meados do século 19. Ser nacionalista refletia os nossos arrufos de independência de Portugal, a nossa necessidade de falar do que era tipicamente brasileiro e só brasileiro, incluindo aí a nossa maneira peculiar de escrever, de falar, de recriar o idioma. William Gibson se referia ao mundo do futuro imediato como “pósgeográfico”, talvez não no sentido de que países e fronteiras deixarão de existir, mas colocando em primeiro plano as conexões eletrônicas e internéticas que propõem novas formas de contato, aproximação, diálogo, agrupamento, acesso, compartilhamento. Um refugiado, numa dessas levas recentes de êxodos coletivos, entrevistado na Europa, queixou-se de que, depois de semanas de fuga no meio de uma migração caótica, perdeu o celular. “Senti nesse momento que tinha saído do meu país.” A experiência do exílio é física, presencial, mas a um toque e a um clique do aparelho alguém pode ter a impressão de estar de volta ao ambiente que frequentava, contando com imagens de câmera, sons em tempo real. Dizem que D. Pedro II levou para seu exílio parisiense um travesseiro cheio de terra do Brasil, para manter a conexão simbólica. Sempre precisamos de objetos que, por uma espécie de “magia de contato” nos dão a sensação de estarmos tocando um lugar ausente. E quando Fernando Pessoa dizia que “minha pátria é minha língua”, não deixa de haver uma certa sutileza nisso, quando se sabe que foi criado na África do Sul e grande parte de suas primeiras leituras e primeiros escritos foi em inglês. https://lareviewofbooks.org/article/prison-left-me-laughing-aconversation-with-ngugi-wa-thiongo/ O queniano Ngugi Wa Thiong’o, cujo idioma nativo é o gikuyu, conversou com a Los Angeles Review of Books e lembrou a importância de ter uma língua natal. O jornalista perguntou-lhe se escrever em sua própria língua era uma questão de “salvação pessoal” ou de “libertação coletiva”. NWT – Eu suponho que quando alguém escreve em inglês escreve para sua salvação pessoal. Joseph Conrad era polonês, mas aprendeu inglês aos 19 anos e produziu uma incrível obra literária nesse idioma. Foi uma questão pessoal, no sentido de que ele se realizou coo escritor, ou algo assim, mas ele não contribuiu para com a literatura polonesa. O mesmo se aplica a escritores como Chinua Achebe e eu. Things Fall Apart (1958), de Achebe, é um romance brilhante, em inglês; mas que não fez nada, absolutamente nada, pela literatura ibo. O mesmo no caso de James Joyce e muitos escritores irlandeses, pois o irlandês foi também sistematicamente destruído pelos colonizadores ingleses. James Joyce, na verdade, é bastante consciente, em seus escritos, da questão do idioma, mas ainda assim ele escreveu em inglês. O mesmo se aplica a meus primeiros romances, escritos em inglês: Weep Not, Child (1964), The River Between (1965), A Grain of Wheat (1967) e Petals of Blood (1977). Sou feliz por tê-los escrito, mas estou mais satisfeito ainda por ter escrito meus romances subsequentes em gikuyu. (...) Eu recuso uma hierarquia de línguas onde algumas línguas presumem ser mais elevadas do que outras – especialmente nos países pós-coloniais que experimentam algum tipo de sistema de opressão. Ao mesmo tempo, acredito que todas as línguas são únicas, especiais. Cada língua, por menor que seja, possui uma musicalidade única, que não pode ser substituída por outra. Gosto de compará-las a instrumentos musicais. Um piano tem seu som ou sua musicalidade específica, que não pode ser confundida com a de uma guitarra. Quando diferentes instrumentos estão tocando juntos, produzem harmonia; uma orquestra de muitas línguas. Por que razão o senhor se recusa a usar o termo “língua de minorias” em seu livro? NWT – Porque esse termo é geralmente usado de uma maneira ridícula. Pense, por exemplo, num idioma da Índia, que é falado por milhões de pessoas, mas ainda é chamado de “língua das minorias”. (Risos) Esses termos são parte do sistema hierárquico que eu rejeito. Mas existem línguas de poder? É claro! A língua do poder é a língua da nação dominante, ou a língua da classe dominante em uma nação. Eu sou do Quênia, e a minha língua materna é o gikuyu, mas no Quênia o inglês é a língua da administração pública e da educação – a língua do poder – mesmo que 90% dos quenianos não o usem. Se você pretende se educar ou alcançar qualquer posição no governo, tem que se curvar à linguagem do poder. O senhor satirizou o modo como países africanos exploram os desfavorecidos para criar uma imagem pública. Há uma cena no começo de Wizard Of The Crow em que o narrador menciona que mendigos e moscas estão sendo usados nas ruas de Aburiria para atrair turistas. NWT – (Risos) Olhe para as imagens da África. Elas mostram, em geral, a pobreza extrema, ou a riqueza da fauna e da flora, mas ignoram as pessoas comuns e as pessoas ricas que vivem ali. A África não é feita somente de pobres, de narizes escorrendo e moscas em volta dos olhos; está cheia de gente dirigindo Mercedes-Benz e helicópteros. O essencial seria mostrar as duas coisas. Não falo em ignorar a pobreza, mas em mostrar os dois lados, e revelar suas conexões. Se eu vier à Bélgica com a minha câmera, não vou apontá-la apenas para os palácios e os arranha-céus, mas também para as ruas, e o modo como o povo vive. (Bruce Sterling) Bruce Sterling, escritor de ficção científica, é um dos criadores do movimento cyberpunk, e seu trabalho eventual como jornalista (para revistas como Wired e outras) o levou a viajar pelo mundo todo. Ele acabou casando com uma sérvia, e em 2007 estava morando em Belgrado. Numa entrevista à Locus (#561, outubro 2007), ele comentou essa experiência de expatriamento voluntário, curiosidade por outras culturas e o choque que o olhar norteamericano (que ele considera meio provinciano, tacanho) experimenta diante da realidade da Europa Oriental. BS – Uma coisa em que venho pensando ultimamente é um romance “regional” sobre o Planeta Terra. O mundo tornou-se um lugar pequeno, e é preciso que se escreva um romance-de-cidadezinha-pequena a respeito dele. Eu sou de uma região [Texas] muito voltada para o romance regional. O romance regional texano gira em torno da angústia do Gótico Sulista, sobre pais e filhos e a posse da terra – coisas tipo Lonesome Dove. Precisamos de um livro que relate o que aconteceu conosco de um ponto de vista transnacional, para interpretar o sentido cultural de tudo isto e fazer julgamentos de valor a seu respeito, porque é algo cada vez mais forte, e está acontecendo muito depressa. Isto vai ser bom para o quê, vai ser ruim para o quê? Quem são os vencedores, quem são os derrotados? O que temos a ganhar com isso tudo? Alguém precisa criar obras literárias sobre a globalização, mas não é o meu caso, porque não sou um grande romancista. (...) Eu vivo hoje num país [a Sérvia] que já atravessou seis colapsos econômicos, mas você ainda consegue sair de casa e obter um jantar. Belgrado é uma cidade em gráfico ascendente no momento atual. Eles já passaram por uma hiperinflação, onde você vai ao mercado com um carrinho de mão cheio de cédulas e compra um pão; e não apenas todas as pessoas perderam suas economias, como depois vieram os bandidos e atearam fogo à cidade. Mas o mundo não se acabou (ele se acaba quando para de chover por dois anos e toda a vegetação morre). Essa situação econômica é apenas um epifenômeno. Você pode visitar lugares por toda a Europa onde a economia já entrou em colapso. A Europa é cheia de sociedade pós-catástrofes.” (...) Se você viaja pelos Bálcãs, vê o tempo inteiro pessoas que já perderam tudo. Eles têm uma espécie de resiliência, um humor sinistro a esse respeito. Para mim, é uma espécie de segundo lar espiritual, de muitas maneiras, uma sociedade com um temperamento muito mais sombrio. Eu sou uma espécie de figura piadista, fazendo frases de mau-humor ao estilo de Mencken, mas em Belgrado eles me veem como um cara leve, um cara divertido. “Você é um americano amistoso, sempre espirituoso, sempre com uma frase engraçada.” Na América, dizem: “Por que você vive escrevendo sobre distopias?” Não são distopias, é o mundo que é assim.” Existe provavelmente espaço para o crescimento de uma literatura transnacionalista que não abra mão de todas as conquistas linguísticas, temáticas e ideológicas dos nacionalismos literários, mas que seja capaz de articular esse nacionalismo aos seus equivalentes mundo afora. Seria uma maneira de combater a padronização, a uniformização das narrativas, a propagação de uma literatura consumista que seria a mesma em todos os continentes. 4985) Dicionário Aldebarã XXV (24.9.2023) O planeta de Aldebarã-5 tem uma civilização influenciada pelos colonizadores terrestres. Seu vocabulário exprime as características da natureza do planeta e o seu modo de observar os fenômenos da psicologia e da cultura. Confiram os verbetes abaixo, recolhidos, meio ao acaso, do Pequeno Dicionário Interplanetário de Bolso. Catrinus – Jogo de salão onde as pessoas improvisam coletivamente uma narrativa. Cada uma tem cinco a dez minutos para narrar em voz alta sua contribuição, usando como “mote” um objeto aleatório retirado de um saco. Retirado o objeto, a pessoa precisa usá-lo como tema para prosseguir a história do ponto em que foi largada pela pessoa anterior. Segue-se assim em rodadas sucessivas até que os objetos se esgotem, e o último deles será usado por quem irá criar o desfecho da história. Nandei – Nome de um tipo de prensa metálica usada para prensar diferentes tipos de folhas vegetais, de diferentes árvores e arbustos, para a fabricação de uma “tela” especial onde serão aplicadas pinturas abstratas muito apreciadas para decoração de aposentos. Some-Sime – Empregado (geralmente um rapaz ou moça adolescente) que trabalha para as famílias de uma rua inteira, fazendo pequenas tarefas e com direito a comer e dormir em qualquer uma das casas, de acordo com sua conveniência. Essa processo dura um ano e é considerado um rito de passagem, porque um some-sime entrega correspondências, lava pratos, bota crianças para dormir, apara mato, ajuda a arrumar móveis e a costurar roupas, cozinha, serve à mesa, cuida de doentes, faz trabalhos de marceneiro, pedreiro, etc. Nelones – Caixinhas de pedidos colocadas em lugares públicos. A pessoa deposita uma moeda, coloca um pedido num papelzinho dobrado, e retira outro, aleatoriamente. Quando não pode atendê-lo, coloca o pedido de volta. Se achar que pode atender o pedido, leva-o consigo e depois entra em contato com quem pediu. Grande parte dos pedidos são relativos a utensílios, instrumentos, livros, peças de roupa específicas. Senkaya: grandes murais pintados nas paredes das escolas de arte, onde gerações sucessivas de estudantes pintam novas formas, figuras e paisagens sobre que foram pintadas pelas gerações anteriores, num movimento perpétuo de substituição e renovação. Rana-dem-Dur: a sensação de estar usando alguma coisa que não se encaixa bem no nosso corpo ou na nossa personalidade: um sapato pequeno, uma roupa apertada, uma comida muito sofisticada, um veículo muito lento ou muito rápido, um emprego inadequado. Dreakans: hábito brincalhão, entre pessoas da mesma família ou amigos muito próximos, de no meio de uma discussão acalorada, ao perceber que está havendo um aumento da tensão, uma pessoa começar a cantarolar o que diz, ao invés de simplesmente falar, ao que a outra imediatamente adere, e as duas passam a improvisar um pequeno número musical, totalmente informal e descontraído, com o único intuito de diluir a agressividade e a irritação que começavam a surgir. Kimbass: Uma espécie de quarto-de-despejo, porão ou sótão existente na maioria das casas, para onde são levados trastes velhos, objetos quebrados mas passíveis de conserto, utensílios ainda úteis mas que foram substituídos por uma versão mais nova, brinquedos, roupas, instrumentos obsoletos. Por extensão, tornou-se um termo para designar o acervo de lembranças ou de fatos irrelevantes que nossa memória acumula ao longo dos anos, e gerou expressões como “Isto aí está no kimbass”, com o sentido aproximado de "Existe, mas é impossível de encontrar”. Vistunyi: crianças de inteligência acima da média, para as quais há uma permissão provisória para que participem de atividades adultas relacionadas ao estudo, ao trabalho e ao lazer, como uma espécie de iniciação precoce ao mundo adulto. Em função disso, precisam fornecer contrapartidas, que vão desde o ensino para outras crianças até a participação em conselhos educacionais e de administração do bairro em que vivem. Ulfos: almofadas macias, em tamanhos variados, que se usam na cama; diferentes regiões e diferentes culturas usam formas de animais ou objetos que podem ter um sentido religioso, erótico, familiar, e há crenças de que durante o sono noturno as entidades que elas representam entram em contato mental com os sonhos das pessoas adormecidas. 4986) Drummond: "Sociedade" (27.9.2023) (Carlos Drummond -- auto-caricatura) Um ângulo interessante da poesia modernista, que de certa forma se cristalizou após a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, é o modo como a nova poesia começou a se aproximar da prosa, e, mais precisamente, da crônica, um gênero literário praticado e consumido sem problemas no Brasil. A crônica é um tipo de voz literária que se dirige ao leitor de modo um tanto informal, e que o leitor aceita com a mesma descontração. O que fazia muita gente rebaixar a crônica como gênero literário . Na época em que Carlos Drummond publicou seu primeiro livro (Alguma Poesia, 1930) vigorava (embora não por unanimidade) a visão de que a Arte teria que ser necessariamente solene, e a linguagem poética teria que ser necessariamente uma linguagem “elevada”. A poesia, portanto, podia se aproximar da epopéia, mas não da crônica. A crônica dispensava essas elevações, conversava com o leitor, e pode ter sido, ela também, uma influência a mais no estilo que Machado de Assis transportou para o conto e para o romance. Ao invés de um narrador onipotente contando uma história para um leitor invisível, o romance de Machado – a partir de Brás Cubas (1881) – adotou esse tom conversacional, coloquial, de trocarfigurinhas com o leitor enquanto lhe relata os acontecimentos. Isso vazou para a poesia, e isto que eu chamo de poema-crônica tornouse cada vez mais frequente – e cada vez mais perseguido pelos defensores da poesia-em-cima-de-um-altar. Drummond assimilou, com a espontaneidade de quem por fim encontrou sua turma, essa irreverência que hoje pode nos parecer meio bobinha, mas na época era um escândalo em copo dágua. “Sociedade” é um dos poemas de Alguma Poesia em que esse veio aparece de forma mais divertida. Um poema de cortes rápidos, falas curtas, descrição minimalista, que de certo modo faz um contraponto às famigeradas colunas sociais onde se redigem, séculos afora, notas tipo: “O Sr. e a Sra. Fulano receberam nesta sexta-feira, para jantar, a visita do casal Sr. e Sra. Sicrano, personalidades de destaque de nossa sociedade...” “Me aguarde ...” (deve ter pensado o tímido Carlos Drummond). Sociedade O homem disse para o amigo: – Breve irei a tua casa e levarei minha mulher. O amigo enfeitou a casa e quando o homem chegou com a mulher, soltou uma dúzia de foguetes. O homem comeu e bebeu. A mulher bebeu e cantou. Os dois dançaram. O amigo estava muito satisfeito. Quando foi hora de sair, o amigo disse para o homem: – Breve irei a tua casa. E apertou a mão dos dois. No caminho o homem resmunga: – Ora essa, era o que faltava. E a mulher ajunta: – Que idiota. – A casa é um ninho de pulgas. – Reparaste o bife queimado? O piano ruim e a comida pouca. E todas as quintas-feiras eles voltam à casa do amigo que ainda não pôde retribuir a visita. O poeta generaliza os tipos (“o homem”, “a mulher”, “o amigo”). Deixa implícita a hierarquia social entre os dois, porque não é o amigo que convida: o homem anuncia, sem papas na língua, que irá à casa do outro. A dúzia de foguetes soltados pelo amigo reforça o sentido de que aquela visita é um evento notável. O amigo sente-se, a partir daí com crédito a um convite semelhante, mas nada disso acontece. É o casal visitante quem repete a visita conforme lhe dá na vontade. Na vida social, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O amigo, anfitrião desta primeira visita, anuncia timidamente que irá à casa do “homem”, mas este não corresponde. Sai falando mal do jantar – e quem, com toda sinceridade, nunca foi à casa de alguém para depois sair botando defeito na decoração, na discoteca, no comportamento das crianças, no menu, nos modos à mesa?... A vida social, neste retrato drummondiano (mordaz e sincero), é uma relação verticalizada, entre pessoas de diferente status social, em que os De Cima se aproveitam dos De Baixo, cobram favores que não retribuem, exigem atenções, desfrutam o que lhes agrada, e no fim de tudo saem falando mal como modo de reafirmar a própria superioridade: “Eles não estão à nossa altura”. Manuel Bandeira se queixava de que grande parte da má fama dos modernistas se devia ao temperamento galhofeiro do grupo, e seus poemaspiada. Carlos Drummond já observou que no seu famoso poema da pedra no meio do caminho o que irritava os críticos nem era o abstracionismo do conteúdo, mas o fato de que ele escrevia “tinha uma pedra”, em vez de “havia uma pedra”, como teria escrito um “poeta culto” de 1930. Uma boa parte desta má fama, no entanto, pode ser atribuída a essa disposição para zombar das frivolidades sociais, das hipocrisias de classe, das amizades interesseiras, do alpinismo social baseado no sorriso fácil e no tapinha nas costas. 4987) Os filmes de Samuel Fuller (30.9.2023) Ele foi um diretor de filmes B norte-americanos. Essa fórmula é meio escorregadia, mas não é exagero dizer que Samuel Fuller (1912-1997) foi um diretor que nunca deu muita bola para altos orçamentos ou elenco de estrelas. Preferia a relativa liberdade de fazer filmes com orçamento de mediano para baixo, onde ninguém tinha muita expectativa de lucro. De vez em quando, dava a sorte de trabalhar com um produtor que confiava nele e lhe dizia: “Vá em frente, eu garanto”. Para os cinéfilos do cinema de arte, é bom lembrar da ponta que ele faz em O Demônio das Onze Horas (“Pierrot Le Fou”, 1965) de Jean-Luc Godard, aparecendo como ele mesmo durante uma festa e trocando algumas frases com Jean-Paul Belmondo. Andei vendo alguns filmes de Fuller nos últimos meses. O excelente policial noir com Richard Widmark , Pickup on South Street (1953), que lhe trouxe problemas com o FBI de J. Edgar Hoover. The Big Red One (1980), um filme de guerra magnífico, com um grupo de soldados jovens chefiados pelo veterano Lee Marvin, registro autobiográfico das campanhas de que Fuller participou na II Guerra Mundial (invasão da Sicília, invasão da Normandia, descoberta dos primeiros campos de concentração). E Run of the Arrow (1957), um western envolvendo soldados da cavalaria e índios, influência clara sobre Dança Com Lobos (1990). Tudo isto me conduziu ao saite do Sesc Digital (filmes muito bons para ver online, gratuitamente) onde estão dois filmes sobre o diretor. O primeiro filme é A Fuller Life (2013), dirigido por sua filha Samantha Fuller. Ela soube aproveitar muito bem o enorme material autobiográfico deixado pelo pai. Até entrar para o Exército, Fuller trabalhou como jornalista: repórter, colunista, caricaturista. Publicou alguns romances, e deixou um extenso material de memórias, que no fime são lidas por amigos seus – um time que inclui Mark Hammill, Wim Wenders, Tim Roth, Jennifer Beals, William Friedkin e vários outros. Os longos e perspicazes depoimentos de Fuller são cobertos com imagens que ele mesmo registrou durante a guerra – sua família localizou, após sua morte, inúmeras bobinas de filme em 16mm. que ele levou consigo durante os combates, fazendo um precioso registro dos campos de batalha. https://sesc.digital/conteudo/cinema-e-video/tigrero-o-filme-que-nuncaexistiu O outro filme, Tigrero: a Film That Was Never Made (1994) tem muito interesse para nós brasileiros. Num certo momento em sua carreira, em 1954, Fuller, que era um aventureiro nato e gostava de se meter a filmar nos lugares mais inóspitos, teve a idéia de vir ao Brasil para filmar os índios carajás, em Mato Grosso. O pretexto era um argumento intitulado Tigrero, a história de um casal de brancos que se aventura na selva junto com o personagem-título, um caçador de onças local. Acontecem aventuras variadas, e um triângulo amoroso acaba se formando entre os protagonistas, que em tese iriam ser interpretados por Tyrone Power (o marido), Ava Gardner (a esposa) e John Wayne (o caçador). Fulller foi ao Mato Grosso e filmou centenas de metros de película registrando a vida dos índios, que iria servir de pano-de-fundo ao drama principal, mas por motivos variados (e narrados no filme) a produção não avançou. (Jim Jarmusch e Samuel Fuller em frente ao Copacabana Palace) Quarenta anos depois, coube a dois jovens cineastas a idéia de levar Fuller de volta à tribo dos carajás, para se reencontrar com alguns índios que ele filmara da primeira vez. O “mestre de cerimônias” do filme é Jim Jarmusch (Daunbailó, Estranhos no Paraíso, Dead Man, etc.), que acompanha Fuller na viagem, entrevistando-o e extraindo dele toda a complicada história do filme que não foi feito. O segundo é o diretor do filme, Mika Kaurismaki, um finlandês que, como seu irmão Aki Kaurismaki, dirige documentários e filmes de ficção muito interessantes e que às vezes passam despercebidos. Mika Kaurismaki morou vários anos no Rio de Janeiro, e tinha um bar (Mika’s Bar) na Praça N. S. da Paz, em Ipanema, onde eu próprio assisti vários shows e cheguei a cantar também, no tempo em que era cantor independente [sic]. Tigrero leva esse trio improvável para os cafundós do Mato Grosso, filmado pela câmera de Jacques Cheuiche, e ali Samuel Fuller reencontra vários dos seus colegas de aventura fílmica do passado, numa tribo já bastante modificada pela invasão da cultura branca. Ele exibe para os indígenas o material filmado anos atrás, conversa com eles, etc. Além da curiosidade de um diretor com esse perfil filmando no Brasil, a atração do filme é mesmo a personalidade de Fuller. Se no filme póstumo, dirigido pela filha, vimos uma biografia em imagens com o depoimento dele na primeira pessoa, em Tigrero vemos o próprio Fuller, já com mais de 80 anos, caminhando inquieto pra lá e pra cá, e falando sem parar diante da câmera. (Samuel Fuller) Ele tem o carisma dos diretores aventureiros, inteligentes e com vasta leitura, mas sem grandes elucubrações intelectuais. Fumando charutos o tempo inteiro, com uma inquieta cabeleira branca, queimado de sol, visualmente ele parece um cruzamento improvável entre Harpo Marx e o ex-ministro Roberto Campos. É do tipo capaz de contar um filme inteiro e segurar a plateia o tempo todo, e no fim dar uma de suas gargalhadas desarmantes, como quem diz: “Não se preocupem, tô só viajando numa idéia”. Fuller era incensado pela turma do Cahiers du Cinéma nos anos 1960, e sem dúvida os franceses contribuíram decisivamente para que ele, perseguido ou esnobado em seu país, mantivesse a chama acesa, bem como o charuto. Os EUA devem à França uma compreensão mais profunda dos artistas que eles mesmos produzem, desde Edgar Allan Poe (resgatado por Baudelaire) até Philip K. Dick e os músicos de jazz do pós-guerra. Vive la France. 4988) Seis conselhos (3.10.2023) 1 Dona Graúda Ferreira, 58 anos, em Cajazeiras (Paraíba), está fazendo bolo para o jantar às quatro e meia da tarde de uma quinta-feira, quando recebe a visita de seu filho Vamberto, 29 anos, bancário, que divide apartamento com mais dois colegas da agência local. Vamberto faz os arrodeios de sempre, e depois explica que tomou a decisão de casar com sua recente namorada Arlene, 21 anos, por ter constatado que ela é a mulher de sua vida. Conta isso ao longo de meia hora enquanto a mãe bate claras em neve, unta a forma, fatia maçãs e tudo o mais. Terminada a declaração, que ela escuta em concentrado silêncio, ela limpa as mãos no avental e pergunta: “Já brigaram alguma vez?” Vamberto se empertiga, com todas as defesas em riste: “Claro que não! A gente dá muito certo um com o outro.” Ela abre a tampa do forno, coloca a forma lá dentro com todo cuidado, e enquanto procura a caixa de fósforos diz por cima do ombro: “Pegue uma briga com ela. Pra saber como ela briga.” 2 Gilbert Dickinson, 25 anos, inglês, soldado de infantaria do exército britânico na I Guerra Mundial, na batalha de Surmontès, no inverno, agachado e com água pela cintura, depois de dez horas seguidas de fuzilaria cerrada alemã, virou-se para o Sargento, desesperado, e disse: “Sargento... Quero ir embora daqui”, e o sargento disse: “É só ficar em pé”. 3 Eduardo Villaverde, carioca, 31 anos, num estado de exaltação emocional visível a uma quadra de distância, encontra num café o velho amigo Lourival Sabino, 44, e derrama-lhe em cima sua nova paixão arrebatadora, por Ingrid, uma loura enigmática, elusiva, misteriosa, uma Nadja bretoniana ou Maga cortazarista, com quem semanas atrás compartilhou uma única noite de sexo, drogas e rock-and-roll, finda a qual ele recorda, entre brumas matinais de pós- orgia, o recado de que “procurasse por ela em Copenhague”. Seguiram-se dias de paixão febril e de corridas atrás de passaporte, visto, bilhetes com conexão, reservas às pressas no primeiro Airbnb que apareceu, e a compra (ele abre o saco plástico e mostra) de um dicionário de bolso “Português-Dinamarquês, Dinamarquês-Português”, ao que o filosófico Lourival retruca: “Você já foi conferir naquela loja de chocolates da Visconde de Pirajá?...” 4 Dioclécio Ramos, 81 anos, desempregado, ex-funcionário público, excomerciante falido por juros bancários, viúvo por erro médico, presidiário por seis meses sob acusação de peculato com provas duvidosas e testemunhos de desafetos, vivendo no quarto dos fundos da casa do genro, foi abordado na rua por Ismael Cordeiro, 27 anos, militante partidário, que lhe enfiou na mão uma maçaroca de panfletos impressos a cores em papel cuchê, e o exortou a votar no candidato da vez, explicando que era pelo bem do Brasil, pela libertação do Brasil, pela possibilidade do Brasil realizar enfim seu destino manifesto, ao que Seu Dioclécio tirou da boca o cachimbo apagado e disse: “Enfie o seu Brasil no cu, começando por aquela parte mais fina.” 5 Genoveva Monteiro, "Vevinha", 19 anos, de Barra de Santa Rosa, filha de Dona Osminda, viúva, 58 anos, acabou se casando com Raimundo Berto, 30 anos, mecânico, um cara meio abrutalhado. Um mês depois de casada ela foi na casa da mãe e disse: “Mãe, todo fim de semana Raimundo sai pra beber, volta pra casa todo sujo, e quando eu reclamo ele me dá uma surra. O que é que eu faço?...”. A mãe tirou o cachimbo da boca e disse: “Proteja os dente”. 6 Lourival Araújo, 28 anos, estudante, recifense, torcedor do Náutico, amava esse clube como quem ama uma mulher tuberculosa, desesperando-se por ele, sofrendo na carne e no sangue cada derrota, bebendo rios de álcool a cada desclassificação, dando desgosto aos pais, dando trabalho aos amigos que pagavam Uber para levá-lo em casa (eram sempre motoristas igualmente alvirrubros, estoicamente compreensivos e solidários). Uma noite, depois de um empate sem gols nos Aflitos contra um Aparecidense desfalcado, ele sentou no bar de Misael, pediu uma garrafa de Fogo Paulista, serviu uma dose de três dedos e virou. Seu Donda, pai de Misael, estava lanchando na mesa ao lado e lhe mandou um olhar em diagonal, sabedor que era do drama do rapaz. (Seu Donda era Sport, e bem ou mal conseguia conciliar o sono à noite.) Criou coragem e disse: “Lourival, tu quer um conselho?...” O rapaz serviu-se de outra dose, ergueu o copo em saudação e respondeu: “Seu Donda, conselho é como esmola, a gente só dá a quem pede." E emborcou o copo. 4989) Eu vi "Magical Mystery Tour" (6.10.2023) Como todo fã dos Beatles durante os seus escassos oito anos de atividade (entre 1962 e 1970), me roí de impaciência e de inconformismo, durante muitos anos, pela impossibilidade de assistir o terceiro filme do grupo, o famigerado Magical Mystery Tour (1967). Feito para a TV, o filme não foi exibido no Brasil a não ser em algumas transmissões obscuras ou sessões privadas a que eu, um simples mortal, jamais tive acesso. Tive acesso agora, porque um amigo me arranjou uma cópia em MP4. É engraçado. Mudariam os Beatles ou mudei eu? Fiquei meses com o filme no computador, comecei a vê-lo umas três ou quatro vezes, ao longo de alguns meses, e só agora vi até o fim. MMT foi a primeira criação profissional dos Beatles depois da morte do empresário Brian Epstein. Paul McCartney, esse otimista incorrigível (e indispensável em qualquer grupo) convenceu os amigos, todos muito abatidos, de que a melhor coisa a fazer era inventar um projeto novo e mergulhar de cabeça em sua realização. McCartney é uma espécie de Tom Cruise do rock, um cara que acredita nos projetos com olhos brilhando, joga-se nele de corpo e alma, e convence todo mundo a fazer o mesmo. O filme foi muito mal recebido em sua primeira exibição na TV inglesa. Foi rodado em cores, no mês de setembro, e a televisão o exibiu numa sessão natalina em preto-e-branco. No alvoroço do lançamento, e sem o precavido Brian examinando a papelada, eles venderam os direitos de exibição para a BBC-TV, cujos canais eram quase todos em preto-e-branco... e foi assim quer o filme foi visto em horário nobre, com grande publicidade, por 15 milhões de espectadores. A imprensa britânica deitou e rolou em cima dessa oportunidade de falar mal da banda. Entende-se. Jornalistas muitas vezes sentem-se presos à obrigação moral da imparcialidade. Quando elogiam alguém seguidamente, começam a torcer por uma chance de falar mal, para provar que têm uma opinião distanciada, objetiva, neutra... O filme é uma bagunça, uma prova de que entusiasmo e talento não resultam necessariamente num trabalho bem feito. Os Beatles encheram um ônibus com amigos e atores, e partiram estrada afora para uma viagem de cinco dias, sem roteiro, sem história, dispostos apenas a improvisar coisas engraçadas ao longo do trajeto. Talvez influenciados pelo clima de “vale tudo” dos filmes de Richard Lester (A Hard Day’s Night, Help!), eles acharam que bastaria ter algumas câmeras circulando e dizer coisas engraçadas. A verdade é que a receita talvez até funcionasse, se houvesse uma produção de verdade por trás. Philip Norman, na sua ótima biografia da banda (Shout!, Simon & Shuster, 1981) comenta (trad. BT): O caos se instalou desde o princípio. A Magical Mystery Tour, ao invés de flutuar rumo a um crepúsculo psicodélico, arrastou-se fisicamente como uma lesma pelas rotas por onde os britânicos viajam nas férias de verão, caçada por uma caravana de veículos da imprensa, rodeada em cada parada aleatória por hordas de turistas e de fãs. Avistando uma placa que indicava a direção de Banbury, foram nessa direção, para ver se em Banbury havia um parque de diversões. Não havia, e eles retornaram para Devon, enquanto o trânsito se engarrafava à frente e atrás do ônibus. (p. 314) Brian Epstein (que morrera semanas antes, em 27 de agosto) tinha sido uma presença invisível, uma barreira. Uma de suas funções principais era isolar os Beatles dos problemas práticos, para que se concentrassem na música. Sem ele, a bolha se rompeu. O faz-tudo Neil Aspinall, homem de confiança da banda, comenta, no mesmo livro: Quando Brian estava vivo, nunca tínhamos de nos preocupar com esse tipo de coisa. Bastava pedir quinze carros e vinte quartos de hotel, e eles apareciam. (...) Viajamos até Brighton e tudo que fizemos foi filmar dois deficientes físicos na praia. O que devíamos ter filmado era o caos que estávamos provocando – o ônibus tentando cruzar uma ponte estreita demais, com filas e filas de carros atrás de nós, e depois tendo que desistir, dar meia volta, e passar por todos aqueles motoristas que nos amaldiçoavam, até que John ficou furioso e arrancou os posters pregados no lado de fora do ônibus. (p. 315) Depois da caótica filmagem, seguiram-se onze semanas de edição do material. Dez horas de negativo foram reduzidas a 52 minutos. Tony Bramwell, outros amigo-de-fé que assumiu parte das tarefas do falecido Epstein, comenta: Paul vinha ao estúdio pela manhã e editava o material. Depois, à tarde, aparecia John, e re-editava o que Paul tinha feito. Depois chegava Ringo... (p. 315) É visível no filme a tentativa de reproduzir o clima inconsequente e de nonsense dos filmes de Richard Lester, mas os músicos não tinham o talento de Lester. Ele dominava o segredo do ritmo, da montagem e da narração, como provou nos filmes da banda e em A Bossa da Conquista (“The Knack”, 1964). Muitos trechos de MMT lembram seus achados absurdistas, como a tenda no meio de um terreno vazio onde os ocupantes do ônibus entram e vão dar num espaço enorme, com palco e platéia. Há outra sequência maluca, uma espécie de corrida desembestada entre o ônibus da MMT e pessoas usando bicicletas, carros, etc., numa gincana que lembra (com um pouco de boa vontade) o funeral acelerado de Entr’acte (René Clair, 1924). A bagunça noturna dentro do ônibus, com todo mundo cantando e tocando, faz lembrar o clima da Rolling Thunder Review que Bob Dylan organizou anos depois (com uma produção mais eficiente). Uma cena surrealista mostra uma mulher imensamente gorda sonhando que está comendo num restaurante onde um garçom (John Lennon) serve-lhe montanhas de espaguete, com uma pá. Lennon chamou seu personagem de “Pirandello” (o autor de Seis Personagens Em Busca de um Autor), talvez numa alfinetada pouco sutil ao filme em si. Talvez nem tudo esteja perdido. O diretor Peter Jackson produziu recentemente um milagre, aproveitando o material bruto do filme Let It Be e criando os três episódios da série Get Back, uma obra totalmente diversa, e excelente. Quem sabe as dez horas de material de MMT estejam escondendo um filme – para quem seja capaz de dominar a arte e a ciência da montagem. O filme-para-TV frustrado poderia resultar num registro semelhante ao de Jackson com Get Back? Duvido muito. As imagens e os sons originais são de natureza completamente diferente. O que Magical Mystery Tour possui como vantagem, no entanto, é a intenção (totalmente anos-1960) de não ter a obrigação de fazer sentido, e meramente explorar a magia, o mistério, a jornada sem final em vista, a experiência lisérgica, o absurdo, o nonsense, o humor anárquico. Não se pode extrair de um material filmado com esse propósito (e filmado de modo canhestro, amadorístico) um discurso lógico e apolíneo. Seria preciso entregar o material nas mãos de um daqueles cineastas underground capazes de reproduzir na montagem as técnicas de associação livre, de fluxo da consciência, da enumeração caótica, da colagem psicodélica. Algo na linha do cinema-ensaio-poético, como experimentava Chris Marker ou o Jean-Luc Godard de filmes-colagem como Film Socialism, Histoire(s) du Cinéma, Adieu le Langage etc. 4990) O real-irreal de W. J. Solha (9.10.2023) W. J. Solha acaba de lançar O Irreal e a Suspensão da Credulidade (Cajazeiras: Arribaçã, 2023), o mais recente volume da sua série de poemas filosóficos, iniciada há alguns anos, e que andei resenhando aqui neste blog. Conheço o trabalho de Solha desde o tempo em que morava em Campina Grande; nossa amizade presencial tem tido proporcionalmente poucos encontros em carne e osso, se divididos pelo período de tempo. Ainda assim, é um diálogo dos mais compensadores, porque sou um dos beneficiários diretos de sua experiência existencial e literária. Paulista radicado na Paraíba, Solha faz romance, poesia, pintura; é ator de cinema, ator e diretor de teatro (aposentado, diz ele – mas nunca acredite quando um ator diz que não sobe mais no palco); libretista de ópera; e acho que tem mais prêmios do que eu tenho títulos publicados. Com inteiro merecimento, porque é uma avalanche de criatividade. O Irreal e a Suspensão da Credulidade é um volume fininho (menos de 100 páginas) mas dá um novo impulso ao poema-rio que Solha vem publicando há anos. O mestre Hildeberto Barbosa Filho, em seu posfácio, descreve a obra como “uma poética em espiral”, e como “uma espécie de autobiografia intelectual, artística e filosófica”, o que vai no centro do alvo. Neste comentário irei acabar repetindo algo que devo ter falado quando comentei alguns dos volumes anteriores: Trigal com Corvos (2004), Marco do Mundo (2012), Esse é o Homem (2013), Deus e outros quarenta problemas (2015), Vida Aberta (2019), 1/6 de laranjas mecânicas, bananas de dinamite (2021). O tema principal deste enorme poema-serial é o conhecimento do mundo e o estabelecimento de associações, contrastes e analogias entre coisas aparentemente não-relacionadas. Como se fosse (para usar uma expressão de Carlos Drummond de Andrade em sua Antologia Poética) “uma tentativa de exploração e interpretação do estar-no-mundo”. Ou quem sabe a tentativa de estabelecimento de uma sintaxe das formas individuais e coletivas de produção de significado. Solha abre este novo poema com algumas citações, entre elas a do poema de Jorge Luís Borges que agradece pelo “divino labirinto dos efeitos e das causas” e pelo “poema” que ele sabe ser um só, e “inesgotável”. Essa intuição totalizante (justificada ou não), de que universo e literatura são feitos da mesma trama e tecido, percorre a obra do escritor argentino, e Solha se emparelha com ele ao enxergar o mundo inteiro como uma linguagem em que algo ou alguém tenta nos explicar alguma coisa. Alguma coisa que percebemos sem saber direito como isto acontece: (...) pensando numa bela palavra do português e espanhol: sol e me lembro de que o vi, na infância, da urgência do meu trem, a correr – irreal, vertiginoso – no poente, por trás das árvores negras, até... “morrer” lentamente, deixando-me... diferente. (p. 8-9). A vida é uma sucessão de pequenas revelações que percebemos sem decifrar; como dizia o próprio Borges em “O Fim” (em Ficções): Há uma hora da tarde em que a planície está por dizer alguma coisa, nunca o diz ou talvez o diga infinitamente e não a compreendemos, ou a compreendemos mas é intraduzível como uma música... (trad. Carlos Nejar) Traduzir esses recados é uma das tarefas a que Solha se propõe, e não somente os recados do morro ou da planície, mas os da arte e da cultura acumuladas pelos milênios. Sem negar a existência do talento ou da genialidade dos indivíduos, o poeta parece retroceder alguns passos e encarar em conjunto o grande mural da História, e somente dessa distância, paradoxalmente, consegue perceber a simetria de dois detalhes situados em espaços opostos. Assim como Jessier Quirino define um poeta como “um prestador de atenção”, Solha é um observador intenso, quase monomaníaco, dessas pequenas simetrias ou assimetrias improváveis no bordado do mundo. Percebe inclusive os pontos onde está faltando um fio, uma linha, um cordel, uma ligação qualquer entre dois pontos: E isto é sério: Montaigne... e Rabelais, cada um a seu tempo e em sua redoma, foram – não pela fé – a Roma ...e escreveram, deslumbrados, sobre o milenar Império, nada, porém – o que é um petardo – sobre Miguelângelo e Leonardo, sobre nenhum dos dois! porque só se veria a importância do Renascimento a partir de Jacob Burckhardt, ...trezentos anos depois! (p. 35) O mundo físico e o mundo da cultura são feitos tanto de fios quanto de vazios: Entre mil arapucas: se alguém quiser montar a Paixão de Cristo com base apenas em Lucas, não terá uma coroa de espinhos, e se em depoimento de João, sozinhos, ficará – e a lacuna é tamanha – sem o Sermão da Montanha! Na capa do livro (e no corpo do texto), o poeta usa no lugar da letra “R” a imagem do “olho de Hórus”, que José Eduardo Degrazia, em outro posfácio, descreve como “o olho clarividente e onipresente (aí entra a maçonaria), que tudo sabe, tudo vê e tudo julga.” Esse olhar implacável é o do poeta, que anota e cataloga cada detalhe a lhe atrair a atenção, e não só isso: que reconhece na cultura humana um tecido de olhares, de coisas que somente um percebeu, e que ao registrar e publicar transformou em dez mil percepções. Daí que – mais uma vez – gracias quiero dar ao aparente inacabamento – irreal – fundamental do conhecimento, que se vê também nas pequenas coisas, como na... solidão – que nos comove – da mulher enlutada a cruzar a ponte levadiça em Arles, século XIX, sem saber que lhe faz companhia o van Gogh, uns trinta metros – à esquerda – atrás dela, e que a inclui na tela, sem saber que eu e você agora “vemos” os dois, tanto tempo depois. (p. 50) É o peso do real-da-arte, mais real (porque mais intenso e mais deliberado) que o real-da-vida. Algo que observamos, também, quando a ilusão teatral sugere (=exibe) a presença de um artefato gigantesco e inconcebível mediante efeitos simples: Suspensão da INcredulidade é o fenômeno digerido de Coleridge, em espetáculos por mim dirigidos, quando – por exemplo – a guerreira olha para o alto e grita que a nave do inimigo está descendo, coisa que a platéia – sem obstáculos – “vê” ocorrendo nos cento e tantos refletores acesos, presos... à parafernália das gigantescas e sempre até então ocultas varas de luz que eu baixo ao palco, entre a zoada de turbinas e nuvens de talco. (p. 13) Fenômeno semelhante ao da persistência retiniana que recria, no cinema, um movimento do mundo físico, através de um movimento que só existe em nosso conjunto olho-e-cérebro: Surreal: com incapacidade total de ver nenhum dos vinte e quatro fotogramas de uma sequência projetada em disparada, numa tela no velho cinema, passou a nela ver a... irreal reprodução não registrada! ...da ação “filmada”! (p. 32-33) O projeto poético-filosófico de Solha, expresso nestes (até agora) seis livros é um projeto universalista, totalizante, uma tentativa de salvar o mundo registrando tudo que nele parece fazer sentido. Algo como a obra de Bispo do Rosário, a “enciclopédia do apocalipse”, onde o artista julgava estar salvando da destruição tudo que reproduzia em sua linguagem pessoal. Ao longo dessas obras, Solha tem desenvolvido um estilo próprio de versejar, uma combinação pessoal entre o verso livre e a rima. Ele usa insistentemente o verso livre, a linha sem tamanho fixo, ora muito curta, ora muito extensa, “quebrada” em qualquer ponto, como uma forma de criar “quebra-molas verbais” capazes de suster e cadenciar o fluxo da leitura. Sua dicção, mesmo quando usa imagens retóricas poderosas, é sempre a dicção da prosa, da prosa expositiva, consequencial, em que um argumento ou uma descrição se desenrolam com rigor e clareza. O corte da linha funciona, neste caso, como um alerta permanente de que o ritmo de leitura-e-degustação deve ser outro. Vai daí que Solha emprega seus artifícios para atenuar essa tendência à linguagem prosaica. “Prosaica” no bom sentido, da fala sem excesso de artifícios, como lembrava T. S. Eliot em “The Music of Poetry” (em On Poetry and Poets, Noonday Press, 1961): “A poesia não deve derivar para muito longe da nossa linguagem ordinária, cotidiana, a que usamos e que ouvimos. Que seja ela acentual ou silábica, rimada ou sem rimas, formal ou livre, ela não pode se dar o luxo de perder o contato com as formas mutáveis do discurso coloquial. (...) Cada revolução na poesia acaba resultando, e muitas vezes assim se proclama, num retorno à fala comum.” (trad. BT) Solha abre mão de metrificar, não por não saber fazê-lo (quando ele produz letras para serem musicadas, suas sextilhas e seus martelos são impecáveis), mas porque sua aventura não é só poética, é poético-filosófica, e requer a convivência (tensa) entre os recursos de ambas as linguagens. Surge também daí (acho eu) seu uso personalíssimo das rimas, que em seu texto não têm localização fixa, e aparecem distribuídas meio aleatoriamente no interior dos versos, às vezes surpreendendo pelo inusitado de sua presença, às vezes invisíveis (inaudíveis) pelo modo sem-costura com que se integram ao conteúdo do discurso. Se este projeto ambicioso de Solha tem aquilo que Borges descrevia como “balbuciante grandeza”, que os seus leitores esperem a maciça “Auto/b/i/o/grafia” que ele vem há tempos distribuindo em fragmentos pelo Facebook. Fiel ao seu propósito de pensar o mundo enquanto mundo e pensamento existam. 4991) A Empregada e o Professor (12.10.2023) A pulp fiction consagrou uma imagem típica da ficção científica, a do cientista louco. Em geral é um pesquisador solitário, isolado da comunidade acadêmica, com delírios de grandeza e de poder sobre o resto da humanidade. Reúne traços de inventores obsessivos como Thomas Edison, empreendedores implacáveis como Steve Jobs ou Elon Musk, e autocratas como Vladimir Putin. O cientista louco da pulp fiction, é claro, é um cara tipo Dr. Silvana, é Lex Luthor, é o Dr. No... O cinema e a literatura de anos mais recentes têm abordado um tipo que acho muito mais interessante, em termos de dramaturgia, e mais próximo da nossa realidade. Podemos chamá-lo “o cientista excêntrico”, ou “o gênio fora-deesquadro”. Ele não é ambicioso, não é vilão, não sabe de política, não busca riqueza, não ameaça ninguém (a não ser ele mesmo, por descuido). É apenas um sujeito que vive num mundo mental próprio. Já abordei alguns destes personagens aqui, mas o tema me voltou agora após a leitura do romance The Housekeeper and the Professor (“Hakase no ai shita suushiki”, 2003) de Yoko Ogawa. Há uma tradução brasileira, A Fórmula Preferida do Professor (Estação Liberdade, 2017, trad. Shintaro Hayashi). Yoko Ogawa é uma escritora japonesa contemporânea, de quem li recentemente o ótimo Hotel Iris (1996), uma espécie de roman noir japonês sobre a relação mórbida entre uma adolescente e um homem mais velho. Este outro livro tem como foco também a relação de uma mulher mais jovem (uma criada doméstica de trinta e poucos anos) e um velho professor que sofre de amnésia parcial. A mulher vai servir de empregada na casa dele através de uma agência de empregos, e se depara com um homem idoso, considerado um gênio matemático. Ele sofreu um acidente e agora sua memória só consegue reter os últimos 80 minutos de sua vida. O Professor (assim chamado durante todo o livro) vive num “eterno presente” parecido com o de Leonard, o personagem de Guy Pearce em Amnésia (“Memento”, 2000) de Christopher Nolan. O personagem do filme tatuava e escrevia recados para si mesmo na própria pele. O Professor anota as informações essenciais em papeizinhos e os prega com alfinetes no terno. A relativa tensão na convivência entre a Empregada e o Professor decorre do seu distanciamento social bem japonês, bem respeitoso; e do fato de que todos os dias ela precisa se reapresentar a ele. O gelo começa a ser quebrado quando o Professor descobre que ela tem um filho de 10 anos que fica sozinho em casa esperando que ela volte do trabalho. O Professor é radical. Crianças merecem toda a atenção. Ele obriga a Empregada a trazer o filho do colégio e ficar com ela até o fim do expediente. O Professor começa a ajudar o garoto a fazer suas tarefas de casa. Os dois gostam de beisebol, e começam a trocar figurinhas”, enquanto o Professor fala de Matemática com tanto entusiasmo que a Empregada começa, por conta própria, a estudar a teoria dos números primos e outros capítulos abstrusos da Matemática Pura, seduzida pelo entusiasmo que ele demonstra. O livro não é um thriller, não tem peripécias, não tem suspense (a não ser os pequenos e ingênuos suspenses da vida banal de todos nós, talvez os únicos que venhamos a experimentar). É um estudo de delicadeza e de aproximação gradual entre pessoas muito diferentes. E do mistério de uma mente capaz de resolver problemas complicadíssimos de raciocínio mas que precisa todos os dias ser apresentado de novo às pessoas que lhe são mais próximas. O mundo mental do Professor me trouxe à memória (a minha ainda funciona, podem testar) o matemático do filme Pi (1998) de Darren Aronofsky. Neste caso, o matemático é mais jovem e mais amalucado. Max Cohen é um rapaz cujas viagens no mundo abstrato da alta Matemática o deixaram meio maluco, meio paranóico, profundamente convencido de estar a apenas um passo de desvendar os segredos fundamentais do Universo. São duas histórias muito diferentes, mas ambas nos dão um vislumbre do estado alterado de consciência que é a prática do raciocínio abstrato em alto nível. E não é somente a Matemática Pura. Um dos filmes mais intrigantes e “em surdina” que vi nos últimos tempos foi The Sound of Silence (2019, Michael Tyburski), em que um técnico de som dedica-se a gravar e analisar os sons produzidos numa grande metrópole (no caso, Nova York). Gravando e ouvindo, obsessivamente, ele desenvolve uma teoria que é uma espécie de “Feng Shui do som” – um modo de alterar o background sonoro de uma casa a fim de melhorar as condições psicológicas de quem mora nela. Peter Lucien, o personagem, não tem nada de doido nem de paranóico, e é interpretado por Peter Sarsgaard num diapasão contido e discreto que somente aos poucos vai nos fazendo resvalar para o mundo de obsessão e de monomania. Lucien é manso, educado, sensível; mas tem uma total incapacidade de explicar às “pessoas comuns” as coisas que vê, que pensa e que ouve. ("The Sound of Silence") Um dos ângulos mais fascinantes destas histórias é o fato de que esses cientistas excêntricos não são propriamente perseguidos nem ameaçados com as fogueiras da Inquisição. Eles simplesmente não conseguem fazer com que ninguém (nem mesmo as pessoas que os amam) entenda as descobertas prodigiosas que fazem. Li anos atrás um conto de Joyce Carol Oates, cujo título não recordo, em que um astrônomo idoso e sem família é cuidado por uma enfermeira ou governanta, numa situação parecida com a de A Empregada e o Professor. O astrônomo é tido como senil, caduco, mas inofensivo; e a criada o trata de acordo. Ele fala o tempo todo nos cálculos e nas descobertas prodigiosas que está fazendo; e ela, atarefada, limpando a poeira, responde no tom de “ah, que bom, professor, que bom que seu trabalho está dando certo, não esqueça de comer sua aveia”. Nas últimas páginas do conto o astrônomo está febril, enfraquecido, mas fica empurrando um maço de folhas de papel nas mãos da criada, dizendo que ligue para aquelas pessoas, aqueles telefones, explique o que está acontecendo, explique que ele fez uma descoberta que vai mudar o mundo, e ela, “ah, claro, professor, não esqueça de tomar seu remédio”. E o conto se encerra com uma dupla leitura extraordinária, porque ele tanto pode ser um velhinho caduco quanto um novo Einstein a quem ninguém dá ouvidos. 4992) Lupin e a pérola negra (15.10.2023) A série francesa Lupin voltou agora pelo Netflix, em sua terceira temporada. Houve um certo receio de que não voltasse, porque as duas primeiras temporadas mostraram o começo, meio e fim da aventura de Assane Diop (o “Arsène Lupin” moderno) para destruir a família do milionário Pellegrini, algoz de seu pai. A terceira temporada inicia uma aventura nova, “A Pérola Negra”, com o mesmo ótimo elenco, roteiros espertos e direção agradável. É um folhetim, e estas aventuras têm momentos dramáticos mas não buscam a tragédia, têm momentos engraçados mas não se pretendem propriamente cômicas. Vi algumas críticas às temporadas anteriores: “Ah, mas assim é muito fácil, alguém deixou uma porta destrancada, sem perceber, e ele fugiu...” Facilidades deste tipo fazem parte da dramaturgia do folhetim, que não tem que ser 100% plausível. Uma dramaturgia séria como a de Breaking Bad não poderia usar de forma tão relaxada a coincidência, ou o fato de que o herói possui justamente o recurso necessário (instrumento, informação, contato, amizade) que lhe permite sair de uma sinuca. O folhetim não é uma narrativa realista, é uma prestidigitação com acontecimentos. Uma série de truques, como os da magia de palco, onde sabemos muito bem que aquilo é impossível (a mulher não foi serrada ao meio, a água não virou confetes), mas aplaudimos a fluência com que a falsa magia é apresentada. Lupin emprega reiteradamente alguns efeitos narrativos que aumentam em muito o interesse do espectador, principalmente o espectador que leu os romances originais de Maurice Leblanc e a cada episódio lembra-se de um truque, uma situação, um golpe, um suspense que estavam nos livros e são agora recuperados em contextos diferentes, atuais. Os livros de Maurice Leblanc sobre Arsène Lupin foram sucesso absoluto entre 1905 e 1935. Há exatamente 100 anos ele estava publicando As Oito Pancadas do Relógio, um dos seus melhores livros, com oito contos em que Lupin (nessa época mais para detetive amador do que para simples ladrão elegante) decifra uma série de crimes. Incluí um conto desse livro, “A Morte na Praia” (“Thérèse et Germaine”) na minha antologia Crimes Impossíveis (Bandeirola, 2021). É típico do aventureiro Arsène Lupin estar numa das pontas de um triângulo complementado pela “polícia” e pelos “vilões”. Lupin não é o vilão. É apenas um desapropriador contumaz de fortunas mal ganhas. Quando ocorre um assalto ou um crime de grande repercussão, a polícia naturalmente o atribui ao “usual suspeito”, ou seja, ele. Lupin arregaça as mangas, mergulha por conta própria na investigação, decifra o mistério, ridiculariza a força policial, entregalhe manietado o criminoso, e foge com algum tipo de riqueza ou jóia com que se deparou no transcurso da aventura (ou pelo menos uma mulher bonita). Um dos charmes desta série de TV é que o herói original, um bonitão elegante com porte de Omar Sharif, é apenas a inspiração literária para Assane Diop (o ótimo Omar Sy), um negro enorme, simpático, atlético, de papo convincente, e com um talento para o disfarce que consegue atenuar (usando inclusive a “invisibilidade social” do negro) a extrema visibilidade de sua estatura. Um detalhe importante da série é a presença do policial Guédira, que tal como Diop é um fã dos romances de Maurice Leblanc, e os conhece a fundo. Isto é pretexto para um jogo de pistas e alusões em que Guédira percebe as intenções de Diop, mas não consegue explicar aos demais membros da polícia a importância das alusões literárias. Dessa maneira, existe um diálogo à distância entre o ladrão e o policial, uma “fanzice” compartilhada, com uma aproximação gradual que vem se estreitando ao longo da temporada. E que de certa forma “atualiza” a simpatia meio paternal que o Lupin original tinha pelo sofredor Inspetor Ganimard. (Omar Sy, como Assane Diop, e Soufiane Guerrab, como o policial Guédira) Dois recursos narrativos do roteiro da série (criada por George Kay e François Uzan) ajudam a dar dinamismo à situações mostradas – que, como é habitual no gênero dos “heist movies” ou “filmes de assalto”, precisam ter um pouco frouxas as rédeas da verossimilhança. O primeiro é o fato de que a narrativa conta em paralelo a vida adulta e a infância de Assane Diop (e nesta parte encontramos várias das pessoas que virão a ser importantes na sua vida de adulto). E muitas vezes, quando o Assane adulto está num beco sem saída qualquer, surge um flashback de sua infância mostrando que quando adolescente ele passou por uma situação parecida, deuse bem ou deu-se mal, mas aprendeu uma lição. Lição que agora põe em prática. (Mamadou Haidara, como o jovem Assane) O segundo recurso é uma espécie de “rewind” da narrativa. No momento crucial do perigo, surge uma interferência salvadora aparentemente “do nada” para resolver a situação. Nesse instante, a narrativa se interrompe, surge um letreiro tipo “Três dias antes...”, e só então entendemos como Diop tinha antevisto o perigo e preparado sua salvação. Lupin é uma série que teve a sabedoria de, ao invés de fazer uma série de época, de cem anos atrás, dando vida ao personagem, preferiu mostrar um Lupin atual, um leitor-fã com inteligência suficiente para se meter em aventuras semelhantes ao de seu personagem favorito. E de fazê-lo numa Paris de hoje, uma Paris multirracial, cheia de novas tensões sociais e de novas tecnologias. É interessante notar que este último aspecto já havia sido adotado pela série inglesa Sherlock (com Benedict Cumberbatch e Martin Freeman). Ali, os personagens originais foram “transplantados” para o presente. Holmes continua detetive – mas Watson é blogueiro. E se faz uma exploração intensa de celulares, computadores, GPS, internet, etc., ou seja, é necessária uma mudança estrutural em alguns enredos que se baseavam numa sociedade onde o telégrafo, o telefone e a fotografia eram o máximo de recursos high-tech à disposição. 4993) A pior sensação da vida (18.10.2023) (Manuel Bandeira) “A vida inteira que poderia ter sido e não foi”, pensou um dia Manuel Bandeira, durante um poema. Frágil, ameaçado pela tuberculose desde a adolescência, o poeta não tinha como não fantasiar outras vidas, o que aliás fez lindamente em “Vou-me embora pra Pasárgada”. Tanta coisa para viver, tantas aventuras, tantos prazeres! E a vida se resume ao esforço fatigante de preservar uma existência sem atrativos. Por isso, talvez, gente como Janis Joplin dizia preferir viver dez anos a mil-por-hora do que mil anos a dez. Janis conseguiu o que queria. A maioria das pessoas prefere viver pianinho, prefere pegar leve, poupar-se, mesmo que resignando-se a uma certa pasmaceira. E abrindo mão daquilo que a cultura-de-massas chama “a realização do seu sonho”. Paulo Coelho popularizou (não foi ele quem criou) a expressão “quando você vai atrás do seu sonho, o universo inteiro conspira a seu favor”. É uma frase eficaz no sentido motivacional, porque todos nós precisamos de uma aplicação de otimismo quando temos que encarar uma tarefa, mesmo algo simples como arrumar a escrivaninha ou lavar o banheiro de casa. É preciso acreditar que o objetivo vai ser atingido. Times de futebol, equipes de vendedores, grupos de militantes políticos, soldados no campo de batalha – todos eles precisam acreditar no sucesso, precisam da hipnose benéfica do otimismo. Esse tipo de auto-ajuda funciona de forma paradoxal, porque as pessoas conseguem acreditar ao mesmo tempo no livre-arbítrio (“eu tomei esta decisão e tenho certeza de que alcançarei meu objetivo”) e no destino (“está escrito que serei vencedor”). O que é compreensível: sempre que os fatos parecem desmentir um desses aspectos, basta-nos trocar de chave, e acreditar no outro. (Hugh Mac Leod) Hugh MacLeod, autor de livros de auto-ajuda, afirma (em Ignore Everybody): Toda pessoa foi trazida para a Terra com um Monte Everest privado para escalar. Talvez você nunca chegue ao pico, e isto é compreensível. Mas se você não fizer pelo menos um esforço sério para chegar ao cume nevado, anos depois você vai se ver deitado em seu leito de morte, e tudo que vai sentir é um enorme vazio. (trad. BT) A auto-ajuda consiste muitas vezes em reafirmar, com suas próprias palavras, algo que você leu e lhe pareceu fazer sentido. (Franz Kafka) Franz Kafka tem uma parábola famosa chamada “Diante da Lei”. Um homem chega diante de uma porta que dá acesso à Lei. Diante dela há um guarda enorme, ameaçador, que o dissuade de tentar entrar ali. “Depois desta porta há outra,” explica ele ao homem, “com um guarda ainda maior que eu, e depois outra ainda maior, e assim por diante; eu próprio não consigo olhar para eles sem ficar tomado de terror.” O homem hesita, acha que não vai ser capaz, e passa o resto da vida ali, ao pé da porta. Perto de morrer, ele chama o guarda e pergunta por que motivo, durante todos aqueles anos, não apareceram outras pessoas ali à procura da Lei. O guarda responde: “Porque esta porta existia somente para ti, e como agora vais morrer, terei que fechá-la”. A porta da Lei e o Everest privado são o mesmo conceito – existe algo que somente você será capaz de tentar, e não adianta tentar se beneficiar da experiência alheia ou do efeito manada, invadindo o recinto junto com uma multidão. As conquistas pessoais são solitárias, por definição. Dependem só de você. (Henry James) Henry James glosou este mote em sua misteriosa noveleta “A Fera na Selva” (1903). Seu protagonista, John Marcher, é um homem inteligente, pacato, metódico, que confessa viver à espera de um evento extraordinário que (por uma intuição qualquer) ele pressente estar à sua espera no futuro. Preparando-se para esse evento (que tanto pode ser uma epifania quanto um desastre), ele se poupa, se protege, evita embarcar em outros compromissos. E no final, nada acontece. O evento extraordinário talvez estivesse no seu caminho se ele tivesse se lançado à vida, ao invés de se proteger dela. (John Crowley) Ter medo da vida é doloroso. O que dizer de quem tem medo da literatura? John Crowley tem um conto, “Novelty”, na coletânea do mesmo nome (Foundation / Doubleday, 1989), cujo protagonista, um indivíduo cheio de ambições literárias, um dia se depara, dentro de si mesmo, com uma revelação acabrunhante. Muitos anos depois, ele percebeu que a diferença entre ele e Shakespeare não era propriamente de talento, mas de fibra. A capacidade de não se intimidar diante das idéias mais vastas ou mais poderosas e de simplesmente (simplesmente!) sentar-se à mesa e pôr mãos à obra. A terrível languidez que se apossava dele quando algo imenso e complexo tornava-se subitamente claro aos seus olhos, algo com as dimensões de um “Rei Lear” e a minúcia de um soneto. Se ao menos não desabasse sobre ele assim, de uma vez, tudo tão monumental e tão perfeito, deixando-o amedrontado e frouxo diante da perspectiva de articular tudo aquilo, cena por cena, página por página!... (...) Gemendo como um fantasma desprezado, a idéia grandiosa ruflava as asas e sumia no vazio. (trad. BT) Alguns autores são assim, capazes de se maravilhar (e se aterrorizar) com as dimensões de uma empreitada. Outros são mais pragmáticos. (Thomas Carlyle) Conta-se que Thomas Carlyle recebeu de seu colega John Stuart Mill, em 1834, a encomenda da redação de uma história da Revolução Francesa. Mill recebera essa proposta mas não tinha condições de executá-la. Carlyle aceitou, e pôs mãos à obra. Depois que concluiu o livro (cuja edição atual tem cerca de 800 páginas), enviou o manuscrito para Stuart Mill. Na casa deste, por engano, uma criada pegou o pacote com o manuscrito e o queimou, achando que era destinado ao lixo. Quando recebeu a notícia, Carlyle sentou-se à mesa, pegou pena e tinteiro, escreveu “Capítulo 1”, e refez o livro por completo. 4994) Fellini: as mulheres e as luzes (21.10.2023) O cinema de Federico Fellini sempre circulou em torno de meia dúzia de temas, e um dos mais constantes é o que hoje chamaríamos de show business, mas na Itália onde ele se tornou diretor tinha o nome de varietà. É o nosso teatro de variedades, centrado não numa obra dramatúrgica mas numa sucessão de pequenos esquetes ou entremezes, números musicais, números de mágica de salão, quadros humorísticos, danças, contação de piadas (o que hoje chamamos de stand-up comedy) e assim por diante. É o mundo dos artistas mambembes, das companhias ambulantes que vão de cidade em cidade na esperança de faturar uns trocados enquanto vivem o "momento mágico do palco”, que para muitos deles, pobretões e esfomeados, parece ser paga suficiente. Este primeiro filme de Fellini foi dirigido em parceria com o mais experiente Alberto Lattuada. Luci del Varietà (“Mulheres e Luzes", 1951) é a história de Checco dal Monte (interpretado por Peppino de Filippo), uma mistura de canastrão e dono-de-companhia, e sua trupe de artistas mambembes, viajando de trem (e de carroça, e a pé) pelas cidadezinhas do interior. Checco se apaixona por Liliana, uma moça bonita (Carla del Poggio) doida para virar artista; e causa uma grande decepção em Melina – Giulieta Masina no papel da mulher um pouco mais velha, mais vivida, mais realista, e que lê com olhos de raios-X o entusiasmo do companheiro pela nova estrela da companhia. Não muito distante (pela data, inclusive) daquelas chanchadas nacionais em que o trêfego Zé Trindade, casado com a ameaçadora Violeta Ferraz, ficava todo de risadinhas e salamaleques rumo a vedetes como Anilza Leoni e outras. Se o tema for do interesse de algum leitor, sugiro ver The Travelling Players, de Theo Angelopoulos (1975), filme grego que acompanha um grupo similar de vaudeville ambulante, desta vez na Grécia, e com um viés trágico percorrido pela II Guerra e a ditadura militar que foi imposta ao país logo depois. Há cenas em que Angelopoulos parece estar citando diretamente o filme de Fellini/Lattuada – o dia nasce e os atores andam de rua afora, sonolentos, malas na mão, rumo à estação do trem e à próxima aventura de bilheteria. (The Travelling Players) Não é a única referência que me veio à mente quando vi agora Mulheres e Luzes. Aqui, a primeira dança da bela Liliana, ainda sem jeito, ainda uma estranha na companhia, acaba provocando aplausos quando sua roupa se rasga. O número, incorporando o detalhe, torna-se sucesso nas noites seguintes. Em Viva Maria (1965, Louis Malle) acontece algo semelhante nos primeiros números de dança da amadora Maria II (Brigitte Bardot) com a profissional Maria I (Jeanne Moreau). Os críticos têm comentado também a semelhança do enredo com o de A Malvada (“All About Eve”, 1950) – a atriz jovem, bela e ambiciosa que rouba o marido e a carreira de uma atriz mais experiente. Fellini e Alberto Lattuada, os dois diretores, colocaram suas respectivas esposas (Giulieta Masina e Carla del Poggio) nesses papéis, mas ao contrário do filme norte-americano a ênfase deles é no personagem masculino, em que Peppino de Filippo arrasta a asa à jovem enquanto é ridicularizado por todo o mundo. “Quebrando” uma companhia atrás da outra, Checco dal Monte se endivida, mete os pés pelas mãos, mas não desiste nem da beldade (que o explora até não poder mais) nem do palco. Vem daí uma das cenas famosas do filme. Desalentado e sem grana, impedido de entrar na pensão onde estava em dívida, ele caminha de madrugada pelas ruas desertas da cidade, na companhia de um norte-americano negro, trumpetista, um dos muitos soldados do exército dos EUA que se deixaram ficar na Itália depois do fim da guerra. Os dois se deparam com uma moça ao violão (apresentada como “a grande artista brasileira, Moema”) que não é outra senão Vanja Orico, que poucos anos depois ficaria famosa aparecendo em O Cangaceiro (1953), de Lima Barreto. (Vanja Orico) É curioso ver no filme de estréia de Fellini uma cantora entoando “Meu Limão, Meu Limoeiro” em puro português. Não é surpreendente, no entanto – é bom lembrar que a década de 40, entrando pela de 50, foi o auge do baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, e muitos filmes estrangeiros da época incluíam canções brasileiras em sua trilha. Foi também o caso de Noites Brancas (1957) de Luchino Visconti, onde escutamos “Muié Rendeira”, a composição de Zé do Norte tornada famosa em O Cangaceiro. E o próprio Lattuada viria a incluir em seu Anna (1951) um nímero musical cantado por Silvana Mangano, “El negro Zumbón”, um dos mais conhecidos baiões compostos fora do Brasil – a música é de Armando Trovajoli, grande “trilheiro” do cinema italiano, e letra de Francesco Giordano. Aqui, “Meu Limão, Meu Limoeiro”: https://www.youtube.com/watch?v=CoKUmGP9FCw&ab_channel=gelsomminn a E aqui, “Sodade, Meu Bem, Soidade” (O Cangaceiro): https://www.youtube.com/watch?v=_rqMBScsrgY&ab_channel=RADIOSANTO S%28REM%29 Fellini, mesmo em seu primeiro filme (e um filme co-dirigido por um amigo mais experiente) já era o cineasta do grotesco e do bizarro. Encontrei aqui neste filme uma cena de submundo que seria depois recriada na tela pelo carioca Miguel Borges. São os homens que “dormem na corda”, ou seja, sentados num banco comprido e debruçados sobre uma longa corda amarrada horizontalmente. Quando o dia amanhece, o dono do pulgueiro desamarra a corda, todo mundo tomba para a frente, levanta e vai embora. E há a cena inesquecível de quando a companhia de vaudeville se apresenta numa cidadezinha e desperta a simpatia de um ricaço local, que convida a todos para jantar, na esperança de exibir seus próprios dotes artísticos (cantando o “Figaro”) e de tirar uma casquinha da desejada-das-gentes, Liliana. A companhia está esfaimada, e o jantar é uma longa cena em que a câmera percorre a mesa mostrando uma dúzia de rostos que mastigam com concentração, voracidade e êxtase, sem trocar uma palavra sequer. 4995) Cada qual com as suas manias (24.10.2023) (Seu Nilo) Toda pessoa tem direito a uma mania mansa, uma mania inofensiva, algo que na pior das hipóteses consome seu tempo livre e uma fatia de seu orçamento. Tem gente que coleciona chaveiros, latas de cerveja, cartões postais, selos. Tem gente que coleciona recortes de jornal. Tem gente que anota resultados de futebol, de eleições, de corridas de cavalos. Meu pai era charadista e cruzadista, ou seja, gostava de resolver (e criar) charadas e problemas de palavras cruzadas nas muitas revistas que comprava todo mês, como Brasil Enigmista ou A Recreativa (para ele, Coquetel e congêneres eram para crianças ou amadores.) Eu contraí esse vírus, e ainda hoje tenho que me conter quando vejo uma “grade” cruzadista pela frente. Por volta de 1960 ele cismou de criar um dicionário de palavras cruzadas, e começou a anotar definições em pequenas fichas pautadas para as quais ele próprio construiu uma porção de gavetinhas de madeira. Não lembro qual era o viés do dicionário; acho que eram palavras organizadas pelo número de letras. Ele dava a mim e a minha irmã Clotilde um “agrado” monetário para a gente copiar definições das dezenas de dicionários que tinha na estante. Aquilo exigia tempo, aquilo ocupava muito espaço, desarrumava a casa, e eu teria uns dez anos quando por motivos que nunca entendi ele desistiu do trabalho e mandou que a gente rasgasse tudo. Eu, que me divertia copiando as fichas, me diverti rasgando-as. Meu pai era expansivo e piadista quando estava de bom humor, mas quando ficava contrariado fechava-se, virava uma ostra, uma esfinge. Cada pessoa tem seu temperamento. O dele era de não fazer confidências, o meu é de não fazer perguntas. Nunca me passou pela cabeça, a não ser postumamente, chegar para ele e perguntar: “Por que o senhor desistiu do dicionário?”. Outra mania que ele tinha era o futebol, e esta eu herdei de corpo inteiro. Ele se entusiasmou loucamente com a Copa do Mundo de 1958, e comprava todas as revistas que traziam matérias sobre a Copa da Suécia: Manchete Esportiva, Fatos & Fotos, A Gazeta Esportiva Ilustrada... (Acho que a Revista do Esporte, em formato menor, só surgiu depois.) Não só comprou como encadernou todas. E para mim a Copa de 1958 (cuja comemoração em tempo real presenciei meio aturdido, porque tinha apenas 7-8 anos) se transformou depois numa aventura literária. Eu pegava um daqueles enormes volumes encadernados, sentava no sofá, e passava uma manhã inteira lendo as detalhadíssimas reportagens sobre cada jogo, com mil fotos, diagramas ilustrativos de cada gol da Seleção, cartuns, piadas, entrevistas... e as páginas assinadas pelos irmãos Nelson Rodrigues e Mário Filho. Em 1961 nos mudamos triunfalmente para a “casa própria”, no bairro do Alto Branco. Nesse tempo meu pai já tinha tantos livros que a mudança foi feita em dois dias: no primeiro dia, uma camionete levou os livros, e no dia seguinte veio o resto da casa. O primeiro dia foi épico. O Alto Branco era (ainda é) uma colina muito úmida, com muita água à flor da terra, muita lama. A camionete atolou a 100 metros da casa, e atraiu a curiosidade de dezenas de garotos desocupados. Minha mãe, atarefada e expedita, coordenou uma força-tarefa com promessa de níqueis e lanches. A vizinhança ficou assistindo a caravana de guris descalços que sobraçavam pilhas de livros e os levavam ao seu destino final, voltando na carreira para buscar mais. “Ah, Fortuna inviolável!...” A casa não era muito grande, os livros atravancavam tudo, mas havia uma garagem e meu pai nunca dirigiu carro, de modo que ergueram na garagem uma parede e uma porta. Os livros desceram para lá. A umidade porejava das paredes. Em poucos anos, as coleções de Manchete Esportiva etc. foram sendo corroídas por manchas de mofo. Era um papel-jornal barato, vulnerável. Enormes crateras esverdeadas se abriam no sorriso largo de Vavá, no choro de Pelé abraçado a Gilmar, na calma hitchcockiana de Vicente Feola, no cigarro no canto da boca de Nelson ao comentar “Meu Personagem da Semana”. E a coleção de dezenas de volumes capa-dura foi trasladada melancolicamente para o lixo, enquanto eu reprimia os inevitáveis trocadilhos tipo “o mofo deu”. Meu pai nada dizia (pelo menos na minha frente). Acendia um cigarro e olhava a paisagem. Devo ter herdado um pouco disso tudo, não só das manias como do estoicismo. Não sei onde foram parar as centenas de fichas técnicas de filmes que anotei em meus tempos de cineclube (Diretor/Produtor/Roteiro/Música/Fotografia/Elenco), nem os cadernos os jogos onde copiava com fervor religioso incontáveis do Treze (data/local/juiz/renda/gols do 1º. Tempo/gols do 2º. Tempo/placar final/escalação do time). Perderam-se ao longo das minhas muitas mudanças de cidade em cidade. Espalharam-se com meus livros de bolsos, minhas revistas de contos policiais, meus Argonautas, meus Vampiros, para não falar nas pilhas de Pasquim, Opinião, Movimento, Versus, Flor do Mal, Rolling Stone... Meu tesouro se espalhou pelo tempo afora, tal como o Tesouro de Agra que hoje repousa no fundo do Tâmisa. Quando alguém vem na minha casa e diz: “Puxa vida, você tem muitos livros, e acumula muito papel”, eu respondo baixinho: “Isto é apenas a ponta de um iceberg que derreteu”. Todo maníaco é um obstinado, dizem os tratados médicos. Meu pai não desistiu e durante a década de 1970 iniciou um novo projeto faraônico: o Dicionário do Que, um dicionário inverso que ele datilografou em stêncils e rodou no mimeógrafo-a-tinta que mantinha no quarto dos fundos da casa do Alto Branco. Cabe aqui, para os leigos (as pessoas normais) uma explicação sobre os dicionários inversos. Quando a gente vai resolver uma “palavras-cruzadas”, a gente se depara com uma definição que nos encaminha para a resposta. “Pedra de sacrifício”, é o que nos pedem: e a gente cedo ou tarde descobre que é “ara”. Minha iniciação à obra de Sigmund Freud veio ao descobrir que “o substrato instintivo da psique” é “id”. Ora, muitas dessas pistas se iniciam pela palavra “Que”, esse coringa verbal que é para nosso idioma um problema e uma solução. “Que tem duas pernas” = não demoramos muito a entender que a palavra é bípede. Entretanto, os dicionários comuns são organizados em função da palavras, e não de suas definições. Sem saber a palavra, jamais encontraremos a definição-pista. Vai daí que os cruzadistas dedicam-se a compilar “dicionários inversos”, organizados a partir das definições, e indicando no fim a palavra correspondente. Meu pai se dedicou a organizar todas as definições começadas com “Que...”, um projeto babélico, borgiano. Bem ou mal, ele produziu alguns volumes mimeografados, que distribuiu entre seus confrades da TERNOR (Tertúlia Nordestina), um grupo de aposentados bonachões que se dedicava ao mesmo passatempo. Corta para a década de 1990, eu já morando no Rio de Janeiro, trabalhando como redator da TV Globo. Discutíamos pautas para os programas, e alguém sugeriu uma matéria sobre clubes de decifradores de charadas e palavras cruzadas: “é um pessoal excêntrico, mas simpático”. Eu me ofereci para pesquisar, e certa tarde bati à porta de um desses clubes, numa transversal da Av. Rio Branco. Havia dois ou três senhores conversando, entre poltronas, estantes e um balcão. Expliquei que era da TV (o que sempre produz um alvoroço de solicitude), estava fazendo uma matéria... Mandaram-me sentar, crivaram-me de perguntas. Tive que demonstrar o meu conhecimento do assunto – e olhe, nunca me faço de rogado nesse departamento. Quando falei que meu pai pertencia à TERNOR, soltaram exclamações de familiaridade. – Qual o pseudônimo dele? – perguntaram. (Todo charadista se assina com pseudônimo, mesmo que sua identidade seja conhecida de todos). Respondi: – “Pequeno Polegar”. Ele inclusive compilou um dicionário inverso, chamado Dicionário do Que. Os caras arregalaram os olhos. Um deles foi à estante e não demorou a trazer o volume com capa de papelão, que folheei e reconheci, comovido. Apertaram minha mão, serviram-me cafezinho, responderam tudo que perguntei. A matéria da TV acabou saindo de pauta, mas aquela tarde foi ganha. Não estou sendo demagógico se disser que ver um livro meu na vitrine de uma livraria carioca me dá muito prazer, mas ainda menos do que tive ao encontrar naquela salinha modesta o resultado da mania mansa de Seu Nilo, e a vindicação das muitas noites que passou compilando (sem ambição de glória, sem cobiça de fortuna) o seu livro de areia. 4996) Os segmentos de estória de Roberto Bolaño (27.10.2023) Passou pelas minhas mãos o livro póstumo de Roberto Bolaño El Gaucho Insufrible, uma coletânea de contos e ensaios curtos, já com tradução e edição brasileira à vista. (Li na edição omnibus da Anagrama, Barcelona, 2010, onde o livro vem em conjunto com Llamadas telefónicas e Putas asesinas). Bolaño tem uma prosa líquida, fluente, aparentemente espontânea, um estilo de escrever que muitas vezes parece sair pronto do teclado, sem maior esforço que o de digitar. Não que lhe seja estranha a prosa mais elaborada, mais tensa, cheia de imagens imprevistas, de reviravoltas inesperadas no modo de pensar e de expor. Na maioria dos casos, no entanto, ele dá a impressão de que escrevia e mandava direto para a gráfica. O que é sempre ilusório. Parecer espontâneo dá muito trabalho. Outro traço típico dele é o modo como ele parece evitar de propósito os finais espetaculares, dramáticos, catárticos. Apesar de se dizer um fã de Edgar Allan Poe, neste aspecto ele vai na contramão do mestre. Seus contos estão mais para o efeito de Tchecov: a descrição de uma série de eventos que, ao invés de conduzir a um evento final retumbante, vai se diluindo em eventos menores e menos expressivos, como uma fumaça que se dissipa no ar. Em El Gaucho Insufrible temos contos nos dois modelos. E temos um exemplo de conto fantástico ou alegórico, não típico do autor, que é “El policía de las ratas”, uma fábula zoológica que ele deriva explicitamente de “Josefina, a cantora, ou o povo dos ratos”, de Franz Kafka. O rato narrador é um policial a quem cabe investigar uma série de crimes misteriosos que estão ocorrendo nos esgotos onde a rataria vive. Bolaño era um leitor atento e inteligente de poesia, de prosa, de ficção científica e romance policial. O livro se conclui com dois textos que na verdade são agregados de fragmentos curtos de apreciação literária: “Literatura + enfermedad = enfermedad” e “Los mitos de Cthulhu”. Este aqui não tem nenhuma menção a Lovecraft. O título é apenas uma isca, um clickbait, para que o leitor-de-gênero o leia antes de todos os demais. Os dois melhores contos são duas histórias longas com enredo bem ao gosto de Bolaño: um protagonista que vai entrando aos poucos num trajeto de acontecimentos onde cada evento novo conduz a uma situação que o precipita noutro evento imprevisível, e assim por diante. O protagonista parece não saber muito bem o que pretende, e quando o sabe parece não estar ansioso para alcançar seu objetivo. Deixa-se levar meio passivamente, como um daqueles personagens para-existencialistas dos romances policiais noir. “Deixa a vida me levar, vida leva eu.” O primeiro conto é o que dá o nome ao livro. “El gaucho insufrible” transcorre na Argentina e conta as peripécias da vida de Héctor Pereda, advogado bem sucedido, viúvo, com um casal de filhos adultos. As crises políticas e econômicas do país o levam a abominar a cidade tumultuada e refugiar-se no campo, numa propriedade remota a que nunca dera muita atenção. Ali, como tantos urbanóides, ele tenta se adaptar a uma vida mais pura, mais simples, no meio de vaqueiros e camponeses rudes, que o tratam com respeito mas veem com estranheza seus rompantes gastadores, seu paternalismo jovial. A vida de Pereda vai se tornando uma sucessão de empreitadas bem ou mal sucedidas, enquanto ele se recusa a tornar a Buenos Aires. Os filhos, e alguns amigos, empreendem a longa viagem até sua estância para tentar trazê-lo de volta ao mundo civilizado. Ele tenta restaurar casarões, caça coelhos (uma verdadeira praga do lugar), espanta-se com a vastidão aterradora do pampa. A mulher e as crianças puseram-se a caminhar por uma rodovia e embora se afastassem e suas figuras fossem se tornando diminutas passaram-se mais de três quartos de hora, calculou o advogado, até que desaparecessem no horizonte. É redonda a Terra?, pensou Pereda. É claro que é redonda, respondeu a si mesmo. (trad. BT) No final, depois de anos de pesadelo campesino, ele volta a uma Buenos Aires que não reconhece mais, caminha a esmo pelas ruas, pára diante das vidraças de um café de escritores que frequentara no passado, e sente-se ali como uma espécie de extraterrestre, ou, como diria Fernando Pessoa, “um estrangeiro aqui como em toda parte”. O outro conto tem um perfil de quest, de demanda, e também de investigação, lembrando os obsessivos “detetives selvagens” do romance do mesmo título, à caça de uma pessoa que parece nunca ter existido. “El viaje de Álvaro Rousselot” parte de um início enigmático. Rousselot, escritor argentino, publica um romance intitulado Soledad que acaba sendo traduzido ao francês. Pouco depois, aparece na França um filme, Las voces perdidas, dirigido por Guy Morini, que parece um plágio descarado do romance. Rousselot se inquieta, mas deixa passar. Publica um romance policial, torna-se medianamente famoso, e em seguida um romance humorístico, Vida de recién casado, que é bem recebido pelo público. Logo em seguida, contudo, surge nas telas um novo filme, de Guy Morini: Contornos del día, que é uma versão fiel mas melhorada do livro mais recente de Rousselot. Começa então o périplo do escritor, que reúne suas economias e, a pretexto de comparecer a um evento literário na Europa, escapa rumo à França e entra numa investigação (desajeitada, incompetente, cheia de surpresas agradáveis e outras nem tanto) em busca do elusivo Guy Morini. Não se sabe bem para quê; para tomar satisfações? Processá-lo? Beber com ele? Crivá-lo de balas? Rousselot viaja, inquire, telefona, pega ônibus e trens, e ele mesmo não tem uma idéia do que fará quando se deparar com seu plagiador. Muitos contos de Bolaño têm esse enredo que nos dá a impressão de que, tal como seu personagem, o escritor não sabe muito bem para onde está se dirigindo e todo dia, ao sentar-se para escrever, vai tecendo episódios menores que conduzem a episódios mais longos, que não dão em nada mas lhe permitem dobrar uma esquina do enredo e conduzir a investigação (a invenção da estória) num rumo imprevisto. É uma leitura desconcertante para os leitores formatados pelos manuais de roteiro televisivo e pela estética do romance onde tudo conduz a alguma coisa, tudo se amarra, tudo tem função, tudo tem uma resposta mais adiante. Bolaño, quando envereda por este tipo de narrativa, nos leva de árvore em árvore sem muita intenção de revelar (ainda que a si mesmo) o formato da floresta. Seus contos se parecem ao que os matemáticos denominam “um segmento de reta”. Uma linha reta (conceitualmente) não tem começo e não tem fim, de modo que é preciso atribuir-lhe (para efeito de uma demonstração qualquer) o começo A e o final B. Os contos do chileno são pura travessia, e se esvaem ou se interrompem bruscamente sem que suas principais perguntas tenham obtido resposta. Como a vida. A do próprio Bolaño, por exemplo. 4997) Drummond: "Sesta" (30.10.2023) Nos poemas de Alguma Poesia (1930), o livro de estréia de Carlos Drummond de Andrade, este aqui faz parelha, ou faz grupo, com “Infância”, “Cidadezinha qualquer”, “Família”, “Iniciação amorosa”... São as descrições da rotina familiar que não muda, a rotina modorrenta, naquele cansaço de não fazer nada, em que paisagem, família, adultos, crianças, criadas e animais parecem se nivelar num mesmo estado de sonambulismo. A “poesia de infância” de Drummond, em seus primeiros livros, vagueia o tempo todo entre a saudade afetuosa de um “tempo bom” e a ironia cáustica dos modernistas contra qualquer manifestação de sentimentalismo água-comaçúcar. Ter saudade de uma infância feliz é um sentimento singelo que deveria estar protegido pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas o fato é que a nossa poesia do século 19 (de Gonçalves Dias a Casimiro de Abreu) carregou um pouco nas tintas. Era preciso um antídoto. O Modernismo de 1922 forneceu esse antídoto, e ele veio muitas vezes dentro da ampola da crítica social, uma poderosa medicação-de-choque contra a nostalgia adocicada. Drummond mostra isso repetidamente, e seus poemas sobre “a família mineira” são misturas nem sempre sutis entre a lembrança boa e a crítica contaminada de sarcasmo. Não podemos esquecer que estes poemas (do livro Alguma Poesia, 1930) são poemas de um rapaz de 28 anos, momento de ingresso na vida adulta, em que a palavra infância não traz muito saudosismo. Ela é apenas um contratempo que foi enfrentado e vencido, como a catapora e os dentes-de-leite. Na velhice, a partir da série Boitempo (Boitempo, 1968; Menino Antigo, 1973; Esquecer Para Lembrar, 1979), o poeta se descontraiu. Tratou o sentimentalismo como um chinelo velho e confortável, e ao mesmo tempo não perdeu o gume da observação. “Sesta” é dedicado a Martins de Almeida (1903-1983), companheiro de geração de Drummond, a geração de poetas de A Revista. Nascido em Leopoldina, fazia parte do grupo de rapazes belorizontinos encantados com a literatura francesa de sua época. Numa reminiscência de coluna de jornal (Tribuna da Imprensa, 26-10-1977, p. 9) Hermenegildo de Sá Cavalcante descreve a chegada de um livro de Marcel Proust à Livraria Francisco Alves, do livreiro Kneipp, ponto de encontro dos jovens e entusiasmados poetas: No primeiro desembarque de 1920, chegara o Prêmio Goncourt do ano anterior. (...) O bando atacou o caixote. Empunhava martelo e pé-de-cabra o risonho Francisco Martins de Almeida. Iniciada a operação salta um pacote que vai tombar aos pés de um moço de olho vivo e ar tímido, mas atilado leitor e hábil tipógrafo. Era Eduardo Frieiro. Rápido, apanha-o e sobraçando o embrulho sai correndo para o fundo da loja. Mal aberto, grita: -- É o Goncourt, pessoal! Mais quatro moços atiraram-se em seu encalço e arrebataram os exemplares: Milton Campos, Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade e Alberto Campos. O relato completo está aqui: https://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=154083_03&pagfis=292 22 Foi nesse clima de busca-do-tempo-perdido e de zoeira inofensiva que Drummond foi se descobrindo poeta, e foi compilando seu livro de estréia. “Sesta” é esse retrato afetuoso e meio debochado da “família mineira”, instituição tão primordial quanto os elementos químicos. A expressão “família mineira” é usada quatro vezes, com insistência proposital. Está aqui a fala coloquial que o Modernismo impôs à sensibilidade greco-romana dos parnasianos e simbolistas: “quentando”, “pereba”, “corta ele, pai”. Aqui está o mundinho provinciano, fechado em si mesmo: “Os olhos se perdem / na linha ondulada / do horizonte próximo / (a cerca da horta). / A família mineira / olha para dentro.” Existia nesses jovens a necessidade de ruptura com o Passado, peso que continuava asfixiando o presente. Sesta A Martins de Almeida A família mineira está quentando sol sentada no chão calada e feliz. O filho mais moço olha para o céu, para o sol não, para o cacho de bananas. Corta ele, pai. O pai corta o cacho e distribui pra todos. A família mineira está comendo banana. A filha mais velha coça uma pereba bem acima do joelho. A saia não esconde a coxa morena sólida construída, mas ninguém repara. Os olhos se perdem na linha ondulada do horizonte próximo (a cerca da horta). A família mineira olha para dentro. O filho mais velho canta uma cantiga nem trite nem alegre, uma cantiga apenas mole que adormece. Só um mosquito rápido mostra inquietação. O filho mais moço ergue o braço rude enxota o importuno. A família mineira está dormindo ao sol. Numa das reminiscências do livro Confissões de Minas (1944), “Recordação de Alberto Campos” (com a anotação de ter sido escrita em 1933), Drummond lembra desses amigos de juventude e comenta: Um recuo de dez anos projeta no presente esse grupo que em 1923 procurava o caminho, e no qual a presença dele [Alberto Campos] operava como um elemento de crítica vivaz e mordente. (...) Mas não éramos felizes. Fomos as primeiras vítimas da nossa própria ironia, e, impiedosos com o próximo, não nos perdoávamos a nós mesmos nenhuma fragilidade. O nosso compromisso, que era o de não assumirmos nenhum, impunha-nos disciplinas severas. A voluptuosa disponibilidade deixava de ser uma condição edênica para constituir fonte contínua de angústias. Era uma geração sofrida, reflete Drummond, que não teve “o respeito aos mestres nem a ilusão dos discípulos”. 4998) A última canção dos Beatles (3.11.2023) Este título está um pouco melodramático, mas é apenas para servir de clickbait (=isca de cliques) e para marejar os olhos dos mais suscetíveis. Sendo o Mercado o que é, e sendo os Beatles o que foram, não duvido que daqui a cinco ou dez anos apareça alguma nova tecnologia capaz de fazê-los não apenas cantar juntos de novo, mas quem sabe até compor juntos. Nunca duvidem dessa junção: Mercado & Tecnologia. É uma dupla mais inventiva do que Lennon & McCartney. Nada mais adequado do que a última canção que reúne os quatro Beatles (dois deles já mortos) seja uma reconstrução eletrônica de uma gravação caseira. “Now And Then” foi uma fita demo gravada por Lennon em seu apartamento no edifício Dakota. Não pôde ser aproveitada para o projeto Anthology, de 1995, por problemas técnicos. Na época, era impossível eliminar os ruídos e fazer a separação entre voz e piano. Problemas que só puderam ser resolvidos agora. Dizem que McCartney deu uma mexida na canção, eliminou trechos, cortou e emendou pontas. Está certo. Era assim que os dois compunham. Ninguém compõe versões definitivas das canções; chega-se a elas por aproximações sucessivas. Esta música, lançada curiosamente no Dia de Finados (2 de novembro de 2023), vem se juntar a dois projetos excepcionais e recentes. O primeiro é o documentário Get Back, em três partes, dirigido por Peter Jackson a partir das gravações do álbum Let It Be. O segundo é a série McCartney 3, 2, 1, em que Paul e o produtor Rick Rubin conversam sobre a música criada pelo grupo. Antes de ouvir a música, vale a pena ver o curta de 12 minutos onde se narra a sua produção: https://www.youtube.com/watch?v=APJAQoSCwuA&ab_channel=TheBeatlesV EVO “Now And Then” não se parece muito com o Lennon da época dos Beatles. É tipicamente o Lennon do Edifício Dakota em seus momentos mais introspectivos e melódicos. Lembra certas faixas de Walls & Bridges (“Bless You”) ou Imagine (“Jealous Guy”). Canções lentas, puxadas pela melodia do piano, distantes do Lennon roqueiro de guitarra em punho. Numa entrevista, perguntaram a Lennon qual era seu principal talento como músico. Ele disse: “Sou bom na guitarra-base. Sei fazer uma banda pulsar.” “Yesterday” foi uma virada-de-esquina na obra dos Beatles, porque permitiu a Paul McCartney desdobrar-se em “homem dos sete instrumentos”, indo para além do esquema guitarra-baixo-bateria e passando a utilizar todos os recursos que herdou de seu pai, Jim McCartney, ex-líder da “Jim Mac’s Jazz Band”. Sem essa virada, não haveria canções como “She’s Leaving Home”, “Honey Pie”, “Martha My Dear”... Uma coisa que perdemos de vista às vezes é que grande parte dos grandes compositores de rock se viravam muito bem ao piano. As composições de Lennon pós-Beatles denotam essa convivência com o instrumento. “Now And Then” pertence a essa vertente lírica, melódica, intimista, sem a preocupação de “fazer uma banda pulsar”. Uma espécie de “lado B” do Lennon eletrificado e explosivo de “Whatever Gets You Through The Night”, “Instant Karma”, “Cold Turkey” e por aí vai. Um aspecto interessante desta “nova-velha” canção é sua letra – em princípio uma letra de amor, sem novidades poéticas. Mas dadas as circunstâncias excepcionais em que a canção foi recomposta e lançada ao público, é possível fazer uma leitura metalinguística de seus versos iniciais. A letra em inglês diz: I know it's true, it's all because of you And if I make it through, it's all because of you And now and then, if we must start again Well, we will know for sure that I love you Basta deslocar esse “you” que dramaturgicamente se dirige à mulher amada, e imaginar que essa voz é a voz de Lennon, dirigindo-se aos seus três parceiros. Eu sei que é verdade, é só por causa de vocês. E se eu conseguir, é só por causa de vocês. E, tanto agora quanto naquela época, se formos recomeçar, bem, saberemos com certeza que eu amo vocês. “Now and then” é uma expressão coloquial que significa “de vez em quando”, “vez por outra”, etc., mas também “agora e naquele tempo” – ou seja, no momento atual (apenas dois sobreviventes, com mais de 80 anos) e naquele tempo em que eram jovens e Beatles. Um tempo que o próprio George Harrison celebrou na canção “All Those Years Ago” (1981). “All Those Years Ago”: https://www.youtube.com/watch?v=eNL40ql4CYk&ab_channel=GeorgeHarrison Estes versos podem ser lidos como se Lennon estivesse falando, através do Universo, e agradecendo aos amigos que conseguiram trazê-lo de novo para cantarem e tocarem juntos. Trazer de volta (artificialmente) pessoas já falecidas é um tema antigo da ficção científica, e estamos caminhando para lá. 4999) "O Conde": o vampiro Pinochet (6.11.2023) O filme de vampiros mais original e mais bem realizado dos últimos anos não veio dos estúdios ingleses da Hammer Films nem de Hollywood. Veio do Chile, e faz uma inesperada (mas plausível) junção do general Augusto Pinochet com a estirpe imortal dos Nosferatus. O filme está disponível em streaming no Netflix. O diretor Pablo Larraín gosta de abordar a vida de personagens históricos e darlhes uma guinada interpretativa, como fez com Jacqueline Kennedy-Onassis em Jackie (2016), com a Princesa Diana em Spencer (2021), com o poeta Pablo Neruda em Neruda (2016) e possivelmente em outros. Essa maneira desabusada de tratar a História é elevada ao cubo em El Conde, onde Pinochet é transformado numa espécie de Conde Drácula. No filme, Pinochet é francês e já é vampiro desde a época da Revolução Francesa. Depois da queda dos reis (ele lambe a guilhotina que decapitou Maria Antonieta) dedicou-se a reprimir revoluções pelo mundo inteiro até chegar ao Chile. “Mas o general Pinochet não morreu em 2006, aos 91 anos?...” Aparentemente sim: o diretor mostra este episódio (incluindo a cusparada que um oficial deu no vidro do caixão durante o velório). Por baixo do pano, contudo, o velho vampiro recolheu-se clandestinamente a sua fazenda numa ilha distante. Ali, dispõe de enormes frigoríficos com corações humanos trazidos de suas expedições noturnas. O Conde Pinochet bate um coração no liquidificador com a nonchalance com que um baiano bate um abacate. O filme de Pablo Larraín parte dessa premissa bizarra (mas emocionalmente tão plausível!) e constrói um filme que não hesito em classificar na minha rubrica de “Filme B Para Intelectuais”. Por que? Um filme “B”, por definição, é um filme que não tem as grandes expectativas de retorno financeiro que estrangulam filmes “A” como Titanic ou Avatar. É um filme que tem como horizonte de sucesso pagar as próprias despesas e provocar um certo rebuliço na audiência. O rebuliço é previsível no Chile, onde o General ainda tem muitos admiradores (e beneficiários). O Conde é mostrado como um vampiro, e sua família não fica muito atrás. A viúva e os cinco filhos adultos não são vampiros – o general recusou-se a mordê-los e dar-lhes assim a imortalidade. Por outro lado, têm uma sede permanente de dinheiro. A história dá uma guinada quando a família contrata uma contadora para dar um balanço nas centenas de contas bancárias secretas que o general tem pelo mundo afora. É o dinheiro acumulado em 15 anos de assassinatos políticos e rapina. (os filhos do vampiro) Larraín pontua o filme com uma porção de referências explícitas, mas bem encaixadas, que vão desde Nosferatu de Murnau até A Paixão de Joana D’Arc de Carl Dreyer, desde o Batman do cinema e dos quadrinhos até os romances sobre ditadores latino-americanos delirantes, e aqui a enumeração de autores iria longe: Garcia Márquez, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Astúrias, Augusto Roa Bastos e até mesmo Edward Lucas White (El Supremo, 1916). É curioso como os tropos e as imagens do filme de vampiro se encaixam com perfeição neste último gênero narrativo, e é surpreendente que essa junção não tenha sido mais explorada no passado. Eu, pelo menos, não lembro de nenhum exemplo de histórias sobre ditadores-vampiros. O máximo que me vem à memória é o romance de Kim Newman Anno Dracula (1992), em que a Rainha Vitória é uma vampira, mas, como dizia um amigo meu, todo britânico tem genes vampirescos. Em todo caso, se alguém organizar um festival de filmes sobre ditadores monstruosos, delirantes, este filme de Larraín não faria feio ao lado de Cabeças Cortadas (1970) de Glauber Rocha, O Último Rei da Escócia (2006) de Kevin MacDonald e talvez O Recurso do Método (1978) de Miguel Littín, Cobra Verde (1987) de Werner Herzog e outros. Se o Poder corrompe, e o Poder absoluto corrompe absolutamente, não é de admirar que um ditador-sanguinário qualquer seja retratado, principalmente na literatura, como uma espécie de Gollum desvairado, alucinado, em decomposição física e psíquica, precisando desesperadamente do Poder Absoluto para continuar respirando. Outra associação de idéias pode ser feita entre El Conde e um filme argentino contemporâneo, Azor (2021) de Andreas Fontana. Nele, um jovem banqueiro suíço vem à Argentina pós-golpe militar para substituir um colega, e aos poucos vai conhecendo os figurões políticos locais, e se misturando na trama de denúncias, traições e crimes políticos. Aqui, sem recurso ao vampirismo, mostrase o mecanismo simples que faz de toda ditadura um assalto permanente à mão armada, onde pessoas são mortas, propriedades são confiscadas e repartidas entre os assassinos, e fica tudo por isto mesmo. Outra produção contemporânea, que ainda pretendo comentar aqui, é a série Netflix A Queda da Casa de Usher (2023), de Mike Flanagan. Há um paralelo perceptível (mas inconsciente, e inevitável) entre a família Pinochet do filme e a família Usher da série. Famílias milionárias, regidas por um patriarca impiedoso e com mão de ferro, e com os filhos se escoiceando por preferência, atenção, vantagens e dinheiro. Larraín faz o que chamei de “filme B” (sem muita grana, e sem muita expectativa de grana) mas com as facilidades tecnológicas de hoje em dia. Não é o mesmo “filme B” que Roger Corman fazia nos anos 1960. Ele narra esta fábula extravagante (e estranhamente plausível) com o auxílio de uma direção de arte (Tatiana Maulen) e uma fotografia (Edward Lachman) que nem sempre se encontra em filmes muito mais caros e muito mais ambiciosamente produzidos. Tendo como ponto central um vampiro que voa, e as paisagens desoladas e frias das ilhas chilenas, a fotografia em tela larga (proporção de 2.00 : 1) e preto-ebranco, produz uma incrível impressão da vastidão dos espaços abertos. O roteiro do filme é bem amarrado, e tem algumas surpresas-revelatórias que não posso comentar aqui, a não ser para dizer que tudo é extremamente verossímil. A herança tenebrosa da ditadura Pinochet ainda tem peso sobre o Chile; é diferente do que aconteceu na Argentina, onde os torturadores e saqueadores foram condenados nos tribunais, independentemente de seus uniformes ou de seus cargos políticos. No Chile, Pinochet escapou impune, e talvez seja isto que sugeriu ao diretor a imagem do vampiro que não morre nunca, que parece estar dormindo num ataúde mas de noite se levanta para saquear mais uma vez. 5000) Borges: biblioteca, livro, palavra, letra (9.11.2023) A obra de Jorge Luís Borges existe numa zona crepuscular entre a literatura e a vida real. Não é exagero dizer que o próprio Borges existia numa área mais pra lá do que pra cá, mais feita de estórias do que de matéria. Tímido, cego, introvertido, insone, dono de uma memória extraordinária, seu mundo mental era decerto mais vívido e mais estimulante do que a realidade física de seu corpo. Talvez por isto suas imagens poéticas relativas ao corpo sejam tão tocantes. São vislumbres de alguém tentando não perder o contato com uma parte minúscula, mas essencial, de si mesmo: a sua parte feita de carne e osso. Borges foi um dos raros leitores de Kafka capazes de compreendê-lo por completo. Nós outros vemos a obra do escritor tcheco como vemos as catedrais de Gaudí ou os poemas em prosa de Lautréamont: admiramos o resultado, mas não somos capazes de reconstituir os processos mentais que o produziram. ("Biblioteca de Babel", projeto de Maria Cano) A biblioteca Borges demonstrou ter compreendido Kafka quando concebeu seu mais célebre conto de horror, “A Biblioteca de Babel”. É claro que a crítica literária não classifica este conto como pertencente a esse gênero. Resenhadores do mundo inteiro concordam que a literatura de horror é apenas o domínio preferencial dos vampiros, dos lobisomens, dos mortos-vivos e dos psicopatas que comem carne humana. “A Biblioteca de Babel” é o pesadelo definitivo de quem lê. Um pesadelo capaz de expulsar dos seus domínios, inclusive, o Conde Drácula e o canibal Hannibal Lecter. Um universo fechado, ilimitado, talvez infinito, onde não existem a terra, os rios, as árvores, as montanhas, o céu, os pássaros. Um universo insetóide, hexágonos compactos cobertos por estantes de livros. Em Babel, no interior do Mundo do Livro, só existe o livro, a página, o texto. É o mundo de um homem capaz de prever a cegueira que lhe estava geneticamente destinada. Borges publicou “A Biblioteca de Babel” em 1941, quando ainda enxergava o suficiente para ler e escrever. Na famosa conferência “A Cegueira” (em Sete Noites, Ed. Max Limonad, 1983, trad. João Silvério Trevisan) ele fixa em 1955 o momento em que soube, oficialmente, que estava cego. Uma cegueira cruel, que não lhe proporcionou sequer o repouso da escuridão, por mais que fechasse ou cobrisse os olhos. Vivo em um mundo onde há livros que não têm letras, ou pessoas que não têm rostos, ou cores que estão reduzidas a uma espécie de verde acinzentado, um mundo do qual desapareceram completamente o preto e o vermelho. Vejo o amarelo, e todo o restante vejo esverdeado, acinzentado, azulado. (Dicionário de Borges, Bertrand Brasil, 1990, trad. Vera Mourão) A biblioteca-universo era uma metáfora do mundo pós-cegueira, que ele antevia assim, ocupado apenas por livros quase ilegíveis. Uma biblioteca iluminada por uma luz que ele descreve cruelmente como “uma luz insuficiente, incessante”. Esse conto tornou-se um dos mais famosos de Borges, a ponto de muitos leitores verem nele uma espécie de Paraíso, porque o argentino dizia conceber o Paraíso como uma biblioteca; esquecem que essa biblioteca absurda, coberta com “léguas e léguas de cacofonias insensatas” é o contrário de uma biblioteca desejável. O conto não é uma fantasia desejante, é um pesadelo de horror. O livro Depois que “A Biblioteca de Babel” adquiriu fama, uma amiga de Borges, Letizia Álvarez de Toledo, lhe sugeriu que era desnecessário conceber uma biblioteca ilimitada para representar o Universo. A imagem poderia ser de um livro ilimitado, um livro com infinitas páginas de espessura infinitesimal. Surgiu daí a inspiração para o conto “O Livro de Areia”, publicado em 1975 no livro do mesmo nome. O conto é narrado pelo vagamente auto-ficcional personagem de tantas outras histórias de Borges, personagem que às vezes ostenta seu nome e outras vezes detalhes biográficos negligentemente inseridos na narração. Um homem desconhecido bate à sua porta e lhe oferece um livro, e ao manuseá-lo ele percebe ser um livro infinito, inesgotável. Abri-o ao acaso. Os caracteres eram-me estranhos. As páginas, que me pareceram gastas e de pobre tipografia, estavam impressas em duas colunas, como uma bíblia. O texto era apertado e estava ordenado em versículos. No ângulo superior das páginas havia algarismos arábicos. Chamou-me a atenção que a página par trouxesse o número (digamos) 40.514 e a ímpar, a seguinte, 999. Virei-a; o dorso estava numerado com oito algarismos. (O Livro de Areia, Ed. Globo, 1999, em Obras Completas III, trad. Lígia Morrone Averbuck, p. 80) Uma vez fechado o livro, é praticamente impossível reencontrar uma página qualquer. O vendedor explica a “Borges”: “O número de páginas deste livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira; nenhuma, a última. Não sei por que estão numeradas desse modo arbitrário. Talvez para dar a entender que os termos de uma série infinita admitem qualquer número.” (p. 81) A biblioteca total foi comprimida num volume único de um “inusitado peso”. O narrador mergulha nele, faz anotações intermináveis, deixa-se mesmerizar pelo seu caráter inesgotável. Passa a achá-lo “monstruoso”, sente que aquilo não passa de “um objeto de pesadelo, uma coisa obscena que infamava e corrompia a realidade”. Pensei no fogo, mas temi que a combustão de um livro infinito fosse também infinita e sufocasse com fumaça o planeta. (p. 82) A palavra Esse pesadelo ilegível assaltou Borges em plena cegueira, aos 75 anos, mas de certa forma vem contrabalançado por outro conto no mesmo Livro de Areia. É o conto intitulado “Undr”, a história de um bardo que vai parar num reinado remoto, o dos Urnos, e ali vê um dos rapsodos locais cantar diante do rei um poema longo que lhe parece constar de uma única palavra. Outro poeta local esclarece: – (...) Não definimos cada fato que inflama nosso canto: nós o ciframos em uma única palavra que é a Palavra. Respondi: – Não pude ouvi-la. Peço-te que me digas qual é. Vacilou alguns instantes e respondeu: – Jurei não revelá-la. Além disso, ninguém pode ensinar nada. Deves procurá-la sozinho. Apressemo-nos, que tua vida corre perigo. (p. 56-57) Começa então, para o Bardo que narra essa história, uma vida nova cheia de ofícios, tarefas, aventuras, trabalhos, experiências, aprendizados. Num longo parágrafo, Borges recorre a um de seus recursos habituais, a enumeração de eventos díspares que se contradizem, se complementam, abrem possibilidades narrativas improváveis... Em menos de uma página ele resume acontecimentos capazes de encher mais de uma vida humana, como nas linhas iniciais de “A Loteria em Babilônia” e em trechos de “O Imortal”. E ao longo desse lento aprendizado de cicatrizes, ele persegue a Palavra: No curso do tempo fui muitos, mas esse torvelinho foi um longo sonho. O essencial era a Palavra. Uma ou outra vez não acreditei nela. Repeti para mim que renunciar ao belo jogo de combinar palavras belas era insensato e que não há por que indagar sobre uma só, talvez ilusória. Um missionário me propôs a palavra Deus, que recusei. (p. 57) Um dia ele julga ter encontrado a Palavra, e retorna ao palácio do rei, e ao amigo que o protegera anos atrás. Pergunta pelo rei, e o amigo responde (com a fina ironia borgiana em relação ao Poder político): “Já não se chama Gunnlaug. Agora seu nome é outro”. E o amigo lhe revela então a Palavra: Disse a palavra Undr, que quer dizer maravilha. Na ficção de Borges (não me meto a afirmar que nas etimologias reais) “Undr” é um remoto ancestral nórdico da palavra inglesa Wonder, que quer dizer “maravilha”. A capacidade de alguém se deslumbrar, se fascinar, se encantar por alguma coisa. A curiosidade que conduz às revelações, às epifanias. Há mais de cem anos os leitores de ficção científicas definem como parte integral desse gênero literário o “sense of wonder” (que os fãs dos anos 1930 grafavam “sensawunda”). “Wonder”, como verbo, significa também imaginar, matutar, devanear, avaliar possibilidades de modo meio aleatório e sem compromisso, apenas experimentando, concebendo hipóteses como quem, ao cigarro, forma anéis de fumaça com a boca. “To wonder” é especular, supor, pensar experimentalmente enquanto dá de ombros para o resultado. Extrapolando, vejo também nessa raiz remota Undr uma tataravó encarquilhadazinha do verbo inglês “to wander” = vagar, andar sem destino, peregrinar, vagabundear, sair de mundo afora, caminhar sem pressa e sem compromisso. A curiosidade pelo mundo e pelas maravilhas (boas e más) que ele nos reserva. Com o conto “Undr”, publicado aos 75 anos, Borges parece estar exorcizando seu pesadelo da biblioteca de Babel e do livro de areia. Quando toda a poesia do mundo se concentra numa só palavra, essa palavra é uma libertação. Ao invés de um cárcere de palavras, é uma alforria de experiências que trazem consigo a exaltação de viver. O duelo de espadas e o amor de uma mulher, não surpreendentemente, estão entre as “maravilhas” que o tímido Borges, o pudico Borges, ansiava encontrar no mundo que não via. A letra E o percurso se fecha, curiosamente, com uma volta ao ponto de partida, ao Borges ainda jovem que publicou El Aleph, em 1948. Um Borges que ainda era capaz de se apaixonar e de dedicar um conto a uma de suas musas platônicas: no fim do texto, vem a dedicatória: “A Estela Canto”. O Universo, que já fora uma biblioteca, um livro e uma palavra, colapsa agora integralmente numa única letra, o aleph, o alfa, o A, o início de tudo. O que é o Aleph? É um ponto situado (prodigiosamente) na casa de “Beatriz Viterbo”, a musa ficcional desse Borges que conta a história com incredulidade e maravilha. Após a morte dessa “socialite” que ele amou de perto e sem esperança, ele vem a saber que na Rua Garay, numa escada que conduz ao porão, é possível encontrar um Aleph, um ponto de onde se avista todo o universo. Meio descrente o narrador desce até lá – e nessa letra que sintetiza o universo ele avista (e lá nos traz Borges outra de suas enumerações caóticas) tudo que existe no mundo. Tudo que ele sabe e que não sabia, tudo que ele desejava ver e o que não desejava. Vi o populoso mar, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi uma prateada teia de aranha no centro de uma negra pirâmide, vi um roto labirinto (era Londres), vi intermináveis olhos próximos perscrutando em mim como num espelho, vi todos os espelhos do planeta e nenhum me refletiu, vi num pátio da Rua Soler os mesmos ladrilhos que, há trinta anos, vi no saguão de uma casa de Frey Bentos, vi cachos de uva, neve, tabaco, listras de metal, vapor de água, vi convexos desertos equatoriais e cada um de seus grãos de areia... (“O Aleph”, em O Aleph, Ed. Globo, 1972, trad Flávio José Cardozo) A obra e o pensamento de Borges parecem, assim, oscilar entre um universo composto unicamente por livros e páginas (“A Biblioteca de Babel”, “O Livro de Areia”) – e um universo composto por experiências reais (“Undr”, “O Aleph”). Afastando-se de um, o mundo das coisas, ele se resignava ao outro, o mundo dos livros; e depois voltava ao primeiro. Em todo caso, Carlos Drummond dizia que “a vida, quando vai aos livros, é para voltar mais vida”. Toda a literatura de Borges descreve esse movimento em espiral que ora o aproxima ora o afasta desse mundo do qual ele não conseguia participar por completo, mas que sempre foi o centro de sua existência – o mundo das coisas, o que sempre desejou, não o dos livros, o que lhe coube. 5001) Os retratos fantasmas do Recife (12.11.2023) Retratos Fantasmas (2023) pode surpreender o espectador que assistiu Bacurau e espera do diretor Kléber Mendonça outro filme tipo guerrilha-underground misturado com distopia-terceiromundista. Tem todo direito de esperar – eu também esperava, de certo modo, porque gostei do perfil daquele thriller B de futuro próximo. E gostaria de ver outra especulação dele sobre as rebordosas localizadas da violência global. Mas Retratos Fantasmas, meio documentário, meio autoficção, meio álbum de lembranças afetivas, deixa mais nítido outro veio na obra do diretor. Uma obra rica, atual, que fala sobre o processo quase fatalista, quase mecanicista, que faz as cidades crescerem, passando por cima do que estiver na frente. É um filme de amor ao cinema, de amor aos cinemas de rua, mas acima de tudo de amor à Cidade. Que no caso de Kléber é o Recife, inesquecivelmente fotografado, e emocionante para quem, como eu, conheceu na infância o São Luiz, o Trianon, o Art-Palácio, o Moderno. E que, já cineclubista e crítico, conheci o Veneza. (Senti falta do meu querido Cinema de Arte Coliseu, em Casa Amarela, mas não se pode ter tudo, e o foco do filme é a área central do Recife. Vida que segue.) Cinema e Cidade se misturam na memória da gente. Quantas vezes saíamos de Campina Grande de ônibus, à tarde, e quatro horas depois desembarcávamos na rodoviária velha do Recife, e assistíamos todas as sessões possíveis do mesmo filme (acertou quem disse Alphaville, quem disse Blow Up, quem disse Cléo das 5 às 7). Dormíamos numa pensão qualquer, voltávamos para Campina na manhã seguinte, e à noite, nas escadarias do Colégio Estadual da Prata, “tinha resenha”. O Cinema era uma cidade desconhecida ao alcance da nossa carteira, da nossa mesada ou salário-mínimo. Uma cidade que (não importa o nome que tivesse, Paris, Rio, Roma, Moscou) tornava-se apenas a cidade costurada pela agulha daquela câmera que a percorria. A cidade construída pelo filme só tinha existência nesse labirinto, que levava uma hora e meia para ser percorrido até o fim. Estas divagações me ajudam a focar a atenção no veio “cidade canibal” que atravessa praticamente todos os filmes de Kléber Mendonça. A cidade que cresce sem parar, a cidade que engole a si mesma, alimenta-se destruindo as melhores partes de si mesma, e com isso produz novas partes – que os desavisados jovens do futuro considerarão “as melhores” – tal como aconteceu conosco. Em O Som Ao Redor (2012), é o processo que faz a riqueza rural conquistada a poder de porrada adquirir latifúndios urbanos à beira-mar (Boa Viagem, no caso), e depois vendê-los à Cidade, deixar-se comer pelas beiras. E se submeter às vendettas da barbárie rural, porque, como diz o ditado, “quem bate, esquece, quem apanha, não”. Em Aquarius (2016), a Cidade está se expandindo em plena euforia corporativa. O cafofo afetivo onde fomos criados precisa ser desocupado a poder de cheques e tapinhas nas costas. Sonia Braga representa o exército-Brancaleone dos que dizem (como eu): “Por que motivo um condomínio de duas torres e 40 andares é mais necessário do que o oitão onde eu jogava bola?”. Em Bacurau (2018), acontece uma inversão, porque aqui não se trata da Cidade Grande, e sim do seu oposto Tao-Te-King, a Cidade Pequena. A cidade que não luta para engolir, mas para não ser engolida. Sua violência não é predatória, é afirmativo-defensiva. Sua maneira de crescer é continuar do tamanho atual, sem permitir ser diminuída, vitimizada, predada, arrendada pelo Poder inescrupuloso para servir de feliz-campo-de-caça a sadistas estrangeiros. A Cidade é essa coisa, um aglomerado que nunca se sabe ao certo se é benigno ou maligno (falta uma ciência para isto), mas nesse crescer vai passando por cima de tudo. Ou, como disseram Chico Science e a Nação Zumbi, “a cidade não pára / a cidade só cresce / o de cima sobe / e o de baixo desce.” Essas vozes ressoam em mim porque são as vozes do Recife, a primeira metrópole que conheci, a primeira que me preocupou. Existem mil instâncias de Poder envolvidas: prefeituras, câmaras municipais, corpos legislativos, planos diretores, secretarias, entidades patronais, sindicatos, imprensa, ministério público, representantes da sociedade civil... Esta mera enumeração já mostra que o processo é coletivo, um tanto randômico, impulsionado por mil variáveis, influências locais ou globais. Não há uma mente central (boa ou má) coordenando tudo. É um pouco como Formigas Carregando Folhas. Retratos Fantasmas vira sua câmera para mostrar um pequeno setor desse processo. Mostra como a vida pessoal e a vida social se contaminam através do Cinema e através do Crescimento Urbano. É fascinante a Parte I do filme onde Kleber faz um resumo da sua história familiar e mostra o apartamento de sua família, onde inúmeras cenas de seus filmes foram concebidas ou rodadas. Vou ter que ver de novo os filmes originais para tentar separar uma coisa da outra. Sala, móveis, quadros nas paredes, janela, paisagem, sons ambientes. Em certo momento me lembrei de quando assisti La Peau Douce (1964) de François Truffaut, e soube que havia sido rodado no próprio apartamento onde ele morava na época. Me senti um voyeur, me senti um leitor de Caras torcendo o nariz diante de alguma reportagem sobre casal roqueiro: “Que cafona, esse sofá... Mas aquela gravura na parede é bonitinha.” É grande a facilidade com que a ficção nos seduz e o documentarismo nos desencanta. Por mais que a gente (=espectador) tente separar a vida do artista e a arte do artista, é o próprio artista o primeiro a fracassar neste projeto. A arte não é reflexo, cópia ou imitação da vida pessoal – é consequência, apenas. “Apenas”. Muita gente deixaria de incluir inúmeras imagens ou sequências que Kleber coloca neste filme, com um receio prévio de serem taxados de “narcisistas” ou equivalente. Acho admirável o modo como ele mostra a sala que serviu de cenário, de ambiente de reuniões, de risca-risca de roteiro e de corta-corta de montagem. É a vida. Um filme é feito da vida daquelas pessoas que o estão fazendo. O que passa na tela é apenas a ponta visível desse iceberg de conversas e discussões infindáveis, telefonemas, café, cigarros, noites em claro, bate-bocas, correrias, repetições extenuantes, azares, soluções caídas do céu, namoros que brotam, casamentos que definham. Quando Truffaut fez A Noite Americana (1973), filme que descreve a filmagem de outro filme, ele conseguiu ao mesmo tempo desmistificar o cinema, mostrando o feijão-com-arroz e o pão-com-manteiga de sua feitura, e torná-lo ainda mais fascinante – porque para quem gosta de cinema o ato de filmar se transforma numa obra de arte em si, tanto quanto o filme que resulta dele. Os velhos projecionistas mostrados junto aos cinemas onde trabalharam são figuras melancólicas porque de certo modo sobreviveram a si mesmos. O combustível que os impelia para a frente acabou, e seus últimos anos de existência serão uma banguela silenciosa até que possam repousar na terra do acostamento. Personagens fascinantes, que voltam recorrentemente em filmes como Kings of the Road (“Im Lauf Der Zeit”, 1976) de Wim Wenders, Cinema Paradiso (1988) de Giuseppe Tornatore, até O Homem da Cabine (2008) de Cristiano Burlan. Todos têm alguma coisa de abandonado, de largado no meio do caminho, como aqueles marinheiros cujo navio ficou ancorado num porto distante e eles ficaram morando ali, tomando conta, enquanto o navio enferruja pelos anos afora. A terceira parte do filme mostra as salas de cinema que foram transformadas em templos de seitas evangélicas. Virou um lugar-comum dos cinéfilos comparar o recinto sagrado da experiência cinematográfica com a exploração profana das seitas caça-níqueis. O próprio filme, porém, mostra que são ondas alternadas. O cine São Luiz foi construído em 1952, e para isto foi derrubada uma igreja anglicana que havia no local, no quem-me-quer à beira do Capibaribe, desde 1838. O que é afinal um “fantasma”? É alguém cujo corpo cessou de funcionar e entrou em decomposição, mas cuja alma continua a ser acessada por nós, continua visível, lembrável. Não importa se essa “alma” pertencia de fato à entidade que faleceu, ou se é o resíduo, a lembrança, a persistência retiniana impressa em nós: continua existindo, e estamos conversados. A última sequência do filme mostra o próprio Kléber, à noite, pegando um Uber no centro do Recife. Conversa com o motorista, que lhe diz estar ouvindo Herb Alpert porque é trumpetista, e toca numa orquestra de frevo. Kleber diz que trabalha com cinema. Nesse instante o motorista diz que tem um superpoder: consegue ficar invisível. Materialmente presente, mas invisível. E a câmera adota o ponto de vista do cineasta (que está no banco de trás) e mostra o volante do carro, sem motorista, mas avançando normalmente pelo centro da cidade. É o tipo de conversa-pra-boi-dormir que a gente tem com taxistas em geral. É o tipo da conversa semi-fantástica que surge a qualquer instante, nos papos-emespiral de mesa de bar, que surge sem qualquer propósito, num filme B de qualquer país, entre pessoas que se encontram na rua. O carro passa por lojas e farmácias (estas imensas farmácias do mundo de hoje, latifúndios urbanos fluorescentes, oferecendo milhões de veneninhos milagrosos), e lembramos a frase (em outro momento do filme): “Filmes futuristas também são documentários”. E vice-versa. Documentários também são filmes futuristas, e às vezes quando estamos registrando alguma coisa que passou e sumiu, deixamos aparecer na tela fragmentos do que estava começando a aparecer, e nem percebemos. É mais fácil aceitar as mudanças de uma cidade quando não nascemos nela, quando não moramos nela. Aceitamos que ela se auto-destrua e se recomponha às cegas, como as pessoas. Porque assim, à distância, podemos nos iludir pensando que só quem mudou foi ela, e continuamos intactos. Daí que nos reencontros nos venha logo à boca o clichê benevolente, “Puxa vida... Você não mudou nada...”, o que nos ajuda a suportar o choque daquela mudança alheia que revela o abismo embaixo dos nossos pés. 5002) Explicar o poema e a piada (15.11.2023) Dizem que Ava Gardner, numa visita social ao poeta Robert Graves, disse a ele: “Sabe de uma coisa, Robert, eu não entendo poesia.” E ele, cavalheirescamente: “Minha querida, ninguém espera que você entenda um poema, espera que você o desfrute.” Isto bate um pouco com a afirmativa de Stanley Kubrick de que um filme, idealmente, não deve ser compreendido, e sim desfrutado como se fosse uma peça musical. Quer dizer que um poema não deve ser examinado pelo nosso intelecto, pela nossa mente racional, analítica? Deve, sim; se alguém inventar de dizer que não deve, aí é que a mente analítica se assanha toda para produzir interpretações. A questão é outra. Um poema não converge para uma explicação nítida e clara, como ocorre com um problema matemático. O poema espalha significados em várias direções, a cada leitura, e para cada leitor. Interpretar (“explicar”) um poema é uma tarefa desnecessária mas inevitável, porque somos uma civilização propensa a interpretar tudo. Precisamos explicar tudo cujo sentido não é imediatamente claro – uma chuva fora de estação, um bezerro que nasceu com duas cabeças, um carro novinho que deu o prego na BR, o comportamento bizarro de um técnico de futebol ou de um político. Ao ler um poema diante de uma classe com 40 adolescentes, um professor de literatura não consegue ficar o tempo inteiro colhendo e comparando 40 impressões. Ele cede à tentação demasiado humana de matar a charada: – Este poema fala sobre a perplexidade do Homem diante da falta de sentido de nossa civilização. Soa tão plausível que desse momento em diante todas as leituras do poema tenderão a passar por esta porta, e só por ela. Uma das maiores armadilhas em que o leitor acaba caindo é a de achar que um poema tem uma “resposta certa”, uma “mensagem”, um “significado único” que é preciso descobrir, como se fosse uma charada ou uma adivinhação. Uma adivinhação é algo assim: O que é, o que é: cai em pé e corre deitado? Resposta: a chuva. Quem inventou essa adivinhação tinha esta resposta em vista, e nesse caso, sim, podemos considerar que esta é a “resposta certa”. Outras podem admitir mais de uma resposta-certa, e com isso servem de jogo de engana-engana. (Trupizupe, o Raio da Silibrina, direção de Hermano José, com Gilmar Albuquerque, Saint-Clair Avelar e Geová Amorim, 1979, Campina Grande) Na minha peça Trupizupe, o Raio da Silibrina (1979) vários pretendentes vão à corte do Rei responder adivinhações, para conquistar a mão da princesa, mas ela é mal-humorada e não quer casar com ninguém. REI: Que entre o primeiro candidato! (ENTRA CANDIDATO 1) PRINCESA: O que é, o que é: quanto maior menos se vê? CANDIDATO 1: A distância! PRINCESA: Errado! É a escuridão. Cortem-lhe a cabeça! (CANDIDATO 1 SAI) REI: Que entre o segundo candidato! (ENTRA CANDIDATO 2) PRINCESA: O que é, o que é: quanto maior menos se vê? CANDIDATO 1: A escuridão! PRINCESA: Errado! É a distância. Cortem-lhe a cabeça! E por aí vai. O conceito de “resposta certa” pertence ao domínio da Matemática, da Lógica, da Ciência (de algumas Ciências), mas não ao domínio da cultura popular ou da poesia. O poema é um gerador de “imagens”, “melodias” e “idéias” (fanopéia, melopéia e logopéia, nos termos usados por Ezra Pound), e quem o escreve tem consciência de estar apenas desencadeando um processo nas mentes alheias. Mal comparando, o poema é como um raio de luz. As mil-e-uma impressões sensoriais, emotivas e intelectuais que fervilham na mente do poeta são como um espectro de várias cores, que ele consegue por fim sintetizar num raio único, de cor branca, onde se contém tudo que estava em sua mente. Esse raio branco é o poema. E quando o poema é lido por uma pessoa, ele volta a se refratar em raios de várias cores, mas – isto é crucial – esses raios jamais serão idênticos aos que havia na cabeça do poeta. Assim como nossos olhos veem no mesmo arco-íris um arco-íris diferente do que as pessoas ao nosso lado estão vendo (porque o ângulo de incidência dos raios luminosos é diferente, mesmo com alguns centímetros de distância entre os olhos de um e os olhos do outro), nossa leitura do mesmo poema é parecida mas nunca é igual. Porque aquelas palavras despertam ressonâncias diferentes em mim e em você. Um poema não conduz a um único significado, previsto (e disfarçado) pelo autor. É um gerador de múltiplos significados – todos flutuando, é claro, no interior da “nuvem” de significados cabível nas palavras do texto. O poema não é uma casada-mãe-joana onde cada um lê o que bem entende. Um poema é para ser sentido, desfrutado, saboreado, experimentado com interesse, curiosidade, sem muita pressa de “entender”, de “achar a resposta”. Nem todo poema se presta a isso. A maioria dos poemas que eu leio eu não desfruto muito, não porque “não compreenda o significado”, mas, em geral, porque já li centenas de poemas muito parecidos. Aquele ali, por mais benfeitinho que esteja, é agradável, mas não me traz muita novidade. É uma lata de Coca-Cola a mais. Explicar um poema é um pouco como explicar uma piada. A gente conta a piada. Algumas pessoas riem no final, outras não. Então a gente vai explicar a piada, o que já é, por definição, a confissão de uma derrota. É como fazer uma carícia na parceira, ouvir dela que não sentiu absolutamente nada, e depois explicar-lhe cientificamente por que deveria ter sentido alguma coisa. “Sheldon In Love.” A emoção do poema e a graça da anedota dependem muitas vezes de um voo mental, dependem da nossa capacidade de, num segundo, repensar o que vinha sendo pensado e ver tudo com novos olhos, a partir de cada informação nova que chegou. Fazer isto é saltar de um pico-da-montanha a outro, sem descer ao vale; mas o que chamamos “compreender” é filho do “explicar”, que é por natureza uma atividade pedestre. Explicar requer um avanço passo a passo, um reconhecimento cauteloso de cada pedaço de chão, como quem cruza uma floresta detendo-se a nomear e descrever cada árvore. Nem o poema nem a anedota resistem a esse desfibrar de uma experiência que se supõe instantânea. Claro que uma explicação sempre deixa algum lucro atrás de si; mas é como explicar a água fria a alguém que nela não mergulha a mão. Ou explicar o que é o leite a um menino cego, como na anedota antiga que li em Seleções. Um Homem está passeando no parque, num dia de sol, fazendo companhia a um Menino cego de nascença. O menino se queixa do calor e diz que gostaria de tomar um copo dágua. Homem: Por mim, eu tomaria um copo de leite. Menino: O que é leite? Homem: É um líquido branco. Menino: Líquido, eu sei o que é. Mas o que é branco? Homem: É a cor das penas de um ganso. Menino: Penas, eu sei o que é. Mas o que é ganso? Homem: É uma ave do pescoço torto. Menino: Pescoço, eu sei o que é. Mas o que é torto? O Homem, já impaciente, pega o braço do menino, estica-o, e diz: “Assim, seu braço está reto”. Dobra o braço do Menino, e diz: “E assim está torto”. Menino: Ah... Entendi o que é leite. O problema da maioria das explicações, principalmente as de poesia, é que tendem a se afastar cada vez mais da questão inicial. Para explicar uma frase, o explicador propõe um conceito que não está visível no poema em si. Não está muito distante, também; mas só em ser chamado a esclarecer alguma coisa ele já desloca o centro da discussão um pouquinho para o lado. Um novo questionamento afasta esse centro ainda mais, e assim por diante. O poema vai se distanciando no retrovisor, vai sumindo, e a explicação vai produzindo novos e mais novos conteúdos, e em torno deles a discussão avança. Pode deixar algo positivo? Sem dúvida. Mas o poema perdeu-se lá atrás, intacto. E é isto que acontece com centenas, milhares de poemas que lemos desde a infância e a adolescência, enquanto ampliamos a nossa capacidade de ler e de sentir. E jamais chegaremos a um ponto em que sejamos capazes de “entender” qualquer poema. Ninguém chega – embora seja capaz de explicar tudo e mais um pouco. 5003) O método científico e o absurdo (18.11.2023) A Ciência pode ser vista como um conjunto de procedimentos que se vigiam e se corrigem mutuamente. Um desses procedimentos, por exemplo, é a experimentação direta: não adianta conceber a hipótese mais fascinante; é preciso testá-la no mundo “daqui de fora”, fora dos livros, fora das palavras, fora das fórmulas. Outro procedimento é o da diversidade de observadores: o resultado que eu obtive deve ser o mesmo que é obtido por outros observadores. Uma coisa que somente eu percebo não pode ser base científica para nada. Outro procedimento que a Ciência emprega, e nisto se faz parceira da Filosofia, é o emprego de conexões lógicas entre os fatos. Aqui é um terreno mais escorregadio, porque os filósofos têm o hábito (muito saudável, aliás) de procurar brechas e inconsistências nos argumentos dos colegas. E, por isto mesmo, acabam produzindo argumentos mais sólidos e precisos. A Lógica é um desses instrumentos, e serve de apoio às investigações científicas. O silogismo é uma fórmula simples que todo mundo já viu por aí: a. Todos os homens são mortais. b. Ora, Sócrates é um homem. c. Portanto, Sócrates é mortal. Quando aplicadas à vida prática, estas fórmulas precisam corresponder à verdade observável na vida prática. É neste ponto que alguns espertos turvam as águas e nos forçam a aceitar resultados absurdos, simplesmente porque nos jogam no colo uma premissa falsa... e nós não a questionamos : a. Todos os escritores são bêbados. b. Ora, Charles Bukovsky é um escritor. c. Portanto, Charles Bukovsky é um bêbado. Parece verdade, mas infelizmente (ou felizmente) o ítem “a” não é uma verdade demonstrável. Nessas demonstrações lógicas, é a forma que conta. Se cada afirmação for factualmente correta, o raciocínio é sempre o mesmo. a. Todos os gugurinos são travões. b. Ora, o manipanso-mor é um gugurino. c. Portanto, o manipanso-mor é um travão. O raciocínio é correto; pouco importa se os termos são absurdos. Esse bê-á-bá da Filosofia é essencial para o raciocínio científico. Curiosamente, tem a ver com muitas proposições da Matemática, que um dia alguém descobre e sistematiza sem saber para que serve (são meros cálculos numéricos ou geométricos), e cinquenta anos depois alguém descobre que esse tipo de raciocínio pode ser aplicado com perfeição a partículas sub-atômicas ou a reações químicas. O interessante dessas proposições é que elas dão espaço para uma mistura totalmente incongruente (e divertida) entre o rigor filosófico e o nonsense. Se a relação entre os elementos é lógica, não importa se os elementos em si são absurdos. (Hubert Phillips, "Caliban") Hubert Phillips (1891-1964), conhecido como “Caliban”, manteve durante anos algumas colunas de quebra-cabeças matemáticos e lógicos em publicações como o Daily Telegraph, New Statesman, The Nation e outros. Muitos desses problemas foram reunidos no livro My Best Puzzles in Logic and Reasoning (New York: Dover, 1961). Entre eles está o divertido problema intitulado “Pickled Walnuts”, que ele descreve como “um daqueles exercícios em inferência que tanto fascinavam Lewis Carroll”. É uma série de proposições (que devem ser aceitas a priori como verdadeiras – ou seja, não há trapaça) envolvendo situações e personagens meio surrealistas, das quais pode ser extraída alguma conclusão lógica. Fiz uma tradaptação (tradução + adaptação) do problema, mantendo o rigor das proposições. · Cerveja Stella Artois é servida sempre nas reuniões sociais do Dr. Frankenstein. · Nenhum torcedor que não prefere o Barcelona ao Real Madrid pega, jamais, um táxi na Cinelândia. · Todos os morcegos sabem tocar sanfona. · Nenhum animal pode ser registrado como enólogo se não levar consigo um iPhone. · Qualquer animal capaz de tocar sanfona pode ser eleito para o Clube dos Alquimistas Amnésicos. · Somente animais registrados como enólogos são convidados para as reuniões sociais do Dr. Frankenstein. · Todos os animais que podem ser eleitos para o Clube dos Alquimistas Amnésicos preferem o Real Madrid ao Barcelona. · Os únicos animais que saboreiam cerveja Stella Artois são aqueles que a experimentam nas reuniões sociais do Dr. Frankenstein. · Somente animais que pegam táxi na Cinelândia levam consigo um iPhone. Qual a conclusão que pode ser extraída? Quem quiser ver a versão original do problema, e a resposta, pode acessar aqui, e ver a “Solução ao Problema #43”: https://gizmodo.com/theres-a-star-hiding-in-this-image-can-you-find-it1724344803 O que significa isto, para além do lado de humor “lewiscarrolliano”? Significa que o pensamento científico, armado com os instrumentos da lógica filosófica, pode chegar a conclusões satisfatórias mesmo quando lida com elementos indefinidos, desde que essa ação de “lidar” tenha uma lógica própria, que essa lógica seja coerente, e que possa conduzir sempre aos mesmos resultados, quando é seguida à risca. Grande parte da solidez no método científico (sempre, em casos assim, deparelha com a filosofia) não depende da natureza dos elementos que manipula, mas do rigor das regras dessa manipulação. É como dizer: “Três laranjas mais cinco laranjas é igual a oito laranjas”. Não importa se são laranjas, abacaxis ou carburadores. Três mais cinco é igual a oito. 5004) "Bodies": uma guerra no tempo (21.11.2023) Corpos (“Bodies”, de Paul Tomalin) é uma série de ficção científica em streaming pelo Netflix, adaptação da graphic novel do mesmo nome escrita por Si Spencer. É uma história policial de viagem no tempo, e transcorre em Londres, em quatro épocas diferentes, mostrando o repetido aparecimento do mesmo cadáver, no mesmo local (um homem nu, com marcas estranhas no corpo). O mistério é investigado por quatro detetives: Alfred Hillingshead em 1890, Charles Whiteman em 1941, Shahara Hasan em 2023 e Iris Maplewood em 2053. Não assisto muitas séries de FC, e devo estar perdendo muita coisa boa que há por aí. Em todo caso, esta aqui é muito bem escrita e dirigida, e em seus 8 episódios chega a uma conclusão satisfatória. Espero que não haja continuação (as continuações são quase sempre um trajeto ladeira abaixo.) Bodies tem o clima de paranóia dos thrillers de perseguição-e-fuga de Philip K. Dick: cada pessoa, por mais inocente que pareça, pode ser um agente plantado ali pela Conspiração para intervir no momento adequado. Ninguém é casual. Todo mundo está ali com “uma agenda secreta”, com segundas intenções. E da mesma forma todo mundo pode ser o “agente salvador”: um transeunte aleatório, o porteiro do prédio, o frentista do posto, qualquer um deles pode ser a pessoa que agarra o herói pelo braço na hora do perigo e diz algo na linha do clássico “Vem comigo, explico depois”. (Amaka Okafor como "Shahara Hasan") Esse clima de paranóia é aliás uma das características da obra de P. K. Dick e é um sintoma neurótico da Guerra Fria, período em que Dick surgiu como escritor. A paranóia absurda e alucinada em que ele viveu parte dos seus últimos anos se deve a isso: ele tinha fantasias de que estava sendo espionado pelo FBI, e chegou a delatar Stanislaw Lem (o polonês autor de Solaris, e um dos seus grandes admiradores) como agente comunista. O medo do comunismo durante a Guerra Fria gerou (na literatura inclusive) essa situação mental de que “Ninguém é inocente, ninguém é o que parece ser, todo mundo está fingindo, todo mundo é perigoso”. E os thrillers de FC recentes bebem dessa fonte, direta ou indiretamente: O Homem do Castelo Alto, Severance, Black Mirror, Dark, etc. A série alemã Dark, com seu roteiro complexo e (em geral) bem amarrado, ajudou a fixar certos marcos, pontos de referências, recursos que irão servir a outros dramaturgos. Pessoas que transitam de um século para outro, num desenho complexo de perseguições e assassinatos, acabam se incorporando ao repertório do público e viram um instrumento dramatúrgico, prático, rápido, fácil de usar. Outro elemento presente em filmes/séries recentes é, curiosamente, o fato de que a “máquina do tempo” está em desuso. A máquina vitoriana do filme de George Pal, a Tardis usada pelo Dr. Who, o carro de De Volta Para o Futuro... Agora, a viagem no tempo se dá através de “singularidades” fixas; locais, portais não-portáteis. Podem estar no interior de uma caverna (Dark), num subterrâneo artificial (Ministério do Tempo, Bodies), mas em todo caso são lugares imóveis, a que o personagem precisa ter acesso, para viajar. Num certo sentido, isso me parece mais cientificamente plausível do que o “automóvel do tempo”, que o passageiro pode pilotar na direção que bem entender. E há precursores, é claro, desde a velha série Túnel do Tempo. Outro elemento que reaparece aqui é a multiplicação dos corpos idênticos da mesma pessoa, reiteradamente morta: efeito semelhante ao de The Prestige (livro de Christopher Priest, filme de Christopher Nolan). Em muita dessas narrativas de viagens no Tempo,uma parte crucial do enredo lida com um evento específico (o nascimento ou a morte de uma pessoa; o deflagrar de uma guerra; uma descoberta científica fundamental, etc.) que um grupo de pessoas tenta evitar que aconteça, e outro grupo se dedica a garantir que aconteça. Mudar ou preservar o rumo da História. A narrativa de Bodies tem quatro linhas de enredo (1890, 1941, 2023 e 2053) e consegue não misturá-las. É uma verdadeira proeza de malabarismo, mas a série consegue isto, mediante quatro direções-de-arte reproduzindo épocas diferentes, com diferentes paletas de cores, vestuário, ruídos e música de fundo, etc.) de tal modo que o espectador nunca se perde. (Eu pelo menos, que sou danado para confundir essas narrativas intercaladas, não me perdi.) Há momento inclusive em que a câmera, com enquadramentos sutis, parece sugerir que personagens de dois tempos diferentes estão olhando interrogativamente um para o outro, como se se avistassem por cima do “abismo do tempo”. E os detetives (Hillinghead, Whiteman, Shahara Hasan, Iris Maplewood) vão descobrindo e revelando peças do quebra-cabeças, de modo que o mistério vai sendo atacado e elucidado em quatro flancos, ao mesmo tempo. (Jacob Fortune-Lloyd como "Charles Whiteman") Na novela gráfica original, o autor Si Spencer obteve esse efeito fazendo com que cada uma das linhas temporais fosse desenhada por um artista diferente: Dean Ormston, Phil Winslade, Meghan Hetrick e Tula Lotay. Há uma certa repetição de temas na prefiguração de uma Inglaterra sob regime autoritário. Todas essas narrativas de elites despóticas regendo Londres com mão de ferro (e aqui incluo até V de Vingança, Children of Men, etc. ) devem muito ao 1984 de George Orwell. Mesmo quando tecem variantes demonstram estar partindo dessa premissa tão culturalmente próxima aos ingleses. Daí que as distopias britânicas de J. G. Ballard (High Rise, Crash, etc.) dão um salto de originalidade, porque a brutalidade não emerge de um governo totalitário, mas vem de baixo para cima, da população mais abastada. A série (a maioria das séries atuais) recoloca, em seus termos, a questão das influências, referências, citações explícitas, homenagens. Todo mundo está se queixando, atualmente, de que as “Inteligências Artificiais (IAs)” reciclam obras alheias o tempo inteiro sem citar a fonte. Bem – nossas inteligências biológicas fazem a mesma coisa há séculos. A única diferença é que as IAs têm a seu serviço todo o sistema de acesso a “Big Data” (quantidade massacrante de informações), rapidez de processamento e de compartilhamento. Em Bodies vi referências a O Exterminador do Futuro (James Cameron, 1980), O Vingador do Futuro (Paul Verhoeven, 1990), O Bebê de Rosemary (Roman Polanski, 1968), Fundação (Isaac Asimov, 1940+), O Homem do Castelo Alto (Frank Spotnitz, 2015-2019) e por aí vai. A dramaturgia de gênero (livros, filmes, séries, quadrinhos, etc.) canibaliza-se a si mesmo o tempo inteiro, sem muita cerimônia. Ressalvados os casos de plágio com visível má fé e sem qualquer contribuição criativa, os autores sabem, implicitamente, estar contribuindo para um gigantesco banco-de-dados onde outros autores, iguais a eles próprios, irão um dia recolher velhas idéias para novas histórias. A não ser que isso seja feito por um “robô” cibernético capaz de processar terabytes de narrativa por segundo. Aí... já é outra história. Como dizia Umberto Eco: Os mass‑media são genealógicos e não têm memória, mesmo que as duas características pa-reçam incompatíveis uma com a outra. São genealógicos porque neles toda invenção nova produz imitações em cadeia, produz uma espécie de linguagem comum. Não têm memória porque, depois que se produziu a cadeia de imitações, ninguém mais pode lembrar quem a iniciou, e se confunde facilmente o iniciador da estirpe com o último dos netos. (Viagem na Irrealidade Cotidiana, Nova Fronteira, 1984, trad. Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade, pag. 176) 5005) O cinema e a ampulheta (24.11.2023) Todo cinéfilo tem experiências traumatizantes. Um dia, quando eu for capaz de vencer o constrangimento, contarei de como, aos sete ou oito anos, fui ver um filme no Cine Capitólio, acompanhado por minha mãe. Estava com os pés cheios de calos sangrentos, provavelmente porque tinha acabado de ganhar um novo par de sapatos. (Eu geralmente usava sapatos velhos do meu pai, com um complemento de algodão na ponta pelo lado de dentro, para acomodar meus pés imberbes.) Os calos me incomodavam demais e começado o filme descalcei espertamente os sapatos, e devo ter chegado a cruzar a perna, ou pelo menos a botei numa posição tal que ela ficou dormente. Chegado o fim do filme, mexi a perna, e a volta da circulação, combinada com o enfiamento regulamentar do sapato, provocou uma dor tão intensa nos calos que Dona Cleuza foi forçada a me levar para fora da sala nos braços, como uma furibunda Pietà sertaneja, enquanto eu me lamentava em tão altas vozes que os circunstantes perguntavam, compadecidos: “Mas o que aconteceu, ele quebrou a perna?...” e ela retrucava, esbaforida: “Não!... É só safadeza mesmo!...” Nem era essa a história que eu ia contar! Ela se intrometeu por conta própria. Eu ia falar de um trauma de cinéfilo, e não de minha fase Young Sheldon. O fato é que morávamos na Rua Miguel Couto, a dois quarteirões e meio do Capitólio, e a partir de certa idade fui autorizado a ir sozinho ao cinema, mas sempre na “primeira sessão”. Havia duas sessões, às 19 e às 21 horas. A “segunda sessão”, que terminava por volta as 23:00, pertencia somente ao mundo dos adultos. Ninguém me autorizava a ver filmes na segunda sessão, e cresci colocando essa proibição na mesma categoria mítica dos filmes “proibidos para menores de 18 anos”. Era uma terra incognita onde tudo podia acontecer, e eu deveria evitá-la como o Diabo à Cruz ou vice-versa. Uma vez, por um atraso cujo motivo não me restou, cheguei bem atrasado para a primeira sessão. Comprei o ingresso, entrei correndo, achei uma cadeira (eram assentos de madeira, não eram poltronas) e joguei-me nela. O filme já tinha começado há bastante tempo, uns trinta ou quarenta minutos. Gerou-se então o drama, na minha apavorada consciência. Como eu tinha chegado no meio da primeira sessão, quando ela terminasse eu teria de ir embora, tendo perdido o começo do filme. “Jamais!”, bradei silenciosamente. O jeito era ficar... e ver a proibidíssima segunda sessão, e ao chegar tarde em casa tentar sossegar a crise nervosa da família, isto se não encontrasse a casa com as luzes todas acesas, e cheia de bombeiros e investigadores da Polícia Civil. Enquanto decidia, eu olhava as cenas na tela durante um minuto, e depois tapava os olhos, “guardando-me” para rever o filme na sessão seguinte. Vi pedaços desconexos da história, que ao que parece girava em torno de um detetive de paletó e gravata, e uma mulher que ele conhece na rua e insiste que ela se vista com uma roupa específica. No fim, a mulher se joga do alto de uma torre! Finda a primeira sessão, ocorreu-me uma das minhas soluções salomônicas: para não chegar tarde demais em casa, eu não assistiria a segunda sessão inteira – ficaria somente até chegar à cena em que eu tinha começado a ver na sessão anterior. Luzes se acenderam, multidão levantou-se e saiu, e eu fiquei sentado, tranquilão, porque corria a década de 1950 e naquele século abençoado a gente podia, com um ingresso apenas, ver o filme quantas vezes quisesse. Ninguém evacuava a sala entre uma sessão e outra. Começou a segunda sessão, veio o Canal 100, alguns trailers esquecíveis, e o filme recomeçou. Eu estava numa atitude mental de “Episódio 2”. Lá vem meu detetive, coitado, traumatizado pela morte da namorada. E de repente ela ressurge, a mesma, aliás lindíssima, estimulando-me certas respostas biológicas. Mas então ela não morreu! E eu mesmo me recriminava: “Imbecil, isso é o que tinha acontecido antes do que já aconteceu!”. Chegando à primeira cena que reconheci sem hesitação, considerei a missão cumprida, e debandei ofegante para casa, onde minha chegada às dez e meia da noite mal foi percebida, entre os bocejos e os noticiários radiofônicos de sempre. Problema foi depois, na cama, tentar coordenar aqueles fragmentos de história e aquelas várias mulheres que são uma só. Se tem um filme que não entendo direito até hoje é Um Corpo Que Cai, de Alfred Hitchcock. Este exemplo me ficou, contudo, como uma espécie de vacina. Até então, eu tinha a sensação mental de que um filme tinha o formato de um círculo: algo que começava com um ponto minúsculo (a primeira cena) e ia se expandindo até contrair-se rumo ao desfecho, e mostra o The End no ponto final. Isto que hoje chamam de “arco narrativo”, só que bidimensional. A partir daquela noite comecei a cultivar a imagem do filme como uma ampulheta, e passei a chegar na metade. Ao sentar na cadeira, o filme já estava existindo. Era algo já largo, expandido, algo vasto já acontecendo para toda a platéia, e eu não sabia quem era fulano, quem era sicrano, quem queria matar quem, qual a razão da briga, quem morava naquela casa que volta e meia recebia uma chuva de balas. Fim do filme. Ponto final. Recomeço. Ponto inicial. Meus personagens voltavam a aparecer, uns remoçados, outros ressuscitados, todos inocentes quanto ao próprio futuro, enquanto eu os contemplava com o fatalismo de um viajante no tempo. A história começava a se alargar, a se auto-explicar, a se esclarecer – e chegado ao ponto culminante eu me levantava da cadeira e caía fora. O cineclubismo e as cinematecas me ajudaram a ver filmes em forma de ampulheta: chegando no meio da história (=do círculo), vendo até o fim, e depois revendo do minúsculo começo até o auge, o ponto onde eu tinha chegado. Depois repeti isso com as novelas de TV. Xeretando um capítulo por acaso, não preciso saber a história. Tudo eu deduzo, tudo eu suponho, eu adivinho, percebendo “do nada” quem inveja quem, quem olhou de esguelha, quem titubeou no depoimento ao escrivão ou na declaração de amor à lourinha ingênua, e sempre que me deparo com algo que não entendo, imagino: “Tudo bem, já explicaram antes, eu é que peguei o bonde andando; vida que segue”. A não-necessidade de entender tudo é uma virtude intelectual que deveria ser mais cultivada. Temos a mania obsessiva de querer explicação para cada detalhe, cada frase, cada gesto. O cineclubismo, confesso, me traumatizou nesse ponto. Por que motivo a vitrine da loja era azul? O que foi que o rapaz cochichou no ouvido da moça? Por que os garotos foram embora da praia e deixaram um chapéu de palha? O que era a construção esquisita que aparecia ao fundo naquela cena? Filmes não respondem tudo, e quando entramos num filme já começado temos que fazê-lo de espírito aberto, pronto a considerar relevante ou banal qualquer detalhe. Umberto Eco, num documentário recente (La Biblioteca Del Mondo, Davide Ferrario) conta que na juventude tinha acesso gratuito a peças de teatro de pessoas amigas, mas por alguma razão precisava sair antes do final. Ficou amigo de um cara com quem sucedia o contrário: como trabalhava vendendo ingressos, só podia entrar para ver a peça depois que a bilheteria fechava, e desse modo nunca via os começos. Os dois passaram, então, a trocar informações sobre os pedaços faltantes das respectivas memórias teatrais. E ele comenta a velha máxima de que a vida é um filme: entramos na sala depois que ele começou, e temos que sair antes do fim. 5006) Minhas canções: "Tuareg e Nagô" (27.11.2023) Na literatura de ficção científica e de fantasia existe um conceito chamado de worldbuilding, ou “criação de um mundo”. O autor imagina um mundo diferente do nosso, e ali ambienta suas histórias. Esse “mundo” pode ser outro planeta, no caso da FC, ou pode ser um mundo imaginário como o da série de “Narnia” (de C. S. Lewis) ou dos continentes descritos na série “Game of Thrones” de George R. R. Martin. Um ponto crucial desses “mundos construídos” é que sejam coerentes, sejam surpreendentes, e sejam plausíveis. O leitor quer surpresas, que descobrir mistérios e novidades, quer se deparar com rasgos de imaginação que aumentem o prazer da leitura. Por outro lado, ele geralmente preza uma certa lógica no que está sendo mostrado; aquilo não deve ser gratuito ou desordenado. Se o autor mostra uma história de navios piratas e a certa altura introduz uma bomba atômica, a história fica parecendo uma bagunça de anacronismos. O que não impede um bom escritor de muitas vezes tornar verossímil alguma incongruência desse tipo. “Tuareg e Nagô” é uma canção gravada por Lenine no CD Olho de Peixe (1993), seu disco de estréia solo, produzido com Marcos Suzano e Denilson Campos. Essa faixa nasceu da confluência de várias idéias. A primeira delas remonta ao disco Baque Solto (1983), de Lenine e Lula Queiroga. Esse disco é hoje o que se chama de “um clássico cult”. Eu tinha chegado ao Rio há cerca de um ano, e a turma que encontrei aqui era um grupo de parceiros de outras aventuras musicais no Nordeste: Lenine, Lula Queiroga, Tadeu Mathias, Mestre Fuba, Ivan Santos, Alex Madureira, Zeh Rocha... Todos morando no Rio, cantando no “Bar do Violeiro”, tentando gravar. Quando o Baque Solto foi gravado, tinha composições e participação instrumental dessa turma toda – menos eu, que era um dos mais recentes. Sugeriram então que eu fizesse um texto poético falando da força da música nordestina, etc. e tal. E no dia em que fomos fazer a foto da “Gente de Baque Solto”, registrada no estúdio por Hélio Viana, levei o texto “Mapa do Tesouro”, que saiu no encarte do LP e é substancialmente a letra da futura “Tuareg e Nagô”: É a festa dos negros coroados no batuque que abala o firmamento... Passou-se. Os meses e os anos fiaram seu fio de areia. Comecei a compor junto com Lenine, e uma das primeiras coisas que nos aproximou foi o gosto pela ficção científica, fantasia, fenômenos bizarros (de Charles Fort até Operação Cavalo de Tróia). E um dos nossos passatempos era imaginar, em sessões de devaneio e de “world building”, cenários para narrativas fantásticas. Um desses cenários foi o que fiquei chamando de “A Ilha”, partindo de uma premissa simples. Todo mundo imagina a Atlântida como uma ilha futurista no meio do Oceano Atlântico – uma espécie de “Metrópolis” de Fritz Lang, mas com túnicas gregas e templos de mármore. Nossa idéia partiu da premissa contrária: e se essa ilha no meio do mar fosse na verdade uma ilha tropical, caribenha, ensolarada, fértil, super-populosa, tecnologicamente um tanto precária mas com uma vida cultural intensa? Essa ilha seria uma confluência de todas as civilizações navegantes que cruzaram o Atlântico, cada uma deixando ali suas marcas. E assim surgiu o verso que depois tornou-se o refrão da música: Quando o grego cruzou Gibraltar onde o negro também navegou, beduíno saiu de Dacar e o viking no mar se atirou... Uma ilha no meio do mar era a rota do navegador: fortaleza, taberna e pomar, num país tuareg e nagô... Estavam presentes na mistura uma série de povos que, teoricamente, teriam se encontrado e miscigenado nessa Ilha imaginária no meio do Atlântico. A Ilha servia de ponto de parada, descanso, reabastecimento, trocas comerciais... Algo bastante plausível, em termos de ficção. E de lá os navegadores seguiriam na direção Sul, cruzando a linha do Equador e chegando finalmente à América do Sul e o Brasil. É o destino dos navegadores que partiam rumo ao oeste, à região onde o sol vai se pôr – “to sail beyond the sunset”, no verso famoso de Lord Tennyson. E coube a Lenine pegar os versos antigos do “Mapa do Tesouro”, organizar tudo em estrofes, e mudar várias coisas para dar coerência ao “mundo construído”. Ali temos canaviais, estradas de ferro, plantações, frevo, religiões africanas... É de certo modo a Zona da Mata nordestina, mas, colocada nesse contexto imaginário, acho que ela ganha outras cores. Cores caribenhas, na verdade, porque a Ilha, a nossa “atlântida”, ficava a meio caminho entre o oeste da África e o Golfo do México. Uma latitude e longitude que a deixavam praticamente ao lado do Mar do Caribe – ou seja, uma Ilha que parecia pouco com a Atlântida dos livros, e parecia muito com Cuba, Jamaica, Porto Rico... Lembrei de uma frase de Gabriel Garcia Márquez numa entrevista, quando ele disse que o Recife era a cidade mais caribenha que ele conheceu fora do Mar do Caribe. Na época, fizemos os versos iniciais de uma canção glosando esse mote, explorando a assonância entre Caribe e Capibaribe: Lá, onde o mar bebe o Capibaribe... Coroado leão, caribenha nação longe do Caribe. “Coroado leão” é uma referência futebolística que nos era inevitável, mas esse fragmento, que tinha ficado como um começo apenas, encontrou seu complemento com a canção da Ilha. Lenine pensava em termos de canções, eu pensava em termos de histórias. Cheguei a rabiscar resumos de contos que eu poderia ambientar nessa Ilha, contos focados apenas nos personagens e deixando essa questão históricogeográfica como um pano-de-fundo remoto, mero ambiente, sem obrigação de explicar muita coisa. Não avancei nessa direção porque nessa mesma época eu estava empenhado noutro projeto de “worldbuilding”: a criação da cidade imaginária de Campinoigandres, uma cidade árabe-ibérica no Portugal do século 14, onde ambientei vários contos e o meu romance A Máquina Voadora (1994). Mas aí já é outra história. “Tuareg e Nagô” foi lançada no Olho de Peixe em 1993 e teve várias regravações; minha preferida entre elas é a de Mônica Salmaso, em Trampolim: https://www.youtube.com/watch?v=kirM7tkAvD4&ab_channel=M%C3%B4nicaS almaso-Topic Tuareg e Nagô (Lenine/BT) É a festa dos negros coroados no batuque que abala o firmamento, é a sombra dos séculos guardados, é o rosto do girassol dos ventos... É a chuva, o roncar de cachoeiras na floresta onde o tempo toma impulso, é a força que doma a terra inteira as bandeiras de fogo do crepúsculo... Quando o grego cruzou Gibraltar onde o negro também navegou beduíno saiu de Dacar e o Viking no mar se atirou... Uma ilha no meio do mar era a rota do navegador fortaleza, taberna e pomar num país Tuareg e Nagô. É o brilho dos trilhos que suportam o gemido de mil canaviais, estandarte em veludo e pedrarias batuqueiro, coração dos carnavais... É o frevo a jogar pernas e braços no alarido de um povo a se inventar, é o conjuro de ritos e mistérios, é um vulto ancestral de além-mar. Quando o grego cruzou Gibraltar onde o negro também navegou beduíno saiu de Dacar e o Viking no mar se atirou. Era o porto pra quem procurava o país onde o sol vai se pôr e o seu povo no céu batizava as estrelas ao sul do Equador. 5007) A Queda da Casa de Usher (30.11.2023) Edgar Allan Poe deve estar se remexendo dentro do túmulo, a julgar pelas recentes adaptações de sua obra ao cinema e à TV. Não que sejam todas ruins, mas porque este é o karma ancestral de Edgar, autor de “O Enterramento Prematuro”. A adaptação mais recente, por sinal, é bastante boa, dirigida pelo especialista em horror Mike Flanagan (Doctor Sleep, The Midnight Club etc.), e que adota uma técnica que parece a dos enredos de escola de samba – apertar no espaço disponível o máximo de informações relativas ao tema. A Queda da Casa de Usher (Netflix, 8 episódios) é um melodrama Grand Guignol que não economiza sangue, animais monstruosos, mutilações, traições cruéis, vinganças diabólicas, inimigos sobrenaturais. Dito assim parece uma coisa inassistível, mas a verdade é que o excesso de estilização da narrativa acaba diluindo o “gore” (o horror especificamente físico) e transformando tudo num espetáculo tão artificial e pouco realista quanto uma ópera. Flanagan faz uma colcha-de-retalhos da obra de Poe, lançando mão de várias histórias, entrelaçando-as umas às outras, e distribuindo nomes de personagens com a prodigalidade de um rei distribuindo títulos de nobreza a quem o apóia. O enredo: o magnata Roderick Usher e sua irmã Madeline são chefes do conglomerado farmacêutico “Fortunato”, que destrói a saúde da população com remédios de efeitos colaterais mortíferos. Madeline é solteira, mas Roderick tem dois filhos legítimos e quatro ilegítimos, todos eles herdeiros de sua fortuna. E todos, em certa medida, odiando-se uns aos outros. A “Fortunato” está sendo submetida a um processo judicial, conduzido pelo investigador Auguste Dupin. Na juventude ele e Roderick eram amigos, depois romperam relações, mas resta algum respeito mútuo entre os dois. (Carl Lumbly como "Dupin", Bruce Greenwood como "Usher") A série toda é um longo flashback em que Roderick chama Dupin a sua casa para lhe explicar como e por quê seus seis filhos foram assassinados, um após o outro, no espaço de poucos dias. A conversa entre os dois é a moldura mais ampla que envolve os oito episódios. Bilionários e “serial killers” são dois temas constantes na dramaturgia do século, ligados por um vínculo essencial, que talvez seja a alucinação do poder absoluto. Os crimes desta série seguem o modelo do conto referido em cada episódio: “A Máscara da Morte Rubra”, “Os Crimes da Rua Morgue”, “O Gato Preto”... Há um certo exagero “gore”, mas é bom ter em mente que o mesmo nível de exagero já está nos contos de Poe, escritor fascinado por mortes bizarras, mecanicamente produzidas, com excesso de mutilação e horror. Isto, para mim, coloca a série dentro do subgênero dos “crimes seriais” em que existe um padrão para os assassinatos. Exemplos típicos são O Abominável Dr. Phibes (Robert Fuest, 1971), com Vincent Price, onde os crimes seguem o padrão das pragas do Egito; e As Sete Máscaras da Morte (Douglas Hickox, 1973), também com Price, onde os crimes fazem citação a peças de Shakespeare. (Carla Gugino como "Verna") Mike Flanagan toma muitas liberdades com os textos originais de Poe, mas isto nem é defeito nem é novidade. São raras a adaptações fiéis dos contos de Poe. As mais conhecidas e mais cult são as que Roger Corman produziu e dirigiu na década de 1960, e têm pouquíssimo a ver com o original. Poe está ali como uma inspiração, uma aura, um diapasão para afinar o inconsciente coletivo de roteiristas, diretores e elenco. No presente caso, Flanagan conta com uma direção de arte excelente, criando numerosos ambientes, muito diversos entre si, e que reproduzem o mundo mental de cada personagem. É uma família de bilionários, então é lícito supor que cada um dos filhos Usher criou seu ambiente à imagem e semelhança de si mesmo. O elenco também é ótimo, dentro do estilo levemente histérico que filmes desse tipo precisam extrair dos atores. Os diálogos são abundantes, rápidos, as pessoas falam o tempo todo, parecem metralhadoras, e felizmente o streaming nos dá a chance de voltar atrás e ouvir/ler tudo de novo, para poder entender. Eu não gosto de ver filmes deste tipo na sala de cinema. O ponto central do elenco é Roderick Usher, interpretado na velhice por Bruce Greenwood, ótimo ator que já fez o papel de John Kennedy em Dez Dias Que Abalaram o Mundo. Ele tem uma dicção clássica e elegante, e a força impositiva do patriarca. Uma presença curiosa no elenco é a de Mark Hammill, o antigo Luke Skywalker das aventuras espaciais, fazendo aqui o papel de Arthur Gordon Pym, o advogado sinistro e implacável da família Usher. (Mark Hammill como "Arthur Gordon Pym") Narrativas referenciais como esta, maciçamente baseadas numa obra préexistente, deparam-se às vezes com um problema de verossimilhança. Lembrome da novela Mandala (1987-88) da Rede Globo, em que o mito de Édipo era trazido para os tempos modernos com um elenco que incluía Felipe Camargo (Édipo), Vera Fischer (Jocasta) e Perry Salles (Laio). Na época, a seção de cartas de leitores dos jornais vivia cheia de protesto neste tom: “Será que esse pessoal não se toca? O cara se chama Édipo, conhece uma mulher chamada Jocasta... Eles nunca leram sobre as lendas gregas? Eles não sabem o perigo que ambos estão correndo?” A questão levantada pelos leitores tem partes iguais de razão e de ingenuidade. De fato – vivemos num mundo em que até o conceito de “Complexo de Édipo” foi criado a partir da lenda, e o cara tem esse nome e não sabe?! Por outro lado, mesmo sendo uma história modernizada, que se passa no Brasil contemporâneo, é preciso – para que a história faça sentido, e a tragédia implacável se cumpra – que a lenda seja ignorada. Que tudo aquilo esteja acontecendo “pela primeira vez”. Portanto, Mandala da Globo existia num universo paralelo em que a lenda grega de Édipo (e a peça de Sófocles) não existem. É um pouco como a situação do filme Yesterday (2019, Danny Boyle), em que um rapaz vai parar num universo onde os Beatles não existiram... e ele fica milionário tocando as músicas de Lennon & McCartney e dizendo que são suas. Para que a história da Queda da Casa de Usher faça sentido, é preciso que tudo aquilo aconteça num universo onde a obra de Edgar Allan Poe (que impregna todas as situações, todos os personagens) não exista – para que seus personagens não saibam avaliar o perigo de um gato preto, de um cálice de Amontillado, e assim por diante. Que eu me lembre, o nome de Edgar Poe não é citado por nenhum dos personagens, embora seus versos sejam recitados o tempo inteiro. É um universo paralelo onde aqueles personagens não vieram ao mundo no século 19, mas no 21, com os mesmos nomes, mais ou menos os mesmos traços biográficos, personalidades semelhantes, etc. Todos cumprindo ali o karma de serem personagens de um dos criadores do gênero horror – mas eles não o sabem, pensam que são pessoas como as outras, e por isto caminham cegamente para a destruição que nós, no universo do lado de cá, sabemos ser inevitável. 5008) Contracapa de Midjourney (3.12.2023) (by Remedios Varo) & o choro é livre, e a gargalhada também & uma multidão sem texto e sem ensaio não é capaz de muita coisa & a força da gravidade é uma mistura de ação presencial e wi-fi & o espelho tem sempre esse fantasma-pronto à minha espera & façam o que quiserem com esse boneco de cera: não se parece comigo nem um pouco & a melhor maneira de conhecer a honestidade de alguém é fazendo-lhe uma proposta que você acharia irrecusável & uma foto preserva um segundo do Passado, e afunda o resto nas trevas do esquecimento & tem gente que sempre repete as frases que diz, como se quisesse deixá-las em negrito & entre outras variantes clássicas, tem tido muita aceitação ultimamente o conceito de “a boçalidade do mal” & nada como o silêncio luminoso das noites do sertão & tem gente que lava o rosto e depois joga a água fora sem nem agradecer a ela & fazer uma distinção assim é um pouco como dizer que os biscoitos se dividem em redondos e quadrados & certos filmes antigos têm o encanto dos navios naufragados, das catedrais em ruínas & o bom enxadrista é o que consegue usar as peças do adversário para fazer sua jogada & nos fuzilamentos vendam-se os olhos do prisioneiro para proteção dos executores & a paz não pode destruir, mas pode diluir a guerra & certos textos parecem radioativos, basta ler aquilo e o pensamento fica envenenado & o bom cineasta filma um pavão em preto-e-branco e ninguém percebe & “Autoriza o árbitro!...” – e desautoriza o juiz & onde subiu prédio sofreu pedreiro & o tempo não se desloca, ele vibra, ele estremece & o conceito de qualidade literária muda mais do que corte de cabelo & liberdade hoje é como um colírio,que a gente leva no bolso e pinga um pinguinho quando sente falta & uma pedra no caminho incomoda menos do que uma pedra no sapato & a elevação dos oceanos libertará a população que mora nos aquários, ou a sufocará? & a pena é mais poderosa do que a espada porque pode desenhar uma balança onde ela tem mais peso & todo jatinho de empresário é um cavalo de Tróia & em vez de proibir qualquer coisa, deviam ridicularizar, ia dar muito mais resultado & ensinar não é iluminar, é acender & Deus não é onipresente caso o seu castigo chegue mais longe do que o seu perdão & ser honesto não é uma fraqueza, embora alguns sejam honestos porque lhes falta a força de não sê-lo & eu me calei para ouvir os pássaros, mas eles tinham se calado para ouvir a folhagem & ele tinha aquela nobreza das pessoas feias que sabem só poder contar consigo mesmas & um homem vai ser fuzilado mas pede para esperarem o nascer da lua cheia & todo mundo tem um olho que enxerga melhor que o outro & não, o gênero do Romance não está morto, está apenas num estado agudo de catalepsia mental 5009) Exu, o viajante no tempo (6.12.2023) Um ditado popular afirma que “Exu matou ontem um pássaro com uma pedra que jogou hoje.” E por que não poderia? No meu entendimento, Exu é o abridor (e fechador, quando lhe interessa) de caminhos, o portador de mensagens ou de mercadorias. É o Hermes dos gregos e o Mercúrio dos romanos. Uma de suas funções é de pegar alguma coisa em A e transportar para B. É um viabilizador de procedimentos, como diria algum desses geniozinhos corporativos de terno-e-camisa pretos e cabelo desenhado. “Exu entrega,” garantiriam eles, eufóricos com a miragem de metas-de-desempenho. Preciso desde logo deixar claro que, para mim, a discussão sobre quem é Exu, e o que faz Exu, está em pleno domínio do simbólico e do anímico, da imaginação personificadora. Eu não perco o sono imaginando se Exu existe. Para mim, ele existe no mesmo plano de realidade que Édipo, Sherlock Holmes, Super-Homem, Dr. Who... É um personagem, um arquétipo, um ícone. Não é algo em que a gente “acredita”, é algo que a gente concebe, examina, usa para tirar conclusões, para imaginar variantes. A “imagem” de cada um deles (“imagem” total, muito mais além da simples representação visual) é como a senha de acesso para o desencadeamento de um processo criativo que envolve memória, associação de idéias, imaginação, desejo, aceitação, recusa. Exu é igual a porta, portal, porteira, ponte, passagem? Tenho essa imagem meio esboçada na imaginação. Salvo melhor juízo, Exu pode ser também um facilitador, um zangão do Detran, um coiote da fronteira Texas-México, um guiaesperto-para-turistas-indefesos. Um removedor de coágulos. Um desengasgador de gargalos. (E, sempre, o contrário disso tudo. Quando lhe convém.) E, vejam só: por este raciocínio, Exu é um desembargador. Porque esta palavra vem de “des + embargar”, e embargar é “embarricar”, “criar barricadas”, “trancar com barras”, “encher de obstáculos”, “impedir a passagem”. E, reversamente, desembargar é facilitar o fluxo, liberar a via, dizer para a multidão: “Bora, pessoal – circulaaandooo!...” E os nossos Desembargadores, é claro, são discípulos humanos manipulando o poder do exuísmo. Embargam quem os incomoda. E desembargam quem os favorece. Exu é uma Rua da Passagem. Se Exu é personificação desse conceito abstrato, isto significa que ele não é limitado, quando está em pleno uso de seus poderes, pelas restrições normais de tempo, espaço e causalidade. Exu é capaz de desafiar o fluxo unidirecional do tempo, e a própria Segunda Lei da Termodinâmica. A Segunda Lei da Termodinâmica diz que o Universo como um todo está se encaminhando para uma morte térmica, uma dissipação irremediável de energia, que ocorrerá quando todas as estrelas existentes tiverem consumido o combustível nuclear que as alimenta. Não haverá mais pontos de fogo e de luz no Universo, e ele se tornará um espaço indiferenciado, escuro e frio. Exu acende um cigarro, bota os pés em cima da escrivaninha, e argumenta: “Beleza, mas vamos lembrar que a Segunda Lei da Termodinâmica, como qualquer outra lei, tem os seus pontos fracos, as suas brechas, os seus interstícios. Dá pra negociar. Dá pra transgredir aqui e ali... e escapar impune.” Quebrar a flecha do tempo, para Exu, é besteirinha. Ele se evade das restrições físicas de tempo e de espaço, pulando para uma dimensão extra a que não temos acesso. Exu é como o cavalo do jogo do xadrez – o único capaz de pular por cima das casas vazias e das casas ocupadas por outras peças. Para o restante das “peças pedestres” do jogo, o cavalo é um orixá mágico. Vejam só – ele está num ponto, e logo em seguida, magicamente, sem ter transposto o espaço intermédio, aparece num ponto mais à frente. Ou mais atrás. O nosso conceito de tempo (nosso – seres humanos, demasiado humanos, sujeitos à velhice, e Segunda Lei da Termodinâmica) se parece com o dos peões do xadrez. Andamos somente uma casa de cada vez, e sempre em frente, não podemos andar de lado, nem pegar uma transversal oblíqua, e muito menos andar para trás. O tabuleiro de xadrez é uma boa metáfora para o universo onde convivem seres naturais (os peões = os humanos) e seres sobrenaturais (=as outras peças) que podem ir de um lado para outro, transpor enormes distâncias, ir para a frente (=o futuro), ir para trás (=o passado), cada um deles submetido às suas próprias regras e limitações, mas com uma liberdade que nós, meros peões, nem sequer imaginamos. E o cavalo tem uma liberdade a mais que todos: a de saltar usando os túneis de outra dimensão. O tempo de Exu não é uma seta em direção perpetuamente única. É uma espiral, onde ele vive eternamente indo e voltando, consertando aqui, complicando acolá, voltando atrás para resolver um problema, pulando à frente para retomar o caminho, curando uma situação passada, correndo para evitar um efeito colateral futuro. Feito aquele pessoal da escola de samba, que durante o desfile, enquanto a escola avança como um rio vagaroso, fica correndo pra frente e pra trás, coordenando, mandando acelerar, mandando segurar um pouco... O tempo não é uma linha, pelo contrário, é um tabuleiro de muitas dimensões onde Exu passeia dentro de sua própria jurisdição. Abrindo caminhos. Transportando energia. Administrando trocas. Puxando a ponta de cada elástico para gerar uma tensão-de-necessidade, um traslado de forças que deverá ser cumprido. Recebendo a bola rebatida pelos zagueiros e acionando os pontas-de-lança. Exu não precisa necessariamente fazer o gol. Ele até prefere deixar isso para entidades mais visíveis e famosas, que só fazem isso mesmo, empurrar a bola do Acaso para dentro da rede do Destino. E que por isto ficam com a fama de Onipotentes, de Resolvedores, de Supremos Poderes. Que nada. Têm seu poder, sim, mas nada seriam sem a costura incansável de Exu. Carregador de piano. E que, quando é preciso, faz a ligação entre a defesa e o ataque, conduz de uma área até a outra; esconde a bola, sem permitir o desarme; ou toca a bola de primeira, lançando vertical, em profundidade. Daí que lhe seja possível viajar no Tempo, mexer no código-fonte dos acontecimentos, banhar-se de novo no mesmo rio, retroagir no interior de um evento até transformá-lo no seu inverso. Claro que Exu (ou qualquer ente capaz de viajar no Tempo) não é onipotente, não pode executar tudo que desejaria; mesmo ele tem limites. Mas ele obedece à seta do Tempo como nós, humanos, obedecemos à Força da Gravidade, que funciona por igual sobre todas as coisas, mas que conseguimos eludir. Porque afinal de contas somos capazes de erguer balões de gás, foguetes, dirigíveis, asas-delta. Domesticamos forças capazes de contrabalançar a atração da gravidade, e as usamos em nosso benefício. Assim fazem os viajantes no Tempo: conseguem, de maneira localizada, específica, contrabalançar a seta do Tempo e acessar, de maneira limitada mas bastante útil, momentos específicos do futuro e do passado. E conseguem voltar trazendo uma prova. Uma flor? Não; talvez um pássaro. Exu mata a ave e mostra a pedra. 5010) Seis animais estranhos (9.12.2023) 1 Na Austrália setentrional pode ser encontrado, com o auxílio de guias aborígines, um roedor chamado por eles de niawohl (pronúncia: “ni-Á-wohl”) e que os colonos ingleses acostumaram-se a chamar de open-hand (“mão aberta”). Tratase de um tipo raro de aracnídeo, de seis patas, e sua aparência lembra uma mão peluda que se movimenta com surpreendente rapidez e agilidade. O animal alimenta-se de cascas de árvores e de pequenos insetos. É sensível à luz solar mas precisa de calor, de modo que muitas vezes é encontrado nas proximidades de fogueiras, fornos, caieiras, etc. É inofensivo aos seres humanos, a não ser quando atacado, o que acontece às vezes pelo seu hábito de se aconchegar a pessoas adormecidas, em busca de calor corporal. 2 O passarinho-bêrde é uma ave esquiva, com plumagem esverdeada de uma coloração uniforme e inconfundível que se estende até o bico e as patas. Como tem muitos predadores, é um alvo preferencial dos observadores de pássaros e dos fotógrafos, que muitas vezes passam dias no campo à espera de um avistamento. Tido como sinal de boa sorte pelas populações rurais, é uma espécie considerada “vulnerável” pelas entidades ambientais, e tem seus habitats mais típicos na Península Ibérica e nas Ilhas Britânicas. 3 A cobra-bainha pode ser encontrada em certas áreas do Brejo paraibano, e da região vizinha do Curimataú. É um réptil típico de regiões úmidas, férteis, abundantes em pequenos roedores que são seu alimento principal. O aspecto mais curioso dessas serpentes é que quando mudam de pele elas, ao contrário de outras espécies, não abandonam a pele antiga, mas a guardam cuidadosamente dentro de suas tocas ou de seus abrigos. Quando ameaçadas ou sentindo-se em perigo, as cobras-bainhas voltam a se enfiar no interior da pele velha e ali se mantém imóveis. Segundo os zoólogos, é um mecanismo instintivo de camuflagem e auto-proteção, que torna esta espécie bastante distinta de outras que, mal saídas da pele antiga, se dedicam a devorá-la. 4 O lagarto come-lixo, espécie nativa da Guatemala, apesar de tecnicamente ser um lagarto tem o corpo rotundo e a pele rajada de um sapo, além de uma boca descomunal munida de dentes serrilhados. Animal de hábitos soturnos e introspectivos, prefere manter-se imóvel por longos períodos de tempo, desde que haja alguém para alimentá-lo. Em vista disso, as populações rurais costumam criar um ou dois deles no fundo do quintal, em curraizinhos feitos com troncos de bananeira, e todo o lixo produzido na casa é levado para os lagartos, que o devoram imediatamente. São capazes de comer (além de restos de refeições, cascas de fruta, etc.) pano, papel, plástico, alguns tipos leves de madeira. Tê-los em casa é uma maneira prática de se livrar do lixo doméstico, mas por outro lado é preciso produzir esse lixo constantemente, pois com apenas algumas horas de jejum os come-lixo se inquietam e manifestam a tendência de invadir a casa, mastigando tudo que lhes aparecer pela frente. 5 A buba é um peixe típico do Oceano Índico, com tamanho médio de trinta centímetros e carne saborosa. Seu traço característico é uma bolha inflável, uma espécie de air-bag orgânico que ela conduz, dobrada e oculta, junto à cauda. Ao se sentir perseguida por um predador, ela começa a inflar essa bolha, cuja face interior é percorrida por uma complexa rede de vasos sebáceos, que se dilatam e pulsam quando estimulados, fazendo a bolha aumentar muito de tamanho e adquirir a aparência de uma posta de carne suculenta. Quando o predador crava ali os dentes, eles ficam presos à gosma pegajosa secretada por aqueles vasos, e não consegue nem mastigar nem libertar a boca. A buba, cujo corpo é longo e flexível como o de uma enguia, volta-se sobre si mesma e ataca a cabeça do predador com seus dentes longos e pontiagudos, do tamanho de alfinetes. 6 O gambaju é um artrópode encontradiço na ilha de Madagascar, tendo seu habitat preferido entre ruínas e encostas pedregosas. A principal curiosidade a seu respeito é o seu modo único de crescimento. Seu corpo é dividido, como ocorre com as centopeias, em cabeça e vários segmentos mais compridos, alguns deles com um par de pernas, outros com dois. Ele cresce a partir da parte posterior da cabeça, que periodicamente começa a emitir um pedúnculo mais fino (chamado “pescoço” por alguns), o qual gradativamente adquire uma cobertura quitinosa protetora. Enquanto isto, o último segmento começa a ficar opaco, descolorido, quebradiço, e por fim resseca e se desprende espontaneamente do corpo, quando o novo segmento junto à cabeça adquire a maturidade. 5011) Um Louvre dentro de um Titanic (12.12.2023) As leituras da obra de Jules Verne são hoje em dia, tanto tempo após sua morte (Verne morreu quando Machado de Assis ainda estava vivo), as mais variadas possíveis. Curiosamente, na França multiplicam-se as leituras místicas, ocultistas e esotéricas de seus livros, apelando para simbologia alquímica, magia ritual, sociedades secretas... A obra de Verne, vista por esse ângulo, renderia um novo Pêndulo de Foucault a Umberto Eco. Verne escreveu metodicamente, abundantemente, produzindo livros de aventuras empapados de ciência, com a regularidade de um mecanismo de relojoaria. Dois romances por ano. A leitura de seus livros em sequência nos revela a sua curiosidade sobre o conhecimento científico, o seu otimismo tecnológico, o seu senso de aventura “aconchegante e confortável”... Uma leitura específica que sempre me esclareceu foi a que Roland Barthes faz em Mitologias (1957) sobre o Capitão Nemo e suas aventuras (“Nautilus e Bateau Ivre”). Barthes vê com olho esperto o Capitão Nemo e seus ideais de herói romântico; tendo rompido com a humanidade, ele na verdade nem quer destruir nem consertar o mundo, apenas afastar-se dele. A descrição de Barthes é toda cheia de simpatia irônica: A imaginação da viagem corresponde em Verne a uma exploração da clausura, e o bom entendimento que existe entre Verne e a infância não provém de uma mística banal da aventura, mas, pelo contrário, de um gosto comum pelo finito, que se pode encontrar na paixão infantil pelas cabanas e tendas: enclausurarse e instalar-se, este é o sonho existencial da infância e de Verne. O arquétipo deste sonho é esse romance quase perfeito, A Ilha Misteriosa, no qual o homemcriança reinventa o mundo, povoa-o, fecha-o e nele se encerra, coroando este esforço enciclopédico com a postura burguesa da apropriação: pantufas, cachimbo e lareira, enquanto lá fora a tempestade, isto é, o infinito, uiva inutilmente. (Mitologias, Difusão Européia do Livro, trad. Rita Buongermino, Pedro de Souza e Rejane Janowitzer, p. 118) Barthes estabelece um contraste interessante entre este herói romântico introvertido e os heróis românticos extrovertidos de tantos romances europeus de aventura, exploração e conquista. Jules Verne escrevia para jovens, e mantinha em seus enredos a pulsação excitante de toda aventura de peripécias. Outros autores, contudo, na época dele e depois dele, usavam essas aventuras em lugares exóticos para criar parábolas onde não enxergamos propriamente o entusiasmo colonialista de ocupar novos territórios, mas a narração de uma aventura geográfica com ressonância mais profundas – ressonâncias simbólicas onde as terras e as ilhas desconhecidas são as partes inexploradas da alma humana. Como René Daumal e seu famoso Mount Analogue (que tem como subtítulo “Romance de aventuras alpinistas, não-euclidianas, e simbolicamente autênticas”), em que um grupo de exploradores é arregimentado por um cientista com a finalidade de descobrir uma ilha misteriosa no Pacífico Sul, tornada invisível por uma anomalia gravitacional. Ou as excursões insólitas dos romances de Georges Perec (W, ou a Memória da Infância; A Vida, Modo de Usar) e Harry Matthews (Conversions), em busca de objetivos ligeiramente absurdos, demandas sem utilidade aparente, em que o explorador sente-se como que obedecendo a uma força superior. É um gesto aventureiro diferente do gesto de Verne com seu Capitão Nemo: Verne não procurava de modo algum distender o mundo conforme as vias românticas da evasão ou de planos místicos de infinito: procurava incessantemente retraí-lo, reduzindo-o a um espaço conhecido e fechado, que o homem poderia em seguida habitar confortavelmente. (p. 119) O que torna fascinante a obra do criador de Phileas Fogg é justamente a possibilidade de ver nela este duplo impulso. Por um lado, um impulso para fora, de aventura, descoberta e conquista, característico da literatura do século 19, de um colonialismo triunfante decidido a ocupar e mapear os menores recantos do mundo. E ao mesmo tempo a recusa a uma expansão infinita; o comodismo de dizer “pronto, game over,já conquistamos o mundo, agora vamos ignorar o resto”. Culturas como a Europa e os Estados Unidos de hoje se parecem com o “Nautilus” de Nemo, um imenso repositório de riquezas culturais arrecadadas por todos os cantos do mundo e remetidas para a capital do império. Um imenso Louvre ou Museu Britânico obtido através das conquistas militares, econômicas e políticas. E ao mesmo tempo um Louvre que está sendo remetido para dentro de um Titanic, de um receptáculo que mesmo gigantesco parece destinado ao naufrágio, fadado a suicidar-se pelo seu próprio peso. O gesto profundo de Júlio Verne é portanto, incontestavelmente, o da apropriação. A viagem do barco, tão importante na mitologia de Verne, não contradiz este gesto, muito pelo contrário: o barco pode ser o símbolo da partida; mais profundamente, é o sinal da clausura. O gosto pelo navio é sempre a alegria do enclausuramento perfeito, do domínio do maior número possível de objetos, do ato de dispor de um espaço totalmente finito: amar os navios é, antes de mais nada, amar uma casa superlativa, porque fechada sem remissão, e de modo algum as grandes e indeterminadas partidas. O navio é uma ação do habitat, antes de ser um meio de transporte. (p. 121) 5012) A palavra obrigado (15.12.2023) Existe em nós um prazer maligno no ato de interferir na linguagem coletiva e estabelecer, “do nada”, que de agora em diante algumas coisas são proibidas e outras são obrigatórias. Quando quem faz isto é o vizinho do lado, que se limita a bradar seus impropérios, tudo bem; o pior é quando quem faz isso é uma massa amorfa de gente ansiosa para aderir a uma moda qualquer e sentir-se significativa. Na minha infância, certas palavras eram consideradas de mau gosto. Eram termos plebeus, grosseiros, que gente direita não usava. Algumas tias minhas, quando em reuniões um pouco mais formais, com pessoas de fora da família, nunca diziam: “Fulana está grávida”. Diziam: “Fulana está esperando”. Ou, melhor ainda: “Fulana está em estado interessante”. Minha curiosidade sheldoniana era: Grávida é palavrão? Não, elas me asseguravam. É que é mais educado dizer assim. Me vinha à mente o exemplo (se não me engano) do Conselheiro Acácio, de Eça de Queiroz, que não dizia “vomitar”, e sim “restituir”, e fazia um gesto ilustrativo. Há sempre um eufemismo que serve para mostrar o quanto somos refinados, bem-falantes, o quanto sabemos o que é delicadeza e não precisamos olhar no dicionário o significado de circunlóquio nem o de cerca-lourenço. Um eufemismo muito em voga atualmente é “gratidão” no lugar de “muito obrigado”. Vários amigos e amigas com quem converso preferem essa forma. E me explicam. “Muito obrigado” passa uma idéia de que você se sente coagido, preso, se sente forçado a agradecer, está sendo obrigado a agradecer mas por sua vontade não agradeceria. Ao passo que “gratidão”, este mero substantivo, tem a clareza e a pureza de exprimir, sem subterfúgios, o que você está sentindo diante do gesto alheio. É sempre divertido xeretar as origens dos termos, e me veio à idéia buscar as origens de “obrigado”, até porque me interessava saber se havia alguma relação etimológica com o verbo “brigar”. Quantas vezes dizemos “’Brigado!...”, “ ‘Brigadão!...” (Spoiler: não tem.) Fui olhar no útil etymonline.com a palavra “obligation”, e eis que ela advém do latim “ob-ligationem”, que envolve a idéia de “ligar”, unir, prender através de um laço (concreto, ou simbólico); a idéia de vínculo através de um compromisso, de uma promessa, de uma dívida, de um pacto, e assim por diante. Daí vem a interpretação corrente, de que você me fez um favor ou uma gentileza, e por isto estou ligado a você por esse vínculo de gratidão; é algo que nos une simbolicamente. A crítica que se faz a “obrigado” talvez se origine de um certo desconforto quanto à nuance de “estou te devendo um favor” “estou ligado a você por uma dívida que serei coagido a pagar mais cedo ou mais tarde”. Essa dívida é real? Para muita gente, sim. O favor é uma moeda perigosa, sujeita ao câmbio flutuante das relações de poder. Às vezes o sujeito me dá uma carona numa noite de chuva e meses depois pede meu carro emprestado para ir a um show de rock. A questão de “pagar de volta um favor” transforma a arte de ajudar alguém uma espécie de agiotagem da bondade. Como dizia um sábio, “cuidado com quem lhe dá alguma coisa que você não pediu, porque cedo ou tarde vai lhe pedir alguma coisa que você não pretendia dar”. (Theodore Sturgeon e Robert Heinlein) O gesto de pagar de volta um favor qualquer é sempre um gesto positivo. Mas igualmente positivo é o gesto de pagar para diante, “to pay forward”, como dizem os norte-americanos. Dizem que Theodore Sturgeon, o grande escritor de More Than Human, estava uma vez numa pindaíba que dava dó. O igualmente grande Robert Heinlein, que estava com um ou dois livros na lista de best-sellers, ficou sabendo e mandou-lhe pelo correio um cheque que lhe zerava as dívidas. Sturgeon agradeceu e disse que pagaria de volta, quando pudesse. Heinlein disse: “Não precisa me pagar. Quando vir alguém que precisa, e puder ajudar, ajude. Pague para diante.” Eu não me sinto manietado nem jungido quando mando meu muito-obrigado a alguém. A carga de significado desse agradecimento está mais na posição que ele ocupa no encadeamento do diálogo do que no sumo semântico de seus termos. Esqueçam os termos em si. Como diz um amigo meu, quando a gente chama um sujeito qualquer de filho-da-puta não está tentando ofender a mãe dele, uma santa senhora que não merece o filho canalha que tem. Na minha cabeça, a palavra “obrigatoriedade” evoca idéias de autoritarismo, perda do livre arbítrio, cerceamento da liberdade. Curiosamente, a expressão “muito obrigado” não carrega (falo de minha leitura pessoal) nenhuma dessas conotações. Por alguma tresleitura feita na infância, algum entendimento enviesado do que os adultos estavam dizendo, sempre traduzi “muito obrigado” por “muito agradecido”, e essa fórmula para mim encerrava a questão. Você me faz um favor. Eu reconheço, registro, agradeço, e boa tarde. Eu nada tenho contra quem usa “gratidão”, e na verdade nem percebo mais. Digo “obrigado!” há décadas e espero continuar a fazê-lo por muitas décadas mais. Embora atualmente me veja dando preferência ao popular “Valeu!...”. Ele me parece uma versão mais informal desse termo, uma versão mais calça-jeanse-camiseta. “Obrigado” ainda é um pouco camisa-social-de-mangas-compridas. 5013) Andrés Fava, avatar de Cortázar (18.12.2023) Andrés Fava é um dos personagens do romance O Exame Final (“El Examen”) de Julio Cortázar, um curioso livro que Cortázar escreveu em 1950, pouco antes de deixar a Argentina em definitivo para ir morar em Paris. O romance ficou inédito durante a vida do autor, e só teve publicação póstuma (1986). Para essa publicação, Cortázar deixou uma nota em que dizia: (...) Publico hoje este velho relato porque me agrada irremediavelmente sua linguagem livre, sua fábula sem moral-da-história, sua melancolia portenha, e também porque o pesadelo de onde nasceu continua desperto e anda pelas ruas. Julio Cortázar, esse simpático e otimista cronópio, a quem foi poupada a visão da Argentina de hoje. Em paralelo a El Examen, surgiu em 1995 o Diário de Andrés Fava (no Brasil: Ed. José Olympio, 1997). A tradução brasileira é de Mario Pontes. O diário roça apenas muito de leve pelos acontecimentos e personagens do romance, e consiste em reflexões de Andrés Fava sobre literatura, (principalmente), política, a vida em geral. São anotações, fragmentos, aforismos curtos, algumas argumentações mais concatenadas que se estendem por duas ou três páginas. Fava é claramente um avatar do Horácio Oliveira de O Jogo da Amarelinha (“Rayuela”, 1963) – um homem jovem, preocupado o tempo inteiro com questões literárias e existenciais. Cortázar parecia não ter Oliveira, seu personagem mais famoso, em alta conta: em suas entrevistas com Omar Prego ele descreve o personagem como “um medíocre, sem nenhum talento especial”. Em todo caso, esses personagens são sempre parte de uma turma, um grupo de amigos (homens e mulheres) jovens, muito próximos, com variadas opiniões sobre tudo, desde a política até a estética. É sobre estas turmas que Cortázar escreve em Divertimento (1949, publicado em 1986), Rayuela (1963), 62: Modelo para Armar (1968), O Livro de Manuel (1973) – e em El Examen, onde Andrés Fava tem a função de coadjuvante e anotador. Cortázar é um anotador compulsivo de fragmentos e reflexões curtas. O caráter fragmentário de Rayuela se deve em grande parte a esse método criativo por acreção, por acréscimo gradual de reflexões aleatórias: Porque eu tinha, nas gavetas, em cima das mesas e em outros cantos de Paris, montanhas de papeizinhos e cadernetas onde, principalmente nos cafés, tinha ido anotando coisas, impressões. (...) Em Paris avancei, juntando todos aqueles papeizinhos e movido pelo que havia neles, que jamais tinham sido escritos com a intenção de serem um romance. Repito que escrevi esses papeizinhos em diferentes cafés, em épocas diferentes. Entre um papelzinho e outro podem terse passado cinco ou seis anos. (O Fascínio das Palavras, Julio Cortázar e Omar Prego, trad. Eric Nepomuceno, José Olympio, 1991) É idêntico o modo de composição do diário de Andrés Fava, que em termos de enredo é o antecessor mais imediato de Rayuela. Pode-se simplificar a questão dizendo que enquanto o autor dividiu em dois livros autônomos a primeira narrativa (El Examen e o Diário), em Rayuela ele incrustou o “diário de reflexões” no corpo do próprio romance. O diário de Fava traz reflexões sobre literatura: Balzac – Martínes Estrada me faz lembrar em seu curso – trabalhava de catorze a dezoito horas por dia. Feliz dele, em que a suposta infelicidade do escritormártir (blablablá) aguentava semelhantes estirões. Tenho certeza absoluta de que ele se sentia felicíssimo escrevendo assim; que essa era a finalidade de sua vida, e que as saídas de casa representavam para ele algo assim como trocar a água do aquário, preparar os olhos e o coração para ir até onde Rastignac o esperava com impaciência. (p. 84) Ter cuidado com o realismo ao escrever. Evitar a fauna do zoológico, convocar unicórnios e tritões, dando-lhes realidade. (p. 63) A poesia quer ser metafísica, e às vezes consegue sê-lo com Lamartine e Valéry. A poesia inglesa é metafísica sem querer ser, surge no plano metafísico, que é seu céu e sua graça. Onde Mallarmé chega com seu último e extenuante bater de asas, Shelley já está naturalmente plantado como uma copa de árvore. (p. 37) É difícil saber em que medida esses comentários são a visão pessoal do escritor Cortázar ou são a visão que ele atribui a seu personagem Andrés Fava. Em todo caso, é divertido vê-lo citar autores policiais em mistura aos clássicos: Vagus quidam, como Petrarca dizia de um discípulo. Leio Suetônio, Tácito, Ellery Queen... (p. 63) O termo em latim refere-se a um estudante que lê o que lhe cai nas mãos, sem se concentrar num só tema. Nas conversas com Omar Prego, o autor argentino deixa suas preferências muito claras: Já a partir dos 16 ou 17 anos eu era um onívoro capaz de devorar os Ensaios de Montaigne, alternados com As aventuras de Buffalo Bill, Sexton Blake, Edgar Wallace, os romances policiais da época (fui um grande leitor de romances policiais) e os Diálogos de Platão. (O Fascínio das Palavras, p. 37) Andrés Fava também não deixa de comentar obras de ficção científica: Lido, já meio fora de hora, The Time Machine. Oh, pequena Weena, animalzinho humano, única coisa viva nessa história insuportável. Escrever musiquinhas, brincadeiras e cantigas de roda para Weena. Sentir que a levamos nos braços quando, sozinhos, atravessamos titubeando um aposento às escuras. (p. 22) O autobiografismo criativo faz com que Cortázar atribua a Andrés Fava uma idéia que ele próprio iria desenvolver mais tarde no famoso conto “Continuidade dos Parques” (em Final do Jogo, 1964). Diz Andrés: Não pude nunca escrever bem a história que mostraria essa imbricação da literatura e do objetivo, e ao mesmo tempo o voluntário afastamento daquela, que no fundo odeia o realismo. A idéia é a de um homem sentado em um sofá verde junto de um janelão dando para um parque, lendo um romance em que uma mulher encontra furtivamente o amante, que concorda quanto à necessidade de assassinar o marido para ficarem livres, e sobe a escada que a conduzirá ao quarto onde o marido, sentado em um sofá verde, ao lado de um janelão, lê um romance... (p. 107-108) Andrés Fava é um avatar de Cortázar numa Buenos Aires sufocante, submersa pelo enorme vagalhão populista do peronismo. El Examen mostra, ao longo de duas noites e um dia, esse grupo de jovens estudantes, intelectuais, cheios de interesses literários e dúvidas existenciais, na Buenos Aires fantasmagórica, invadida por uma neblina escura que se assemelha a uma nuvem-baixa de antimatéria. A “neblina” é o único elemento fantástico nesse romance de caminhadas urbanas sem destino certo, madrugada adentro. Equivale à proibição de ir à popa do navio em Os Prêmios (1960). A neblina escurece as ruas, os prédios, provoca acidentes de trânsito, obriga à interdição de avenidas. Andrés e seus amigos (Juan, Clara, Stella, o Jornalista, o esquisito e ameaçador Abel) andam por essa Buenos Aires ao mesmo tempo gótica e plebéia. Cortázar exilou-se voluntariamente em Paris por não suportar a Argentina peronista, que ele considerava grosseira, cafona, pedante, apegada irracionalmente a conceitos abstratos de pátria, família, nacionalismo. El Examen narra, num capítulo quase surrealista, um enorme ajuntamento de pessoas que fazem fila numa praça para admirar uma relíquia, um osso – no qual muitos críticos viram uma prefiguração das multidões que dois anos depois formariam fila para ver o cadáver de Evita Perón. 5014) O filme de Samuel Beckett (21.12.2023) Um dos filmes mais modestamente enigmáticos da História do Cinema é a improvável parceria entre o dramaturgo Samuel Beckett (Prêmio Nobel de Literatura 1969) e o ator Buster Keaton, o rei das comédias-pastelão do cinema mudo. Film (1965) dura apenas 22 minutos, pode ser visto online, e não tem nenhum diálogo, o que de certa forma corresponde ao currículo do ator principal (Keaton) e ao temperamento do roteirista (Beckett). O roteiro foi esboçado por Beckett em 1963, e a filmagem aconteceu em New York, em 1964, com a presença do autor – a única viagem de Samuel Beckett aos Estados Unidos. O diretor do filme, Alan Schneider, tinha experiência apenas teatral, tendo dirigido numerosas montagens da obra de Beckett, inclusive a estréia de Esperando Godot no EUA, em 1956. Film é sua criação cinematográfica mais conhecida. O filme é a narrativa puramente visual, num ambiente urbano meio em ruínas, da aparente fuga de um homem encapotado (Keaton), em plena luz do sol, procurando ocultar-se às vistas de outras pessoas e trancando-se num quarto, onde aparentemente mora. Sempre perseguido pela câmera (que entra com ele no quarto), o homem passa a bloquear tudo que pareça estar observando-o. Coloca cobertores vedando a janela, o espelho, depois cobrindo a gaiola onde há um papagaio, e até mesmo o aquário onde um peixinho parece vigiá-lo. Numa cesta no meio do quarto há um gato e um pequeno cão; o homem leva cada um deles até a porta e os empurra para o corredor. Nste trecho há a única ação que um fã de Buster Keaton pode identificar com suas comédias tradicionais, porque ele põe o gato para fora, vem buscar o cão, e quando abre a porta para livrar-se do cão o gato entra de novo. Isso se repete algumas vezes – é uma gag clássica do cinema mudo. Depois o homem manuseia e rasga algumas fotografias (que supostamente reproduzem sua vida desde a infância), e um desenho pregado na parede. Por fim, a câmera (que estava sempre às suas costas) mostra seu rosto: ele usa uma venda negra sobre o olho esquerdo, e quando olha para a câmera vê-se a si mesmo, como se a câmera fosse seu “duplo”, vigiando-o sem parar. No saite “UbuWeb” (o “YouTube da vanguarda”) há um relato do diretor Alan Schneider descrevendo o entusiasmo e o horror de alguém que está dirigindo um filme-de-verdade pela primeira vez. Exultante por estar trabalhando com dois dos artistas que mais admirava, ele lamenta a própria inépcia, a própria inexperiência, e faz comentários tipo: “O segundo dia de filmagem nos trouxe diferentes problemas, mas foi tão horrendo quanto o primeiro”. A Wikipedia (na sua versão em inglês) tem um verbete surpreendentemente longo e opinativo sobre o filme. Um dos comentários mais interessantes é o que o compara ao poema de Victor Hugo “La Conscience”, em que o poeta compara a consciência humana a um olho sempre em vigia, um olho que nunca se fecha. Comparação que não deixa de me evocar a imagem do morcego, no soneto famoso de Augusto dos Anjos: A consciência humana é este morcego! Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto! O personagem de Buster Keaton consegue se livrar da janela, do espelho, do cão, do gato, do papagaio, do peixe, até mesmo dos rostos pintados ou fotografados que o contemplam: mas no final é forçado a reconhecer a presença, dentro do quarto, da câmera, que age como um sucedâneo dele próprio. A câmera que, como ele, só tem um olho. A câmera que, como o morcego, é ao mesmo tempo cega e dotada de um radar próprio. Não deve ter escapado aos críticos o fato de que o Olho é uma das mais antigas imagens de Deus, aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo vigia, tudo fiscaliza, tudo testemunha. Curiosamente (por uma dessas sincronicidades serendipíticas na vida de quem escreve) fui consultar online uma resenha de Andrew Sarris, um crítico que leio com proveito, mesmo que às vezes rilhando os dentes de irritação. Ele descarta Film como sendo “um fracasso completo” e observa, com agudeza, que por ser silencioso o filme abre mão da maior qualidade de Beckett como dramaturgo, que é o seu diálogo. Ao lado, porém, ele resenha o filme Marlowe (1969), dirigido por Phil Bogart, com James Garner no papel do detetive Philip Marlowe. E a certa altura diz: Vejam só que adendo providencial. O detetive é “o cavaleiro andante do olho privado e da consciência pública”. Traduzo “private eye” (=detetive particular) ao pé da letra para manter essa equivalência: o Olho é a consciência controladora que nos segue, o drone, a câmera da vigilância. Dizem que no roteiro original de Beckett para Film aparecia uma citação do Bispo Berkeley, "esse est percipi" = existir é ser percebido. (O que lembra a máxima do grande Pudóvkin, cineasta russo: “O ator não-iluminado não existe”). Todos nós vivemos (diz a tradição) sob o olhar de Deus, e se sua atenção se desviasse de nossa pessoa por um segundo apenas, seríamos instantaneamente evaporados. (Não deixa de ser encantadora essa humaníssima capacidade divina para a distração.) O roteiro de Beckett prevê estes dois personagens, que ele chama de “E” (Eye = a câmera) e de “O” (Object = Buster Keaton). “E” sempre acompanha o personagem filmando-o pelas costas de maneira sorrateira e implacável; quando “O” percebe sua presença, encolhe-se, assustado, irritado, pronto para fugir. Fico imaginando se Beckett terá em algum momento pensado, trocadilhisticamente, em chamar um destes dois personagens de “I”, que seria ao mesmo tempo “Eu” e “Olho” (=eye). Um Eu todo encapotado em pleno sol de verão (como o “homem invisível” de Wells, que precisava cobrir-se de roupas para ninguém “vê-lo” e perceber que ele é invisível) e um Olho que o persegue voyeuristicamente, arrastando consigo todos nós, curiosos de saber por que, para aquele homem, ser visto é algo tão doloroso. Film é um desses trabalhos pouco visíveis mas que deixam ecos em obras mais conhecidas – basta lembrar o caso de Eraserhead (1977), o filme de estréia de David Lynch, que parece uma glosa e desdobramento de alguns temas deste curta. A equipe técnica do filme inclui ainda o diretor de fotografia Boris Kaufman, russo de nascimento (como o diretor Schneider), e um dos grandes fotógrafos de cinema de sua geração, com trabalhos do nível de L’Atalante (1934), Sindicato de Ladrões (1954), 12 Homens e uma Sentença (1957), O Homem do Prego (1964). Curiosamente, Kaufman era irmão do documentarista Dziga Vertov, o criador do “cinema-olho” soviético com filmes tipo O Homem com a Câmera (1929), cujo título ecoa o do filme de Buster Keaton The Cameraman (1928). (O Homem com a Câmera, 1929, Dziga Vertov) O homem, a câmera, o olho: uma mitologia cinematográfica que poderia ser mais e mais estendida, sempre evocando a experiência religiosa de sentir-se vigiado por um Deus, ou a experiência de sentir-se investigado por um policial, ou a experiência de ser seguido e fotografado por fãs, jornalistas, paparazzi, curiosos... Os três principais responsáveis por Film foram homens de vidas atribuladas, sujeitas a acidentes levemente absurdos, retrospectivamente seus temperamentos paranóicos. (Buster Keaton) que parecem justificar Buster Keaton trabalhou em centenas de comédias amalucadas, absurdistas, sempre correndo, caindo, chocando-se com objetos, pulando de edifícios, sendo espancado, atropelado. Diz-se que após sua morte o médico legista perguntou a sua esposa sobre a ocasião em que ele quebrou o pescoço, por volta do ano tal-e-tal. Ela desconhecia o fato – sabia apenas que durante uma filmagem naquele ano ele machucou o pescoço mas no dia seguinte foi trabalhar normalmente, mesmo reclamando. O pescoço curou-se sozinho. Keaton assinou um contrato com o estúdio para cristalizar sua imagem como “o homem que não ria”. Nunca riu num filme. Raramente foi visto sorrindo em público. (Samuel Beckett) Samuel Beckett era um misantropo permanentemente recluso, com poucos contatos sociais. Embora seus amigos mais íntimos desmentissem certos mitos em torno dele, sua vida e sua obra são um longo obituário da comunicação humana. Quando tinha trinta e poucos anos, Beckett foi esfaqueado na rua por um desconhecido; durante o inquérito, perguntou ao atacante por quê fizera aquilo, e ele respondeu: “Não sei, senhor... desculpe”. (Alan Schneider) O absurdo também visitou o diretor Alan Schneider. Em 1984 ele estava em Londres, dirigindo uma peça, e atravessou uma rua com a intenção de postar uma carta para seu amigo Beckett. Esquecido de que a “mão inglesa” é ao contrário da norte-americana, ele olhou para o lado errado e morreu atropelado por uma moto. Para ver o filme: https://www.ubu.com/film/beckett_film.html O depoimento do diretor: https://www.ubu.com/papers/beckett_schneider.htm 5015) Natal 2023 (24.12.2023) ("A Arena", 1950, Maria Helena Vieira da Silva) 1 ... e torno ao labirinto de onde escapo sabendo que não há lado de fora: labirinto do Hoje, o Aqui, o Agora... Du bist so schön, ó glorioso instante! Meu desejo é que o tempo desencante a si mesmo, e distenda seu elástico transformando um só dia num fantástico sempre-agora – incessante, inacabável... É pecado sonhar? É condenável brincar de crer no que não pode ser? 2 Falar do Tempo é luta e é prazer, bastidores e palco, treino e jogo. Alguns dizem que o Tempo é como o fogo; tanto destrói quanto ilumina e aquece. Outros dizem que o Tempo se parece a um Olho que rói tudo que observa: a carne, o chão, a água, o bicho, a erva, a beleza, a verdade e a memória... Corrosiva visão que cria a História: soma do que esquecemos e lembramos. 3 Por piores Natais nós já passamos! Vamos então sorrir no que há sorrisos, fantasiar trenós, renas e guizos como fantasiamos hobbits e ETs... Nada melhor do que “Era uma vez...” pra reduzir o peso do real. O peso do existir, ser material, ter doenças, incômodos e achaques, ficar sujeito à dor, aos piripaques, às síndromes de nomes estrangeiros... 4 São duzentos milhões de brasileiros cada qual com seus corpos e seus traumas, todos sonhando que possuem almas e que todas vão ter segundas-chances... Pobre de mim, que li tantos romances e aprendi a descrer da crença alheia... O mundo é sem Aranhas. É só Teia, mero desenho e possibilidade; não existe arquiteto ou divindade, existe o espaçotempo – e a matéria. 5 Sendo assim, o Natal é coisa séria; futebol, carnaval, apendicite, Grammy e Oscar, Nobel e dinamite, todas as ilusões desta existência! Tudo é sério: o humor e a ciência, o ser e o nada, o cu e a cueca, o deus de Roma e o alá de Meca, a reza, a rosa, a prosa e a poesia, a honestidade e a patifaria, o fato, o fóton, a foto, o selfie, o fake... 6 Todo palácio vale um milk-shake! Um mendigo equivale a um senador! Um vampiro de filme de terror não é menos real que o cineasta. O Real é tufão que tudo arrasta, ventania que varre o mapa-múndi, poeira que nos cega e nos confunde, o tempo, o vento que nada perdoa... Tudo é real onde existir pessoa, esse espelho-do-ser chamado gente. 7 E o Natal acontece novamente! E Boas Festas a quem merecê-las. “Alforje ao ombro, recolhendo estrelas”, eu retorno, à maneira de Seu Nilo, e de astro em astro vou enchendo um silo, e com esperança aguardo o ano seguinte, e brindo com meu vinho sub-20 à saúde de todos, todas, “todes”... Irão me achar no camarim dos “roadies” onde a conversa é mais interessante. 8 Errar é humano? Eu sou judeu errante, andarilho da idéia. I am the walrus. Minha estrada é moebius-ouroboros, o meu chão é de vácuo e é de vento, um mar de mármores em movimento, vagalhão congelado que goteja... Pois venha o tempo, e o que vier, que seja! Isto aqui não é sangue, é vinho tinto. Chego à saída deste labirinto, empurro a porta onde se lê: da capo... 5016) Drummond: "Romaria" (27.12.2023) ("Deus e o Diabo na Terra do Sol") As romarias ou peregrinações são eventos curiosos, onde há de tudo – mortificação do corpo, diversão, penitência, passeio, busca da transcendência, busca do gregarismo, jornadas espirituais íntimas, afirmações coletivas de união em torno de uma fé. Penso nisto quando avalio toda a variedade de peregrinações, inclusive os caminhantes de Santiago de Compostela e os romeiros dos Contos de Canterbury de Chaucer. Histórias de peregrinações são sempre “road movies”, filmes (ou romances) de estrada, de tudo que acontece aos peregrinos durante um trajeto fixo, mítico, carregado de significação em cada pedra, em cada árvore. A romaria é uma forma reduzida de peregrinação – muitas vezes se dá no interior de uma mesma cidade, ou na direção de uma cidade vizinha; mas o espírito é quase o mesmo. (Juazeiro) As romarias cristãs dos brasileiros têm um pouco desses formatos tradicionais, como têm um pouco de tudo. Minha mãe fazia romaria todos os anos para o Juazeiro do Padre Cícero, geralmente na época do Dia dos Finados. Era um grupo de gente idosa e super animada; anualmente faziam uma vaquinha e alugavam um ônibus com motorista para levá-los ao Horto do Padrinho. Iam cantando de Campina Grande até o Cariri cearense. Levavam lanche, marmita, farofa. Chegando lá, rezavam, tiravam fotos, reencontravam amigos distantes, pagavam promessas antigas, faziam promessas novas, e voltavam felizes da vida. Eu já tinha minhas fumaças agnósticas, mas adotava uma postura filosófica e dizia: “Deixa, é o Woodstock deles.” Pensamos na romaria como uma caminhada só de sofrimentos, talvez porque nos venha a imagem dos peregrinos auto-flagelantes, que caminham chicoteando as próprias costas e deixando um rastro de sangue. Mas toda romaria é heterogênea. Há os masoquistas, os comerciantes (romaria é como carnaval de rua, está cheia de gente com isopor vendendo alguma coisa), os festeiros, os compungidos e circunspectos, os que estão aproveitando aquela chance de sair do confinamento doméstico... ("Deus e o Diabo na Terra do Sol") Gilberto Gil fez um dos melhores retratos na clássica “Procissão” (1967): Olha, lá vai passando a procissão se arrastando que nem cobra pelo chão... As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu... As mulheres cantando tiram verso, os homens escutando tiram o chapéu, eles vivem penando aqui na Terra esperando o que Jesus prometeu. A procissão de Gil sempre me evocou visualmente, por motivos óbvios, aquela multidão de pedintes andrajosos que em Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964, Glauber Rocha) avança ao longo daquele buñuelesca escadaria do Monte Santo, seguindo o profeta Sebastião com seu burel esfarrapado e sua cruz que não passa de dois galhos esquálidos atados com cordas. ("Deus e o Diabo na Terra do Sol") Diferente é a “Romaria” que Carlos Drummond de Andrade incluiu em seu livro de estréia (Alguma Poesia, 1930). O retrato feito por Drummond é mais rico, mais variado, tem algo das procissões auto-punitivas, tem algo das procissões festivas, chega a parecer uma festa-de-largo ambulante, mas não deixa de exibir seu elenco de devotos maltrapílhos que lembram os mendigos de Viridiana ou de Los Olvidados. Existe mortificação física (espinhos, pedras) mas em compensação as romeiras têm coxas, os homens cantam sem parar, joga-se baralho, fumam-se cigarros, é dia de festa. É curioso que um poema assim talvez fosse a oportunidade para um poeta cético e modernista dirigir alguma crítica ao excesso de fanatismo. O poema de Drummond parece criticar o excesso de festa, é como se dissesse: “Pessoal, vamos devagar, isto aqui não é quermesse!”. Mas... no Brasil tudo que tem multidão vira quermesse. ("Deus e o Diabo na Terra do Sol") E os inesgotáveis pedidos! Pedem a Deus tudo quanto não têm, e não é pouco. Talvez o pedido mais patético e sutil seja o desse leproso (outro personagem buñuelesco), que traja uma opa (casacão comprido), agita um estandarte, e pede a Deus para ser curado – mas não da doença, e sim do amor que sente e ninguém retribui. *********************** Romaria A Milton Campos Os romeiros sobem a ladeira cheia de espinhos, cheia de pedras, sobem a ladeira que leva a Deus e vão deixando culpas no caminho. Os sinos tocam, chamam os romeiros: Vinde lavar os vossos pecados. Já estamos puros, sino, obrigados, mas trazemos flores, prendas e rezas. No alto do morro chega a procissão. Um leproso de opa empunha um estandarte. As coxas das romeiras brincam no vento. Os homens cantam, cantam sem parar. Jesus no lenho expira magoado. Faz tanto calor, há tanta algazarra. Nos olhos do santo há sangue que escorre. Ninguém não percebe, o dia é de festa. No adro da igreja há pinga, café, imagens, fenômenos, baralhos, cigarros e um sol imenso que lambuza de ouro o pó das feridas e o pó das muletas. Meu Bom Jesus que tudo podeis, humildemente te peço uma graça. Sarai-me, Senhor, e não desta lepra, do amor que eu tenho e que ninguém me tem. Senhor, meu amo, dai-me dinheiros, muito dinheiro para eu comprar aquilo que é caro mas é gostoso e na minha terra ninguém não pissui. Jesus me Deus pregado na cruz, me dá coragem pra eu matar um que me amola de dia e de noite e diz gracinhas a minha mulher. Jesus Jesus piedade de mim. Ladrão eu sou mas não sou ruim não. Por que me perseguem não posso dizer. Não quero ser preso, Jesus ó meu santo. Os romeiros pedem com olhos, pedem com a boca, pedem com as mãos. Jesus já cansado de tanto pedido dorme sonhando com outra humanidade. 5017) Resoluções para 2024 (30.12.2023) (Saul Steinberg, 1949) Tirar a poeira que provavelmente se acumulou por trás dos livros nas prateleiras da estante. (Ou pagar alguém para fazê-lo, o que está mais próximo ao reino das possibilidades.) Fazer uma consulta no oculista; trocar as lentes dos meus óculos, mais arranhadas do que o escudo de Sir Lancelote; e, talvez, parar de ler os livros como se lesse em Braille com a ponta do nariz. (Bem, devo estar exagerando, mas a miopia está tão avançada que a olho nu não distingo entre enxergar e exagerar.) Entregar aquele texto atrasado, mas não esquecido. (Desculpa aí, amigos, mas o que nasce de parto natural tem seu ritmo próprio, e ainda não se inventou a cesariana literária.) Dar uma nova chance a pelo menos um terço dos livros que no ano passado não passaram no Teste do Primeiro Capítulo. (Sim, sei que o critério é brutal, mas trata-se de uma pilha com cerca de quarenta ou cinquenta obras, e nestas horas não sou mais o intelectual diletante e complacente, sou segurança-de-boate com dentes de titânio e tatuagem de Chuck Norris no bíceps, e só tem acesso quem fizer por onde.) Responder todas as mensagens ainda não respondidas, assim que for capaz de decidir se devo fazê-lo por ordem cronológica, por ordem alfabética, ou por ordem de importância. (E, neste último caso, retomar os originais dos meus Prolegômenos a uma Taxonomia Hierárquica das Motivações Subjetivas dos Meus Assim-Ditos Semelhantes, interrompida na página 638 no início da pandemia.) Investigar mais a fundo o dúbio acidente de automóvel que vitimou o escritor Albert Camus, nos primeiros dias de janeiro de 1960, e que muitos dizem ter sido um crime premeditado. (Paul Auster é um dos que defendem essa tese polêmica.) Pesquisar com detalhes o meu projeto antigo de criar na Paraíba uma reprodução do “Caminho de São Tiago de Compostela”, começando em João Pessoa (Ponta do Seixas) e indo até Cajazeiras, a última grande cidade paraibana, num trajeto feito a pé. (Calcular número de quilômetros por dia, possíveis paradas, albergues, etc.) Escrever um livro de contos intitulado “Praça de Alimentação”, com pequenas cenas, diálogos, etc., ambientados nas respectivas praças de alimentação de dez shoppings de cidades brasileiras, com detalhamento de descrição suficiente para serem identificados, mas sem dizer quem é quem. (O livro será um bestseller absoluto, porque irá impactar lucrativamente na frequência a esses recintos, e receberá um impulso comercial extra sempre que uma das praças for identificada sem sombra de dúvida.) Escrever uma biografia de B. Traven. (Já que ninguém sabe quem foi ele ao certo, embora sua obra literária seja famosa, qualquer biografia tá valendo.) Desencaixotar aquela parte da mudança de 2019 na qual ainda não tive ânimo para mexer. (Principalmente porque muitos livros sumiram na mudança, quem me garante que não estarão ali? Questão de lógica elementar!...) Redigir o piloto daquela série de TV que será um grande sucesso, “Dennis vs. Sheldon”, em que o Pimentinha dos gibis encontra o Young Sheldon, o futuro protagonista da série The Big Bang Theory. (Verossimilhança cronológica à parte, claro, porque esse detalhamento diegético fica para esse pessoal pentelhante e catador-de-lêndeas, os sheldonianos da vida real.) Separar as camisas em que é preciso pregar botão. (E mais uma vez me verei diante do dilema: aprender a costurar aquela cruzinha que sustenta o botão, ou continuar terceirizando? Fortes emoções nos próximos capítulos.) Aprender a fazer mágicas. (Sim, muitas pessoas transbordantes de solidariedade dirão que eu “já faço mágica com as palavras, etc etc...”, mas meu sonho é fazer mágica com baralho, lenço, pombo, jarro dágua, etc.) Passear nas três linhas do VLT do Rio, que praticamente não conheço ainda. (Eu não moro no Rio de Janeiro, moro no meu apartamento.) Baixar aquele software que atribui uma nota musical a cada tecla deste meu teclado de escrita, e registrar a melodia-aleatória correspondente a meus poemas mais conhecidos. (Ainda estou em dúvida se solto as melodias no YouTube e ofereço um prêmio a quem descobrir, mas isso vai bagunçar minha rotina, melhor não.) Traduzir o Eugene Onegin de Pushkin sob o título de Eugene, Oregon, mantendo o formato de “soneto pushkiniano”, e ambientar a história no noroeste dos EUA, uma história tipo aquele Paterson de Jim Jarmusch. (Pode parecer uma violentação à arte do poeta russo, mas muito pior do que isto foi o que fez Vladimir Nabokov!) Todos os dias trancar a porta do escritório, pegar o violão, e improvisar sextilhas sobre temas aleatórios durante 30 minutos. (Só começar a gravar a partir do quinto mês.) Ganhar bem muito dinheiro, comprar as casas onde já morei em Campina Grande, e cedê-las às autoridades para que sejam transformadas em bibliotecas públicas. (Para ser totalmente realista, a parte mais provável desta proposição é o seu trecho inicial.)