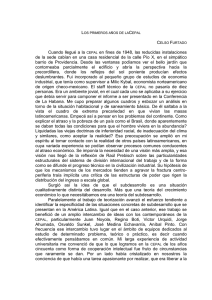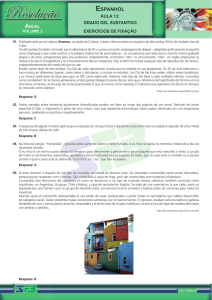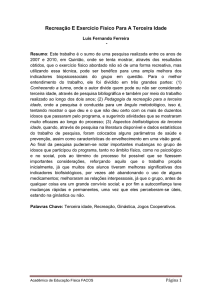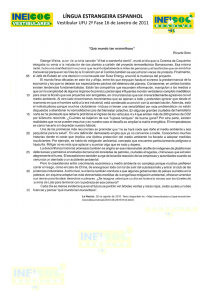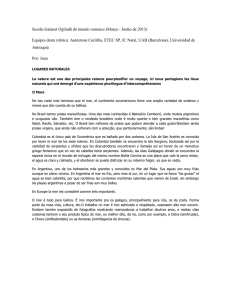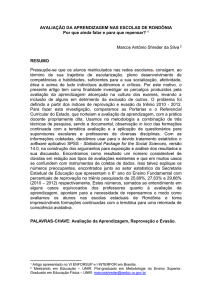Sumário/Editorial/Destaque
Anuncio

Revista do Portal das Poéticas Visuais Guernica Paulistana, 2010 Duda Penteado e Coletivo de Artes do Instituto de Artes Unesp-São Paulo 2010 2mx8m [8 painéis de 2 m x 1 m] Acervo de Artes Visuais da Faac-Bauru Revista do Portal das Poéticas Visuais UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO” Vice-Reitor em exercício Julio Cezar Durigan Pró-reitora de Pós-Graduação Marilza Vieira Cunha Rudge Coordenação Técnico-Científica Núcleo de Pesquisa em Multimeios Mídia Press Francisco Cabezuelo Lorenzo Universidad de San Pablo - Barcelona, Espanha Editor Assistente/Projeto Gráfico Editorial Felipe Oliveira Cavalieri Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Bauru, São Paulo, Brasil Ana Mae Tavares Barbosa Universidade de São Paulo (USP) - São Paulo, São Paulo, Brasil Webdesign Lucas Trentim Navarro de Almeida Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Bauru, São Paulo, Brasil Edição e preparo de originais/Tradutor das versões impressa e on-line: Ivan Abdo Aguilar Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Bauru, São Paulo, Brasil Diretor FAAC Roberto Deganutti Edição de Imagens e Capa Milena Rosa Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Bauru, São Paulo, Brasil Vice - Diretor Nilson Guirardello Conselho Científico: Diana Domingues Universidade de Brasília (UnB) - Brasília, Distrito Federal, Brasil Derrick de Kerckhove Universidade de Toronto (UofT) - Toronto, Ontário Canadá Massimo de Felice Universidade de São Paulo (USP) - São Paulo, São Paulo, Brasil Poéticas Visuais/Impresso no Brasil ISSN: 2177-5745 versão impressa - ISSN: 2317-4935 versão on-line Classificação CAPES Qualis B3 em Artes/Núsica, B2 em Interdisciplinar e B5 em Ciências Sociais Aplicadas Editores Científicos Ricardo Nicola e Nelyse Salzedas Editora Executiva Rosa Maria Araújo Simões Comissão de Relações Internacionais João Eduardo Hidalgo e Rosa Maria Araújo Simões Coordenação Editorial: Maria Antonia Benutti, João Eduardo Hidalgo, Maria do Carmo Jampaulo Plácido Palhaci, Milton Koji Nakata, Dorival Rossi, Luiz Antonio Vasques Hellmeister, Roberto Deganutti, Adenil Alfeu Domingos, Sônia de Brito, Guiomar J. Biondo, Elaine Patrícia Grandini Serrano, Maria Luiza Calim de Carvalho Costa, Joedy Luciana Barros Marins Bamonte, Rosa Maria Araújo Simões, José Marcos Romão da Silva, Célia Maria Retz Godoy dos Santos, Solange Maria Bigal, Solange Maria Leão Gonçalves, Ricardo Nicola e Nelyse Apparecida Salzedas. João Carlos Correia Universidade da Beira do Interior - Covilhã, Portugal Andreia Célia Molfetta Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina Dana Lee Ryerson University - Toronto, Ontário, Canadá Emilio Garcia Fernandez Universidad Complutense de Madrid - Madrid, Espanha George Michael Klimis Panteion University - Atenas, Grécia Anamélia Bueno Buoro Centro Universitário Senac - Santo Amaro, São Paulo, Brasil Maria Cristina Castilho Costa Universidade de São Paulo (USP) - São Paulo, São Paulo, Brasil Irene Gilberto Simões Universidade de São Paulo (USP) - São Paulo, São Paulo, Brasil Mario Pireddu Università degli Studi Roma TRE - Roma, Itália Massimo Canevacci Università de Roma - La Sapienza - Roma, Itália Eduardo Peñuela Canizal Universidade de São Paulo (USP) - São Paulo, São Paulo, Brasil Antonio Manuel dos Santos Silva Universidade Estadual Paulista (Unesp) - Bauru, São Paulo, Brasil Duda Penteado, Artista Plástico New Jersey City University - New Jersey City, NJ, EUA Elza Ajzenberg Museu de Arte Contemporânea (USP) - São Paulo, São Paulo, Brasil Edson Leite Universidade de São Paulo (EACH USP) - São Paulo, São Paulo, Brasil Jesús González Requena Universidad Complutense de Madrid - Madrid, Espanha Genaro Talens Université de Genève (UNIGE) - Geneva, Suíça Julio Pérez Perucha Presidente de La Asociación Española de Historiadores del Cine, Madrid - Madrid, Espanha S umário EDITORIAL P. 11 Volume 2 N° 1, 2011 www.poeticasvisuais.com copywrite. Revista Poéticas Visuais, Faac/Unesp/2011 EM DESTAQUE Storytelling: a arte da obra solitária do artista inspirado à obra dos artistas interconectados na web Storytelling: the art of solitary work of the artist inspired by the work of artists interconnected on the web Adenil Alfeu Domingos p. 10 Revista do Portal das Poéticas Visuais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube n° 14-01 CEP 17033-360 Bauru/SP PABX (14) 3103 - 6000 As opiniões expressas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores. Todo material incluído nesta revista tem autorização expressa dos autores ou de seus representantes legais. PEDAGOGIA HOLÍSTICA E OS MULTIMEIOS: uma relação que auxilia e propõe um novo olhar sobre a arte. Holistic pedagogy and multimidia: a relationship that supports and proposes a new look at art. Giselle Anzini da Costa p. 18 MODERNISTAS CONTRA ACADÊMICOS? A pintura de Hugo Adami Modernists against Academic Artists? Hugo Adami’s paintings Ivana Soares Paim p. 27 NAS MÃOS DE MESTRES, a pena e nanquim In the hands of masters, the quill and ink Márcia Aparecida Barbosa Vianna p. 35 Federico Fellini, entre crítica e nostalgia Federico Fellini, between nostalgia and critique Mariarosaria Fabris p. 44 Informatização: Impactos Editoriais e Estéticos Informatization: Editorial and Aesthetic Impacts Ricardo Nicola p. 50 Os primeiros oitenta anos do Cinema Espanhol: una mirada nostálgica The first eighty years of Spanish Cinema: a nostalgic look. João Eduardo Hidalgo EDI TORI A L p. 59 É El arte y lo sagrado en el origen de la topología del aparato psíquico A arte e o sagrado na origem da topologia do aparelho psíquico The art and the sacred in the origin of the topology of the psychic apparatus Jesús González Requena p. 72 LA MIRADA CINEMATOGRÁFICA GENERACIONAL Generational cinematic gaze Emilio C. García Fernández María García Alonso p. 83 A MÚSICA E AS VIAGENS The music and the travels EDSON LEITE p. 96 Recontando o recontado Retelling and retold Nelyse Salzedas Rivaldo Paccola ARTIGOS NORMAS PARA COLABORADORES p. 118 p. 107 TEXTURA ÓTICA DO TEXTO: O VISÍVEL COM CONDIÇÃODO LEGÍVEL Optical texture of the text: The visible as a condition to the legible Guiomar Josefina Biondo p. 110 A Poética de Amedeo Modigliani O Anjo de Olhar Grave The Poetics of Amedeo Modigliani - The Melancholy Angel Elza Ajzenberg editada a segunda edição impressa e on-line (vol.2, n.1, 2011) da Revista Poéticas Visuais. Conservamos na capa impressa algumas das mãos que veem e apreendem, que criam e, que vem de Michelangelo, de Rodin, da mídia, dos grafites. São elas que manipulam as máquinas e que levam até aos leitores e ciberleitores as nossas pesquisas e artigos. Poéticas Visuais é a nossa cartografia, como vemos e aprendemos a arte. A primeira edição (vol. 1, n.1, 2010) resultou da imagem e memória que nos ajudam a recuperar os textos de nossos colegas e amigos que passaram pelo programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poéticas Visuais e receberam “o selo” acadêmico. Foram alguns que, como a “Quadrilha”, poema de Drummond, todos os objetos transformaram-se em sujeitos produtores de conhecimento, transformando o vazio em espaço construído. Esperamos, lembrando João Cabral que, de certa forma, ela preencha, no ato de leitura, “os vazios do homem”. Nelyse Apparecida Melro Salzedas Líder do Grupo de Pesquisa do CNPq “Texto e Imagem” Unesp-Bauru p. 113 Percurso dos estudos em tecnologias na arte The Course of studies in the art technologies Ricardo Nicola p. 116 RESENHAS Trajetórias da linguagem Language Trajectories Nelyse Apparecida Melro Salzedas p. 117 Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n.1 9 a mente humana passou a ter a capacidade de reconstruir sequencialidades. Assim, por exemplo, foi a partir de um signo dado que Darwin conseguiu entender a metamorfose dos seres e construir cadeias sequenciais evolutivas. STORYTELLING : a arte da obra solitária do artista inspirado à obra dos artistas interconectados na web Storytelling: the art of solitary work of the artist inspired by the work of artists interconnected on the web Adenil Alfeu Domingos Professor livre-docente, formado em letras e teorias da literatura, hoje leciona Semiótica da Comunicação na UNESP de Bauru, São Paulo, Brasil. Cada objeto da natureza “conversa” com o homem; conta uma história. Um trabalho de arte, sendo um objeto produzido por uma mente humana, conta uma história mítica e ideológica em termos bartesianos. Uma pintura como a Guernica é uma cena narrativa, que revela um agora que induz a um antes e depois da narração. A cena narrada até existe na arte abstrata, onde tinta se transforma em personagens, ocupando tempo e espaço. O pintor, por usa vez, é um criador de um conto. Este artigo se aprofunda: demonstra como a pintura não é apenas uma cena parada, num suporte tradicional, mas um objeto em movimento em uma tela, é um modo interativo de produzir a arte de contar histórias na internet. Palavras-chave: Storytelling, Adenil Alfeu Domingos, Representação por arte Every object of nature “speaks” to man; tells him a story. A work of art, being an object produced by a human mind, tells a mythical and ideological story in barthesian terms. A painting such as Guernica is a narrative scene, which reveals a now that hints at a before and after the narrated. The scene narrated even exists in abstract art, in which inks become characters, occupying space and time. The painter, therefore, is nonetheless a creator of storytelling. This article aims further: to demonstrate how the painting is no longer a frozen scene, in a traditional support, but a moving object on a screen, it is an interactive mode of producing the art of storytelling on the web . Keywords: Storytelling, Adenil Alfeu Domingos, Representation through art O s signos são produtos e produtores de cadeias de significados em semiose, pois eles agem até sobre si mesmos. Todo signo vem de um signo anterior que o gerou e se projeta para o futuro de modo teleológico, gerando cadeias infinitas de significação, chamada de semiose. Todo discurso é feito de signos e uma narrativa não deixa de ser um signo que tem a potência de gerar significações. Ele pode ser um signo sucinto., como em uma placa de trânsito ou expandido como em um volumoso romance de aventuras. A semiose age na mente humana como produto e produtora de pensamentos, em uma sequencialidade sinequista, continuista. Assim sendo, não há narrativa sem signo e nem signo que não faça parte de uma narrativa. O signo ocupa espaço, no tempo, tanto na mente, como fora dela, sendo, portanto, um objeto. Todo objeto é um signo sem deixar de ser objeto e todo signo é um objeto sem deixar de ser signo. Toda relação signo/objeto gera um novo signo/objeto chamado de interpretante. Todo signo novo, por sua vez, traz em si marcas dos seus signos geradores e a potencialidade de gerar outros signos. 10 A partir dessa complexa e intricada cadeia de interdependências não é difícil notar que uma cena narrativa fixa de uma pintura como Guernica, nosso estudo de caso aqui, é um signo que veio de outro e se projetou para frente, criando novos signos. Diante disso, deseja-se demonstrar como o signo da arte dado como um presente, ou como cena narrativa fixa, permite à mente humana recompor um todo feito de causas e consequências, próprias das narrativas do cotidiano e recuperar o passado e até prever um futuro. Todos esses ingredientes mostram nossa mente com o poder de reconstruir sequências ao relacionar signos presentes e ausentes no discurso dado. Essas reconstruções não são frutos apenas das experiências de cada leitor em relação aos fatos semelhantes ao narrado e vivido por ele, de modo pragmático, mas também, da sua competência de ler. Assim, os signos apreendidos no texto dado vão fazer combinatórias com outros signos arquivados na memória do leitor. O ato de ler permite à mente relacionar conhecimentos, como sendo signos colateriais aos dados na obra que a mente interpreta. O uso do conhecimento colateral estaria sugerido nos signos do discurso dado. Por atuar por meio de signos é que Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 10-17, 2011. Tratemos, em um primeiro momento, de entender como se dá apreensão dos fenômenos pela mente. O primeiro instante de contacto com um percepto (estímulo exterior) é um instante de apreensão lírica dos signos. Nesse instante, de primeiridade e iconicidade, o eu e o mundo estão fundidos, quase sem distâncias entre si . Em um segundo instante, o objeto dado torna-se indicial de outros signos, como uma mola propulsora de múltiplas relações, não só denotativas como também conotativas, míticas e até ideológicas. Como esses signos-objetos possuem valores dentro de um contexto humano, já que foram intencionalmente produzidos, eles passam a ser símbolos de algo. Na obra de arte, portanto, todos os signos são carregados de ideologias. Cabe à mente leitora desvendar os problemas do homem, ideologicamente construído nas narrativas. Para que uma interpretação dadaaos signos de um discurso artístico consiga coerência interpretativa e consenso entre mentes leitoras, seus signos interpretantes não podem extrapolar o sentido dos signos dados no objeto a ser lido. Aliás, todo texto existe para assegurar certo consenso interpretativo ou científico, entre a maioria dos leitores do mesmo. Como a arte é feita de linguagem com certa ambiguidade, seus signos provocam uma busca de interpretantes que devem ser de consenso, para ser científica e não subjetiva. O signo da arte, por provocar estranhamentos, exige que a mente saia de um estado de inércia, provocado pelo hábito e vá ao encontro dessa coerência. Isso significa dar um sentido (direção) aos signos do texto a ser lido, mais coletivo do que simplesmente impressionista, individual e subjetivo. Semioticamente, a leitura imanente dos signos dados é a melhor maneira de ler o que o signo diz. Isso não significa, porém, que ele não traga oculto em sua forma opaca, além da denotação/conotação convencionais, relações contextuais com épocas históricas e geográficas e situações e valores socioculturais, onde existem as mitologias, escondidas e camufladas de linguagem, em forma de álibi do mito em si. Não há pensamento sem signo, nem mente sem pensamento. Como diferentes mentes intérpretes são diferentes universos semióticos, produto de diferentes pragmáticas de vida, nascem, assim, as diferentes leituras de um signo dado em uma obra de arte. Essas diferentes interpretações, porém, não podem deixar de corresponder a certa intencionalidade autoral, que será apenas ilusoriamente biunívoca. Haverá sempre defasagens entre o pensado e o dito, entre o dito e o interpretado, assim como o representante de um objeto (o signo em si) não será nunca o representado (o objeto com o qual o signo se relaciona de modo metonímico), embora entre ambos haja sempre interdependência. Essas defasagens são, portanto, apenas parcialmente recuperáveis na interpretação, principalmente em termos de obras de arte onde os signos estão a espera de sentido a ser dado pelo intérprete como coautor do mesmo, embora haja interpretações coerentes inesperadas, que acabam por surpreender até o próprio autor. A comunicação entre mentes só será garantida se entre o signo novo e o antigo permanecer um fundamento – ou ground - como fio condutor que perpassa todos os signos de uma cadeia em semiose. Essa base é que garante a coerência entre diferentes interpretações e acusa quando o novo signo extrapola o texto dado. A análise semiótica de um signo dado deve ser imanente, já que são captadas pelos sentidos de modo empí-rico. A mente parte do percebido, ou seja, das qualidades concretas e materiais inerentes ao signo, inseparáveis ao mesmo. A ela se agregam conceitos sociais como os valores estéticos e ideológicos. Desse conjunto, nascem as interpretações generalizantes como um produto gerador de leis e hábitos. Embora, nem mesmo o artista tenha consciência plena do que fez e nem dos efeitos que sua obra pode provocar no leitor é no consenso de várias leituras que aparece o ground deixado pela obra dada em suas interpretações e que permite a interatividade entre leitores. Em geral, as obras de arte são feitas em transe, no instante de stimmung , pois a arte exige o delírio criativo. Elas são produtos de certo feeling, em que o autor pressente a eficácia da presença do belo e do estranhamento no que produziu. É certo, também, que deve haver uma posterior racionalização do que foi feito, quando, então, o artista avalia seu produto em interpretações lógicas. Para a Semiótica Norte Americana, que ora nos serve de base, o ato de percepção de um objeto é um estímulo que força a mente, em uma tentativa de consciência imeiata, ainda cheia de incógnitas. Esse é o instante lírico de simples impressão de sentimento ou feeling. Nesse instante, o objeto não é analisável, já que ainda ele é impressão simples e frágil, imediatamente presente na consciência (como presentidade), chamado primeiridade . Ela gera interpretantes imediatos, ainda sem a ação de juízos interpretativos. Ela é importante na arte por ser o momento de criatividade da mente em estado de tensão entre o novo que se coloca como dúvida e o antigo que já criara hábitos. Peirce denominou esse instante de pensamento abdutivo. Só o afastamento da mente em relação ao objeto é que permite a análise de um signo dado. Se o objeto/ signo ocupa espaço na mente, é impossível pensar no pensado, no instante da sua presentidade. Assim se entende que só o distanciamento permite à mente relacionar o que era presentidade e tomar consciência da existência ou concretude das qualidades do objeto dado. Agora, a mente atua testando o objeto, em instantes de pensamento indutivo. Assim, é possível distinguir o ícone fotográfico de um homem feito de tinta sobre o papel e o ícone do Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 10-17, 2011. 11 sujeito de carne e osso nele representado como substâncias diferentes. Se o ícone era a semelhança entre ambos que confundia na mente sujeito real e sujeito representado como um só , agora a mente entra em choque com outros signos, gerando a secundidade, em que o eu e o mundo entram em choque ao relacionar representante e representado de modo indicial, por contiguidade, onde não se busca mais as identidades, mas sim, as diferenças metonímicas. Só a terceiridade trata do inteligível, da lei, do conceito generalizante; é o momento das deduções, onde atua a verdade como argumento racional em busca do consenso interpretativo. Assim, na primeiridade, objetos e mentes tendem a se fundir; na secundidade, eles se confrontaram; na terceiridade, formam o produto cultural como novo signo, um produto de experiências mais coletiva, mais conceitual. Não é na leitura em primeiridade que se encontra a ideologia dos signos da obra de arte, mas sim, na leitura em terceiridade. Na primeiridade estão apenas as impressões subjetivas. Assim também, a narrativa só será depreendida em objeto em terceiridade, que pode ser remática, ainda não muito explícita como uma palavra descontextualizada; dicissigna ou relacional, como em uma oração em que X é Y, ou, de modo mais argumentativo em silogismos. Pablo Picasso em “Guernica ” apela, por meio dessa cena narrada da Guerra Espanhola a conhecimentos colateriais que a contextualizam em um espaço dado, remetendo a factuais históricos e políticos, em sua iconicidade e indicialidade, mas que gera leis gerais como símbolos culturais, como se pode ver adiante. Desse modo, ele dá um texto para ser visto em primeiridade, mas que, invariavelmente, passa pela relação indicial e chega ao simbólico. Mas a visão mítica precisa ser desvendada pois ela brinca de esconder e aparecer no texto dado. Ainda mais, a obra permite também fazer a leitura da narrativa que se dá entre os signos do texto e os conhecimentos colaterais do leitor. Arte representa a vida A vida é eterno fluir, mas os signos das linguagens parecem querer congelar esse fluxo. A semiótica francesa, derivada da linguística, não distingue os objetos dinâmicos da realidade, dos objetos congelados dentro dos signos, como o faz a semiótica de Peirce. Eis aqui uma das principais diferenças entre ambas. Os movimentos dos fenômenos do mundo tende a ser objetos fugazes aos olhos humanos e, por isso, o homem cria linguagens para apreendê-los . Registrar linguisticamente esse dinamismo tem sido um desafio para o homem, já que sempre haverá defasagem entre o signo e a realidade da vida; entre o código convencional e arbitrário, aplicável a todo fenômeno semelhante e a dinamicidade do universo em seu eterno fluir. Esse fato acaba dando ao homem uma falsa visão do seu entorno e de si. A própria linguagem verbal, principal meio de semiose na mente humana, parece ser feita de signos fixos, como se fosse possível pôr rótulos colados aos objetos. Nem mesmo a existência dos verbos de ação consegue dar vazão a essa eterna metamorfose do mundo. O homem chega a acreditar que há momentos da vida em que tudo para. Ou seja, as linguagens, inclusive o verbal, condicionam a mente a trabalhar com a estase e não com o movimento. Mudar essa visão é um dos objetos deste artigo. Aliás, todo novo traz em si signos de outros objetos anteriores que geraram o novo objeto . Como a arte não é senão representação da vida do homem e seu entorno e registrar o fluir do universo tem sido um dos desafios do artista. Por isso, não se pode ler uma obra como objeto congelado. A arte registra objetos não só em seus valores sociais, com intencionalidades estéticas e ideológicas, mas também em seu fluxo contínuo. Essa aprendizagem é necessária, pois ela retira a obra da parede ou da tela, para colocá-la na vida. Esse impasse, porém, começa a ser solucionado com as novas tecnologias onde os movimentos podem ser registrados em tempo real, em linguagens virtuais, feitas de pixels na tela do écran. Por isso, pode-se ver a obra como cena narrativa, ou seja, um storytelling congelado, ao qual a mente do leitor precisa dar vida. A obra de arte é vista aqui como storytelling, ou seja, narrativas dos factuais. Trata-se, mais propriamente, da vida de personagens com suas problemáticas existenciais, agindo em dado espaço e tempo . De um modo geral, o storytelling acontece quando o narrador surpreende algo que valha a pena ser narrado. Por isso, ele tende a se iniciar no momento em que determinada personagem sai de um estado de equilíbrio na sua vida cotidiana e, por algum motivo, desequilibra-se e entra em estado de tensão progressiva. Essa tensão chega a atingir um clímax. Depois disso, ela tende a decrescer e entrar em estado de desfecho, gerando, na vida da personagem, um novo estado de equilíbrio. Na caminhada do herói, portanto, aconteceram ações que lhe provocaram transformações de vida. Na narrativa “Guernica”, por exemplo, a personagem é coletiva: habitantes da cidade. Ela nos sugere um antes, quando essa personagem estava em conjunção com a paz e com a vida e que, no final, estão em disjunção com elas. As ações de personagens humanos ou antropomorfizados, portanto, são as bases dos storytelling. Essa recuperação só é possível porque muitos fatos semelhantes à temática ora narrada já foram vivenciados pelos leitores do texto dado, em suas experiências de vida. 12 Por certo Picasso não fez em Guernica apenas uma foto icônica do acontecimento ora narrado, já que, idealizou e traduziu os sentimentos dos moradores dessa cidade, na Guerra Civil na Espanha, no instante do bombardeio Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 10-17, 2011. feito pela aviação nazista, em 26 de abril de 1937, quando Hitler era, então, aliado ao ditador espanhol Francisco Franco, na Guerra Civil Espanhola. A obra não é feita de signos denotativamente fotográficos, em imagens icônicas dos objetos dados; nem é um simples diagrama dos mesmos, mas sim, uma série de metáforas em interação que nos remete ao simbólico do fato narrado. O painel produzido em 1937, por Picasso, atua em nosso imaginário a ponto de vermos uma pacata cidade onde as pessoas viviam irmanadas, sem que essa imagem esteja presente no texto dado. Trata-se de um antes do fato ora narrado reconstruído pela imaginação do leitor, que desfaz a metáfora dada. Mas a mente projeta, do mesmo modo, um depois feito do caos dos escombros deixados pelos bombardeios e o sofrimento do povo que a ele sobreviveu. Picasso montara uma cena fixa, fazendo escolhas de signos que não só funcionem como indiciais, mas que remetem a mente intérprete a viver o fato além dos signos dados, tanto em termos emotivos como lógicos: icônicos (touro, lâmpada, homens, armas entre outros). Na imediata percepção desses ícones eles são semelhantes aos objetos naturais; eles, porém, também funcionam como signos indiciais como touro – Espanha; restos de pessoas, braços levantados aos céus, bocas abertas , crianças mortas, a mãe desesperadas com seus filhos nos braços, dando os últimos suspiros, e que mostram dor, sofrimento e morte; animais enfurecidos, como o próprio touro, um cavalo em agonia com língua em forma de faca, índice da violência do homem contra a natureza; a espada quebrada, sinal da luta cruenta e a bravura de um povo simples contra armas potentes inimigas; a presença de lâmpadas, índice de entendimento e a esperança de vida, lembrando até mesmo a configuração de um olho divino que tudo presencia. O amontoado de objetos caoticamente dispostos, entre os quais rostos e corpos retorcidos, indiciam a realidade chocante do combate. È lógico que esses signos remetam ainda à certa simbologia, como produto de uso cultural do mesmo. Na lateral inferior esquerda, por exemplo, há uma figura de um guerreiro totalmente mutilado, que, apesar de ter a cabeça e os braços cortados, está agarrado a uma espada partida, simbolizando assim a resistência do povo espanhol. Próximo a sua mão, encontra-se uma flor, símbolo da esperança de uma nova era. A flor, unida à espada, simboliza a resistência, e podem transmitir uma mensagem do tipo: “enquanto houver resistência haverá esperança”. Em outras palavras, há muitas leituras possíveis dentro de um objeto de arte. Guernica extrapola tempo e espaço e representa uma problemática existencial humana. Os signos não só representam toda dor que as guerras provocam, mas também, a absoluta falta de sentido da realidade destruidora da guerra. Em nível mítico profundo, além da denotação e conotação das imagens, Picasso deixa entrever não só o clamor pela construção de um mundo renovado, tecido pela presença constante da paz e da tolerância, como também, denuncia a força de grandes potências sobre as pequenas. Essa obra, portanto, será eterna, pois revela, por meio de um fato narrado, o próprio homem, não só no símbolo da destruição, mas também, com seu potencial para o entendimento e a convivência com o Outro. Por certo, o morador de Guernica que sobreviveu ao ataque vai depreender da cena narrada outras recuperações, já que, cada leitura depende da competência de cada leitor, como tal, onde se situa o estético, a estilização de objetos e as experiências de vida em relação ao fato dado. Ações na Obra de Arte na Web Os movimentos de objetos ou seres vivos, anteriormente apenas sugeridos nas obras de arte com cenas narrativas, desde as pinturas da parede das cavernas até uma tela de um pintor como essa obra de Picasso, que acabamos de mencionar, na modernidade em que vivemos, ganham efetivos registros, principalmente nas obras de arte veiculadas na rede da web. As novas tecnologias trouxeram não só novas linguagens, mas também, deram aos artistas novos modos de narrar a vida, em novas linguagens, novos suportes. Quase sem limitações de formas na era do virtual, o artista vive, hoje, a era das artes virtuais, fluídas e metamórficas feita de pixels em um écran. Para romper com antigas formas de fazer arte, a partir dos anos 60 e 70 do séc. XX, os artistas começaram a inovar não só modo de produção, como nos meios de veiculação dos seus produtos . Muitos aboliram o cavalete para pintar e adoram o touchscreen; outros ainda passaram a pesquisar materiais mais dinâmicos como a fotografia, o filme, o vídeo, para dar forma às suas idéias plásticas, até chegarem à arte digital em pixels em um écran. A arte do vídeo, por exemplo, foi contrária à arte comercial. Ela produziu narrativas que exploravam a linguagem elíptica, cheia de descontinuidades. Era quase uma forma de anti-narrativa. As cenas dadas eram, aparentemente sem causa e efeito entre si. Além disso, a vídeo-arte apresentava contrastes dinâmicos como cortes rápidos e lentos, ou simples montagem de quadros sequencias, semelhante à projeção de slydes, por vezes, apareciam imagens desfocadas, ou apresentando diálogos de trás e para frente. Em algumas há falta de sincronia entre som e imagem e em diferentes texturas. Sua proposta era mais pesquisar uma nova linguagem, para provocar uma nova inter-relação entre imagem e espectador. Assim, a imagem sairia da tela para interagir com o meio, integrandose aos demais elementos formadores de uma cena narrada. Seu objetivo, em geral, era criticar a televisão que procurava provocar, na audiência, estados anímicos melodramáticos e sensacionalismos. Tratava-se, ainda, de obra offline, mas que, posteriormente, passaria a ser parte da mídia online, podendo ser encontrada no You Tube . Algumas delas passaram a projetar as imagens além do monitor e para diferentes direções, obrigando o público a iniciar Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 10-17, 2011. 13 um percurso visual sobre um determinado espaço. Com a chegada das novas tecnologias, portanto, o homem deixou de ser um herói solitário realizando epopéias mpares, para ser um herói da wikiciberepopeia . Essa nova epopéia é escrita pela humanidade na Internet, sem limites de tempo e de espaço, onde atua o Homem como um herói global. As ferramentas da web trouxeram, também, plataformas capazes de proporcionar ao artista uma nova maneira de fazer arte ao gerar uma múltipla possibilidade de interação em rede. Os limites desse poder interativo entre tribos de diferentes a ideologias ou não, ainda são impensáveis. Antes. o processo de interatividade era a produção de um discurso interpretativo, como objeto de semiose do discurso dado. Esse ato era realizado de forma dicotômica: de um lado, a solidão de um sujeito produtor da obra; de outro, a solidão do sujeito intérprete Modernamente, com as mídias sociais e as redes interconectadas da web, essa relação está perdendo esses limites e ganhando novos contornos. O aparecimento de comunidades virtuais mostra a existência de verdadeiras tribos eletrônicas, onde idéias são mais coletivas e compartilhadas. A solidão autoral está entrando em xeque. Assim, até a interação autor e seu intérprete - como seu co-autor , que entrava nos interstícios deixados pela ambiguidade do discurso dado, para ali colocar uma espécie de complemento de sentido, produto do ato interpretativo - está ganhando novas nuanças com as movas tecnologias. Uma delas é o poder de múltiplos artistas e seus diferentes públicos entrarem em interação em rede e metamorfosearem o objeto de arte, concretamente. A cada intervenção, de qualquer um dos pólos da comunicação, na estrutura da obra, novos efeitos de sentidos são produzidos de modo fluido, mas intermitentes e que não chegam a se concretizarem realmente , pela sua metamorfose constante. A cada nova intervenção, a obra exige uma releitura, já que uma nova história é narrada. A Arte na Web é feita a muitas mãos e, desse modo, podem ser veiculada na tela do computador ou do touchscreen (tela sensível ao toque) de modo multimídia, criando a chamada transtorytelling que pode ser ainda multimidiado. Não se trata de repetir uma mesma obra em diferentes mídias, mas sim de metamorfosear, criticar, acrescentar, dados novos a obra em evidência, a fim de que ela seja uma eterna novidade . Até mesmo a idéia de arte como Obra Aberta de Humberto Eco, cuja primeira edição data de 1962, momento em que a arte assistia à proliferação de obras de arte indeterminadas com relação à sua forma, ao convidar o intérprete a participar ativamente na construção final do objeto artístico, não atende mais às idéias da arte na web. Na era das novas tecnologias, a obra de arte ganhou novas possibilidades de intromissão do leitor sobre si. Vão se multiplicando processos interativos na Web sobre as obras, e já não se pode prever o futuro dessas interações, já que se vislumbram infinitas possibilidades de interação de infinitos modos de operar essas mesmas interações. Ou seja, múltiplos internautas já podem interferir na mesma obra em diferentes lugares e até ao mesmo instante . Nas duas últimas décadas do século passado, as redes telemáticas passam a atuar, definitivamente, sobre as obras de arte. Várias correntes, com várias linguagens diferentes, aparecem: ascii arte (de American Standard Code for Information Interchange), que se serve apenas dos caracteres disponíveis nos computadores ; a holografia, a música eletrônica como arte em que se produz música por meio de aparelhos eletrônicos como os sintetizadores com o objetivo de alterar o estado da mente estimulando atém dos ouvidos o coração e a respiração, alterando o estado do corpo com batidas sequenciais, levando o sujeito a entrar em estado de transe – artistas famosos como Britney Spears e Beyonce incorporaram a música eletrônica às suas composições; a arte minimalista que procura, por meio da redução formal, produzir objetos em série, que transmitisse ao observador uma percepção fenomenológica nova do contexto em que esses objetos se inseriram ou redução da variedade visual (simplicidade, pureza, livre de misturas, despojadas de referências não-essenciais e não contaminada pela subjetividade, pois procura a essência expressiva das formas, como as obras de Frank Stella, Donald Judd, Sol Lewitt, Ropbert Morris etc); o e-mail arte ou arte correiro, é enviada por e-mail e envolve computação gráfica, animações, até a arte ASCII ; a body arte, em que o corpo é usado como suporte de expressão da arte, como nas tatuagens; arte robótica em que o artista usa robôs como meio de ser expressar; as esculturas virtuais, entre outras, todas afeitas às novas tecnologias que podem ser enfeixadas no título da ciber-arte. 14 Essas tendências da arte na Web caracterizam-se pela liberdade de produção, abertura e interatividade, além da sua virtualização, digitalização, pelo uso de pixels, provocando a desmaterialização da mesma. Essa capacidade é que permite a interação entre sujeitos em estado de comunicação de modo não linear, já que, literalmente, todos que interagem com a produção/interpretação da obra dada, podem se realizar plenamente como homens criadores. Como em todas as profissões o profissionalismo se abre aos amadores, na arte todos os intérpretes podem ser continuadores do momento de sua produção e todos também podem se sentir criadores da mesma obra. A arte na Web, em termos de comunicação, torna todos os internautas em sujeitos ativos. Metaforicamente, é um processo orobórico, já que não há, na prática, apenas um emissor ativo e muitos receptores passivos. Na Internet, todos podem se revezar tanto na produção como na recepção de idéias. Por essa interatividade constante é que aparecem colagens de informações, uso da hipertextualidade, uso dos processos de fractais formando conjuntos Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 10-17, 2011. complexos em ações em que o todo é sempre maior que a individualidade. Essa arte feita de modo eletrônico sai, portanto, das paredes dos museus em que o público parava em frente delas e desse modo elas serviam mais para serem observadas e comentadas, mas não manipuladas. A arte na web é sinestésica, com linguagens em hibridismos como a mistura da musica, das cores, formas e texturas visuais, gerando outras possibilidades de atingir até o tato, o olfato e o gosto. Assim, o prazer estético está na interação em que o dito pode ser manipulado por todos os navegadores da Internet que queiram interagir com a arte veiculada nos mundos virtuais. Todas essas novas e diferentes formas de fazer arte, portanto, são responsáveis por uma democratização na produção da arte como storytelling, que se envereda para a linguagem do cotidiano, muito próxima da que se servia o contador de histórias nas tribos primitivas. As tribos virtuais diferenciam-se por não serem passivas diante do discurso dado, pois precisam atuar sobre o que recebem, já que a democratização da arte de narrar na web, baseada em espaços, tempos dependentes de poucos recursos financeiros, o que permite a democratização de criação. Não basta, porém, saber manipular os programas, ferramentas e plataformas da web para produzir arte em paradigmas virtuais dentro da era digital. È preciso ter talento, para isso, criatividade . O mítico na arte na era da cultura de convergência Roland Barthes, em seu livro Mitologias, vai defender a idéia de que todo objeto é uma fala e que ele exige do seu intérprete um novo objeto ou forma, como conotação. Para ele, “...o universo é altamente sugestivo. Cada objeto do mundo pode passar de uma existência fechada, muda, a um estado oral, aberto à apropriação da sociedade, pois nenhuma lei, natural ou não, pode impedir-nos de falar das coisas” (Mitologias, 1993, p. 131). O mito, para Barthes é um processo de reificação de ideologias políticas, em uma tentativa de uma volta à naturalidade humana, quando se tenta desfazer a mitologia dadas pelos homens aos objetos. O mito não estaria no significante aliado a um significado convencional, como forma primeira de significação, conhecida como denotativa; nem em uma, segunda, ou conotativa, que se situa ao nível da metáfora e da metonímia. Na conotação, como a idéia de bom existente de modo metonímico na bondade de um vinho, ainda não seria o mito. Ela estaria em uma forma de signo advinda da linguagem opaca e objetual, mas dependente de signos colaterais. No design de uma garrafa como a de coca-cola, por exemplo, o mito aparece escondido, ou em estado de álibi, conforme Barthes, no espaço onde a ideologia da sedução e da feminilidade brinca de se esconder, ou seja, no próprio objeto dado como discurso ideologicamente arquitetado, com o intuito de persuadir e provocar o consumo do mesmo. Desse mesmo modo, todo objeto de arte não deixa de ser uma fala (um storytelling) que esconde uma ideologia como mito, em nível profundo, por ser um produto antropocêntrico carregado de intencionalidade e ideologias. Não se pode, portanto, confundir o mito escondido na profundidade do objeto narrado com a simples representações codificadas de modo convencional do discurso dado. Por isso, para Barthes são esconderijos do mito todo objeto intencionalmente construídos como a fotografia, o cinema, a publicidade, os espetáculos e até os esportes. Assim, a obra de arte também serve de suporte ao mito. Ao sujeito que a interpreta como signo ideológico, faz com que ele descubra nas entranhas mais profundas da obra dada, uma intencionalidade como sendo uma naturalização de um mito. Comparativamente, podemos dizer que como o sonho, segundo Freud , a obra de arte também pode esconder repressões, frustrações, desejos e assim por diante, revelando, assim, a própria naturalidade humana no produto concretamente construído. Por se tratar de um sistema semiótico, a arte esconde o mito como um sistema de valores: mas seu consumidor comum o lê como sistema de fatos, em que o significante e o significado mantêm relações naturais, advindos da língua denotativa e até metafórica, mas ultrapassando esses limites para revelar uma posição política da obra dada. A maioria dos leitores da arte a interpreta de modo ingênuo, ficando na sua linguagem primeira ou segunda. Eles não se dão conta do sistema semiológico do mito que subjaz sobre o narrado e consomem sua linguagem de modo inocente. Para eles, as línguas – significante e significado formando signos convencionais – não geram uma forma objetual e, portanto, reificadora de linguagem, onde estariam os valores intencionais e ideológicos, ou seja, míticos. Barthes vê o mito até mesmo nos produtos da era da industrialização. Assim, o design de um automóvel, por exemplo, deixa o semioticista entrever, em sua opacidade discursiva, o mito da ideologia burguesa da necessidade de ter força, potência e rapidez para sobreviver e que nesse design “brinca” de se esconder. A nova obra de arte na web, portanto, vai desencadear mitos em propulsão sem limites definidos. Henry Jenkins denominou de cultura de convergência, ao grande fluxo de imagens, de idéias, de histórias, de sons, de marcas, de relacionamentos e assim por diante que estão sendo veiculados em grande número de canais, em geral midiáticos e online. Eles passaram a moldar e estarem moldados por decisões originais de grande porte como reuniões organizacionais até decisões inocentes como as tomadas por adolescentes em seus quartos, mas que podem provocar celeumas internacionais. È a febre de interagir que leva o homem a produzir arte e a provocar estranhamentos no outro. Convergência não é a migração de culturas offline para a online, ou vice-versa, nem a Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 10-17, 2011. 15 produção de linguagem de uma mídia para outra, ou de uma plataforma da web, já que uma mídia aperfeiçoa-se ao interagir com a outra, sem, no entanto, engoli-la. Trata-se mais propriamente da troca de informações que servem como aperfeiçoamento, entre mídias, tribos, organizações, e assim por diante. Na rede, todas as idéias estão afeitas a idéias semelhantes já que todos consomem quase sempre as mesmas informações ou fazem parte de um mesmo grupo de fãs, em uma espécie de inteligência coletiva. Aqui se situa a cultura de convergência que fez da obra de arte um produto mais democrático e coletivo. A narrativa, desse modo, deve ser encontrada na leitura que se faz nos interstícios dos signos dados na cena congelada. Considerações finais: Na vida moderna não basta consumir mídia; é preciso fazer mídia, argumenta Jenkins. Assim também, não basta mais consumir arte; é preciso fazer arte; Não basta mais saber e ser consumidor de idéias prontas; é preciso produzir idéias em comunidades e estar em uma troca constante de formas de novas idéias. Não basta mais apenas trocar informações, mas sim, produzi-las para constantemente estar na mídia e despertar interesses de outros por você. A ideologia que subjaz nos produtos midiados é revelada por Jenkins quando ele argumenta que se na sociedade do homem caçador, as crianças aprendem brincando com arco e flecha, na sociedade da informação elas aprendendo a se informar fazendo informação. Se antes as crianças aprendiam sobre arte nas escolas, hoje elas podem fazer arte, praticamente sem grandes despesas, na Web, já que as ferramentas para isso estão a sua disposição. Se antes elas tinham na verdade de um professor o modelo de vida, hoje ela sabe da existência das múltiplas verdades que a web lhe proporciona. O storytelling é a revelação de problemáticas de vida, em uma obra qualquer, mostrada com contundência. A arte é um mergulho na problemática existencial como um storytelling mítico-ideológico capaz de revelar o Homem com todas as suas angústias, problemas, buscas e êxtases que seu cosmo lhe possa proporcionar. Por isso, ela extrapola tempo e espaço e deixando de ser um problema individual para ser o coletivo. Nessa caminhada a Arte procura a identidade natural do Homem, que se projeta e se funde com o natural, neutralizando a linguagem mediadora, ao transformá-la em um objeto novo na volta do olhar primordial do homem sobre o mundo. 16 Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 10-17, 2011. BIBLIOGRAFIA BARTHES, Roland. Mitologias. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1993. ECO, Umberto. São Paulo:Editora Perspectiva, 2007: FREUD, Sigmund A Interpretação dos Sonhos, Edição C. 100 anos, Imago-RJ.1999 JENKINS, Henry. Cultura de Convergência. São Paulo: editora Aleph cultural, 2009. LEMOS, André. Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2007. STAIGER, Emil, Conceitos Fundamentais da Poética, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1977 GRANDE Enciclopéida Larousse Cultural. São Paulo: Círculo do Livro, 1988. Recebido em: 15 de Maio de 2011 Aprovado para publicação em 18 de Agosto de 2011 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 10-17, 2011. 17 dentro da própria instituição. PEDAGOGIA HOLÍSTICA E OS MULTIMEIOS: uma relação que auxilia e propõe um novo olhar sobre a arte. Holistic pedagogy and multimídia: a relationship that supports and proposes a new look at art. Giselle Anzini da Costa Pedagoga e Neuropsicóloga Este artigo visa focar na investigação da sinergia entre os professores, o material multimídia e os estudantes do préprimário em relação ao ensino elementar de matemática na sala de aula ( que pode ser um vetor aplicável a todos os outros níveis de educação). Propor aspectos relacionais dessa investigação para construir, corroborar e reforçar os modelos propostos da Pedagogia Holística, reformulando os materiais utilizados por profesores através da (re)construção da pedagogia escolar, criando uma nova arte de ensinar, um novo paradigma na educação. Palavras-chave: Ensino Elementar, Pedagogia Holística, pré-primário This article seeks to focus on the investigation of the synergy between the teachers, multimedia material and kindergarten students in mathematics elementary education in the class room (which may be an array applicable to all other levels of education). Propose relational aspects of this investigation to build, corroborate and enforce model proposals from Holistic Pedagogy reformulating the materials used by the teacher through the (re)construction of school pedagogy, creating a new art of teaching, a new paradigm in education. Keywords: elementary education, Holistic Pedagogy, kindergarden E 18 ste artigo é fruto de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida a partir de observações feitas por mim em sala de aula sobre o desa?o de conseguir trabalhar os multimeios que existem dentro da escola com os alunos, focando na sinergia que há entre o professor, o material e o aluno como ferramenta para o fazer e ensinar arte. Observando, também, que cada criança traz consigo para a sala de aula um conhecimento prévio da família em que vive, da comunidade, do espaço de convivência social, ou em alguma di?culdade de aprendizagem, não esquecendo os alunos especiais. Assim, as formas de aprender são múltiplas. Então, o professor, ao planejar um tema de estudo, tem primeiro de pensar quais são os veículos que farão aquele tema chegar até os alunos: será um vídeo, um problema, um texto, um produto da arte, um debate, chamar alguém para falar; qual será desa?o, qual a porta de entrada para o conhecimento artístico, qual é a porta de entrada para toda a diversidade que eu tenho na sala de aula, considerando que cada aluno é único. Como o material trabalhado pelo professor - onde a arte é a primeira fonte - em sala de aula poderia ser transmitido a todos, exposto de uma só forma e que o professor pudesse enxergar que todos os alunos compreendessem? Não tem como isso acontecer de forma generalizada, pois cada criança é especial, cada um age de uma determinada maneira, assim também é na educação; uns são visuais, outros táteis, outros auditivos, ou seja, cada um tem sua forma de compreender o mundo, e, por esses ?ltros, alcançar os sujeitos e os objetos da arte. O professor não poderá, então, a partir dessa análise, evocar apenas esses elementos que constroem a arte de uma única maneira; aliás, não só evocar, mas ter em mãos uma diversidade de material onde cada criança tenha o direito e o dever de tocar, observar, sentir, trocar com os outros e terem sua própria análise artítisca antes da intervenção do educador; ter um ambiente rico, onde gere perguntas, dúvidas, ludicidade, que desperte em cada um uma fome de descobrir e poder saborear com os outros alunos e com o educador as variadas formas de arte. Essa diversidade de material compõe os multimeios, que o professor tem disponível e pode confeccionar por meio da in?nidade que é a criatividade. Então, após todos esses questionamentos surgiu um mosaico da aprendizagem em arte, onde cada aluno é uma peça, inclusive o educador é esse mosaico, sendo construído pela diferença de cada um dentro de uma sala de aula e também Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 18-26, 2011. O Mosaico da Aprendizagem na Arte: O Mosaico da Aprendizagem na Arte foca e trabalha com as diferenças e especi?cidades de cada um, portanto, transformando a educação em educação personalizada na arte, em sala de aula, onde cada um é diferente, consequentemente necessita de atividades diferentes uns dos outros; não signi?ca que eu deva ter um professor para cada aluno ou uma aula diferente para cada aluno; personalizar a educação signi?ca olhar a todos e a cada um ao mesmo tempo, signi?ca que, a todo momento, eu vou me preocupar tanto com aqueles que avançam sozinhos, pensando o que o professor poderia fazer para que eles avancem ainda mais e com aqueles que ?cam para trás. Aliás, ninguém deveria ?car para trás, exatamente porque o professor pode planejar uma educação personalizada. Mas como o professor poderá fazer isso? Ele precisa compreender, entender que cada criança, adolescente, adulto é diferente, e, sendo diferente, aprende em tempos diferentes e de formas diferentes, com diversos tipos de material, em especial a tecnologia; pois, o educador tem de estar preparado para receber essas crianças dessa nova geração, que são ansiosas para obterem as respostas rapidamente em sala de aula, pois já nascem tendo na escola aulas de informática e, quando procuram uma reposta para seus questionamentos, geralmente as procuram no computador que, em instantes, as recebem. Kerckhove (1995) criou o termo psicotecnologia que de?ne qualquer tecnologia que “emula, estende ou ampli?ca o poder das nossas mentes”. Nessa frase, Kerckhove se refere, especi?camente, às tecnologias, mas aqui, neste artigo, ela pode ser utilizada para os multimeios, onde a tecnologia está inserida. Então, os multimeios, dentro da sala de aula, ou na instituição, têm o poder de emular, estender e ampli?car o poder de nossas mentes, por isso, o mosaico da aprendizagem em arte foi criado, para compreendermos que, assim como somos diferentes uns dos outros, precisamos de materiais diversos para que, em algum deles, nos encontremos, onde esse ou aquele recurso desperte a nossa curiosidade e nos prenda a atenção a ponto de observarmos, re?etirmos e acomodarmos o que o educador está nos evocando. Isso terá sentido se nos despertar os sentidos, através do material ou instrumento que for, por isso temos que tê-los disponível e com variedade. Não podemos a?rmar que, com uma boa aula, todos aprenderão simultaneamente, pois uns são táteis, outros auditivos, etc, são inteligências múltiplas. Por meio desses questionamentos, surge outra implicação: o trabalho diversi?cado. O que é o trabalho diversi?cado na escola? Ele pode ser entendido de várias formas diferentes: uma primeira forma é ter algumas aulas ou alguns tempos em que os alunos estão em aula, todos juntos, porém, fazendo coisas diferentes ou atividades diferentes planejadas pelo professor, em função das necessidades dos alunos ou atividades de livre escolha, que é um momento rico, pois o professor pode perceber quais são as forças, as necessidades, o que interessa mais a um aluno e a outro, pois, dentro da sala de aula, o professor vai distribuir todo o material disponível, dando a abertura necessária para que o aluno se identi?que com aquele objeto e internalizando o necessário de uma forma lúdica, em que ele se reconheça naquele objeto ou recurso, é uma extensão do corpo dele, segundo Kerkhove, e depois, o professor observa o que não interessa; qual a di?culdade que eles têm, e que, muitas vezes, não sabem ainda se expressar corretamente ou que tem vergonha de falar; quem consegue fazer sozinho, quem precisa de ajuda, qual o tipo de ajuda; então, esse trabalho diversi?cado acompanhado de uma avaliação, de uma observação atenta do professor, com anotações especí?cas sobre cada aluno, contribuirá para uma educação personalizada e para o planejamento do professor, que saberá sobre cada necessidade dos seus alunos. Isso é sinergia. E a arte só pode, assim, se bene?ciar dessa nova compreensão do aprender a aprender. Outro ponto muito importante nessa educação personalizada, em que a arte se torna substrato é, a exemplo da escola da Ponte, a reunião das crianças, de séries diferentes, de idades diferentes para trocar experiências, para aprenderem uns com os outros, a interatividade entre eles. Segundo Nicola, em seu livro Cibersociedade: quem é você no mundo online? interatividade é um fenômeno que envolve indivíduos constituídos em grupo, no qual os comportamentos de cada um tornam-se estímulos para o outro, permitindo a construção da identidade. Portanto, com a transformação no olhar do educador, ele passa a ter um olhar menos classi?catório, menos acusador em relação ao aluno que não aprende e, dentro dessa lógica, levá-lo a educar o seu olhar nas relações com a arte também. Então, a avaliação é uma lente para ajudar o professor a planejar e para ajudar o aluno a aprender, a sentir, a interpretar, para entender o porquê esse aluno não aprende, ou não compreende os produtos da arte, e acreditando que todos são capazes, irá buscar rotas alternativas, caminhos para fazer com que todos aprendam. Diante disso, essa sinergia que envolve o professor e o aluno, onde o professor é o responsável por essa sinergia acontecer, e assim sentindo, junto com o aluno, saberá desenvolver uma educação personalizada e criativa, onde os dois podem se expressar, um aprendendo com o outro, uma linda experiência, a de troca, de compreensão e onde o aluno não vai se sentir vazio, onde só o professor detém o saber supremo, o professor aprende com os alunos e isso é amor incondicional, é arte. Segundo Bosi: “(...)um laço íntimo entre sujeito e objeto é o que distingue os dois modos fundamentais de conhecimento, (que a Renascença ainda conseguia fundir): a percepção estética e a percepção cientí?ca. (...) Na arte, a habitação do mundo percebido pelo sujeito e, em direção contrária, a presença ativa deste naquele, fazem parte de uma experiência singular e poderosa que talvez só se possa comparar à do ato amoroso.” Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 18-26, 2011. 19 Desenvolvendo o Mosaico da Aprendizagem em Arte e sua relação com a Pedagogia Holística: Esse mosaico está sendo construído pela análise de todo o material que o educador utiliza na sua rotina em sala de aula e existente dentro da instituição de ensino em que ele trabalha e com os Parâmetros Curriculares Nacionais. O material didático, o paradidático, a TV, o computador, a lousa digital, as revistas, os jornais, Cd´s, a música, os jogos lúdicos, entre outras, estão sendo observados. Logo após essa coleta, observação e análise dos multimeios, será feito um recorte do que mais corrobora com o material da Pedagogia Holística, que nada mais é do que a união dos três pilares educacionais: a Pedagogia Waldorf, a Escola da Ponte e o ICELP. Com todo este material, esta pesquisa está identi?cando a sinergia (trabalho contínuo e processual em cadeia), os formatos dos materiais midiáticos, os jogos lúdicos, analisando qual a dinâmica do material na escola, estudando essas relações e qual material está mais próximo ao que a Pedagogia Holística propõe, complementando este material com novos instrumentos, uma nova dinâmica, uma nova didática, uma nova arte e uma (re)construção da pedagogia escolar. A Pedagogia Holística e os multimeios pretendem transformar-se em instrumentos de uma nova forma de ensinar, uma nova forma de arte, a arte de educar, de transformar. Re?ro-me a essa reconstrução da educação como uma arte no andamento dessa pesquisa, pois traz os conceitos do holismo, que enxerga o aluno tal como ele é, com suas particularidades, sua arte; traz o presente, o passado e o futuro, analisa o material utilizado hoje pelos educadores e traz a sua reconstrução, surgindo o novo, a tecnologia que é importante nos dias de hoje, pois os educadores e a instituição devem estar sempre atualizados para receber essa nova geração de crianças. Kerckhove nos leva a re?etir em seu livro “A Pele da Cultura” (p.32) sobre o poder dos nossos brinquedos quando ele diz que, de fato, estamos a nos tornar ciborgues, pois, à medida que cada tecnologia estende uma das nossas faculdades e transcende as nossas limitações físicas, desejamos adquirir as melhores extensões do nosso corpo. A Pedagogia Holística: A Pedagogia Holística une o material das educações libertárias: a Escola da Ponte em Portugal, a Pedagogia Waldorf de Rudolf Steiner e as técnicas usadas pelo Icelp (Centro Internacional para o Desenvolvimento do Potencial de Aprendizagem) formando um Mosaico da Aprendizagem onde cada criança e cada pro?ssional é uma peça deste Mosaico, pois todo o universo da aprendizagem é diversi?cado. Este mosaico engloba todo o material usado na escola. Assim, toda esta diversidade de material tem de haver uma sinergia, ou seja, que estas informações circulem de forma tão continuada (mesmo sendo fragmentada) e processual, a ponto de construir a identidade do aluno. Esta dinâmica do material utilizado na sala de aula pelo professor, complementado pelas técnicas da Pedagogia Holística é que será construído este Mosaico da Aprendizagem. Estas técnicas educacionais propostas pela Pedagogia Holística vêm auxiliar e complementar todos os instrumentos midiáticos trabalhados na escola para que auxiliem os professores e complementem o ensino transmitido por este material visando ao holismo, ou seja, um material completo em todos os sentidos, pois as necessidades individuais e especí?cas de cada educando devem ser atendidas singularmente, já que as características singulares de cada aluno implicam formas próprias de apreensão da realidade. Neste sentido, todo o aluno tem necessidades educativas especiais, manifestando-se em formas de aprendizagem sociais e cognitivas diversas. A palavra Holismo vem do grego holos (todo) e pode ser visto como o mundo como um todo integrado, como um organismo. Ou seja, a criança vista com outro olhar: mente, corpo e espírito. Pedagogia Waldorf: 20 As técnicas da Pedagogia Holística iniciam-se com a Pedagogia Waldorf que explica o desenvolvimento do homem na educação em graus evolutivos, em etapas de 7 anos, que são claramente diferentes entre si, denominadas setênios: No primeiro setênio (0-7anos), a criança entra para a maturidade escolar, estando ela em pleno desenvolvimento motor e aberta ao mundo. O professor é um modelo, pois é imitado a todo tempo. Então, ele deve ser digno de ser imitado, pois, nessa imitação inconsciente, fundamentará sua moralidade futura, não compreende o pensamento dos adultos, tem con?ança ilimitada, entre outras. A criança está aberta ao mundo; No segundo setênio (de 7 a 14 anos), a criança entra para a maturidade sexual. Começam a vivenciar a área dos sentimentos, tem interesse na admiração que suas atitudes ou coisas causam, necessita de explicações conceituais, puberdade entre 12 a 14 anos, interage e responde ao que recebe do mundo externo, etc... No terceiro setênio (14 a 21 anos), entra a fase da maturidade social. O jovem quer ser compreendido, vê o mundo fora, ou seja, separa-se do mundo, tem desenvolvimento do lógico, analítico e sintético. O professor é analisado e tem que ser digno de respeito, a vida se torna um assunto próprio e interroga sobre tudo o que existe, etc.. Dentro da Pedagogia Waldorf, encontramos a Euritmia. Nas aulas de Euritmia, a criança “dança” poesias, histórias, músicas, e tece sua relação com as dimensões do espaço, já que coreografar uma poesia implica ocupar conscientemente o espaço, segundo as Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 18-26, 2011. leis da geometria. A prática dos exercícios proporcionará ao aluno um auto-conhecimento do seu corpo, dando a ele agilidade, graciosidade leveza, versatilidade e expressividade. As aulas são preparadas para cada faixa etária. Como arte, a euritmia busca analisar o movimento intrínseco da linguagem poética e da música, como ele se con?gura no ?uxo da fala e no desenvolvimento dos sons, com todo seu mosaico de sentimento, levando também em consideração o conteúdo especí?co expresso pelo poeta ou pelo compositor. Esse elemento artístico-plástico da fala e da música é transposto para o espaço cênico pelo movimento coreográ?co, complementado pelas cores das indumentárias e da iluminação. Simultaneamente com recitação ou música ao vivo, a Euritmia dança, assim, o desenvolvimento dos sons de poesias e músicas, em toda sua complexidade. O Extra Lesson (EL) compreende uma avaliação detalhada e individualizada (anamnese) da primeira infância da criança e uma série de exercícios especiais de movimento, desenho e pintura, feitos para reorganizar habilidades motoras que possam ter sido pouco desenvolvidas do nascimento aos sete anos de idade. Esses estímulos contribuem, segundo o método, para reduzir di?culdades de concentração e dislexias leves que podem causar problemas de aprendizagem. Quando detectado um sinal desse tipo, o professor faz um trabalho de pesquisa com os pais, em busca de informações sobre a criança. Ele procura saber quais foram as condições de nascimento, como aprendeu a andar e a falar, como brinca, quantas horas assiste à TV, como é o sono, a alimentação etc.... Ainda, dentro da Pedagogia Waldorf, encontramos a Antroposo?a que Rudolf Steiner de?niu-a como “um caminho de conhecimento para guiar o espiritual do ser humano ao espiritual do universo”. Ele a?rma que as pessoas não são meramente observadoras separadas do mundo externo. De acordo com Steiner, a realidade surge somente na união do espiritual e do físico, “onde o conceito e a percepção se encontram”. O objetivo de um antropósofo é tornar-se “mais humano”, ao aumentar sua consciência e deliberar sobre seus pensamentos e ações. Pode-se atingir altos níveis de consciência pela meditação e observação dos fenômenos da natureza e do próprio processo cognitivo. Ele descreveu e desenvolveu numerosos exercícios para a obtenção da capacidade de experimentar o mundo suprassensível. ICELP ( International Center for the Enhancement of Learning Potential) Em 1980, Reuven Feuerstein publica o PEI - Programa de Enriquecimento Instrumental e o LPAD (Learning Potential Assessment Device) - Avaliação Dinâmica da Propensão para o Aprendizado, seu modelo de psicodiagnóstico. A proposta de trabalho do Prof. Dr. Feuerstein busca trabalhar o desenvolvimento das habilidades cognitivas do pensamento com a aplicação dos instrumentos do PEI – Programa de Enriquecimento Instrumental – programa que sistematizou e que pode ser aplicado em diversos contextos, desde diferentes níveis da educação (pré-escolar, ensino fundamental, médio, superior, educação especial) até treinamentos de alta tecnologia. O foco central de seu trabalho é o desenvolvimento das teorias da Modifcabilidade Cognitiva Estrutural – MCE – e da Experiência de Aprendizagem Mediada – EAM – cujas práticas se originaram do desenvolvimento do Dispositivo de Avaliação da Propensão de Aprendizagem – LPAD – e o Programa de Enriquecimento Instrumental – PEI – além da criação de ambientes modifcantes. Segundo o Prof. Dr. Feuerstein, “a experiência de aprendizagem mediada é uma característica típica de interação humana, responsável pelo traço exclusivo das pessoas que é a modifcabilidade estrutural. Há um grande número de ferramentas conceituais e cognitivas que caracterizam e dão forma aos aspectos aplicados da teoria da Modifcabilidade Cognitiva Estrutural; entre eles se encontram o mapa cognitivo, as funções defcientes e a orientação de processos”. A respeito da relação que existe entre a Modifcabilidade Estrutural Cognitiva e o desenvolvimento humano, o Prof. Dr. Feuerstein diz: “A MCE explica o desenvolvimento humano não apenas em seus aspectos biológicos, mas também sob o ponto de vista psicológico e sociocultural, isto é, leva em consideração uma dupla ontogenia: a biológica e a sociocultural. A MCE é o resultado combinado de ambas. Num sentido mais amplo, a MCE se baseia no conceito de crescimento humano, substancial a sua natureza evolutiva e de transformação de suas potencialidades cognitivas em habilidades de raciocínio e busca contínua de soluções para os problemas de diversas ordens que se colocam a sua volta”. O PEI (Programa de enriquecimento instrumental) é um trabalho, um programa de intervenção psico-pedagó- gico que se dedica a produzir mudanças estruturais permanentes na capacidade para aprender e para saber utilizar o saber nas diversas circunstâncias da vida. De acordo com Feuerstein, o objetivo geral do PEI é aumentar a capacidade do organismo do ser humano para ser modifcado, mediante exposição direta ao externo, aos estímulos; com os contatos com a vida, a experiência e com a fnalidade de chegar à aprendizagem formal e informal tendo como subobjetivos específcos: • Corrigir as funções cognitivas deficientes; • Ampliar e enriquecer o vocabulário-conceito; • Desenvolver a motivação intrínseca para o “aprender a aprender” / saber; • Desenvolver a motivação intrínseca às tarefas e à busca de soluções de problemas; • Desenvolver pensamento reflexivo e meta-cognição; • Desenvolver a criatividade (estratégias do pensamento) e autonomia do indivíduo, enquanto ser Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 18-26, 2011. 21 pensante. O PEI é constituído de 14 instrumentos, com atividades desenvolvidas para potencializar, compreender e para ter acesso a princípios cognitivos fundamentais em nível operacional, de modo a promover não só impacto nos esquemas mentais, mas nas esferas emocional-afetiva e social. Desenvolvidos com a coerência suficiente para evitar qualquer tipo de barreira linguística e cultural. Esses instrumentos são representacionais e abstratos, diversificando e emulando os níveis de operações mentais e funções cognitivas, de modo que a estrutura cognitiva se torne cada vez mais permeável, plástica e flexível: “aprender a pensar”; “aprender a aprender e a usar o aprendizado”. Os instrumentos são: • Organização de pontos; • Matrizes progressivas de raven; • Grupo I e II de variações; • Desenho de padrões; • Progressões numéricas; • Desenho da figura complexa; • Aprendizagem de posição; • Memória associativa: teste I de redução funcional; • Memória associativa: teste da parte e todo; • Teste de abstração verbal; • Bandejas; • O organizador; • Memória de palavras; • Teste de raciocínio silogístico. Escola da Ponte: Para finalizar, a Escola da Ponte em Portugal, em que não há séries, ciclos, turmas, anos, manuais, testes e aulas, é diferente do nosso modo de “classificar” os alunos. Os alunos se agrupam de acordo com os interesses comuns para desenvolver projetos de pesquisa. Há também os estudos individuais, depois compartilhados com os colegas. Os estudantes podem recorrer a qualquer professor para solicitar suas respostas. Se eles não conseguem responder, os encaminham a um especialista. Não há salas de aula, e sim lugares onde cada aluno procura pessoas, ferramentas e soluções, testa seus conhecimentos e convive com os outros. São os espaços educativos. e estão designados por área: na humanística, por exemplo, estuda-se História e Geografia; no pavilhão das ciências, fica o material sobre Matemática; e o central abriga a Educação Artística e a Tecnológica. O prédio da escola, a parte física nos dá um belo exemplo dos espaços proporcionados que privilegiam a comunicação, libertam a criança da rigidez de espaços e mobiliários tradicionais, encorajando, fundamentalmente, as relações entre os alunos e entre estes e os educadores, mobilizando, igualmente, os professores para o trabalho em equipe. Esta configuração do espaço facilita a adaptação da organização escolar às diferenças individuais e à contínua aquisição de conhecimentos; permite os reagrupamentos funcionais de alunos; estimula nas crianças a multiplicação dos contatos pessoais e, por conseguinte, a sociabilização; facilita diferentes tipos de didática e pedagogia, favorecendo, igualmente, todas as formas de trabalho dos alunos (individual, em grupo e atividades livres), permite condições de desenvolvimento ao trabalho participativo e democrático em área aberta. O prédio da escola está com uma nova proposta, um outro conceito de espaço a ser desenvolvido por maquete feita por 12 arquitetos, ex-alunos que conhecem bem a proposta da escola. Esse projeto inclui uma área que o professor José Pacheco chama de centro da descoberta, onde tudo o que é descoberto é compartilhado. Há também pequenos nichos hexagonais, destinados aos pequenos grupos e às tarefas individuais. Estão previstas ainda amplas avenidas e alguns cursos d’água, onde se possa mergulhar os pés para conversar, além de um lugar para cochilar. As novas tecnologias da informação devem estar espalhadas por todos os lados para ser democraticamente utilizadas pela comunidade. • Mediação do sentimento de competência; • Mediação de regulação e controle do pensamento e ação (regulação do tempo); • Mediação de compartir e conviver com os outros; • Mediação da individualidade e da diferenciação psicológica; • Mediação do otimismo; • Mediação da consciência de que o ser humano é uma entidade passível de mudanças; • Mediação de busca, planificação e alcance dos objetivos; • Mediação de busca pela novidade e complexidade. Um método revolucionário com função psicodiagnóstica é o LPAD, diferente da avaliação psicométrica, é um método de avaliação congnitiva que, mediante experiência de aprendizagem mediada, busca identificar o nível em que o indivíduo se encontra, a modificabilidade dele e qual é o seu potencial de aprendizagem e ainda qualifica e quantifica as funções deficientes, diponibilizando a orientação adequada para a intervenção cognitiva,trabalhando com os seguintes testes cognitivos: 22 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 18-26, 2011. Este é um espaço polivalente. Neste momento, tendo em conta que mais de uma centena de crianças almoçam na escola, o espaço está transformado em refeitório. No entanto, sempre que é necessário, é utilizado para realizar pequenos debates. É também neste espaço, que se costuma realizar a reunião mensal de pais Fonte: http://www. escoladaponte.com.pt/html2/portug/visita/refeitori/refrub.htm Acesso em 11/03/2011. O objeto em destaque é a caixinha do segredo. As outras caixas em cima da mesa existem em todos os espaços. Uma contém folhas de rascunho, outra folhas de papel quadriculado, outra folhas pautadas e outra é dedicada aos “perdidos e achados”.Em todos os espaços é também possível ouvir música. Fonte: http://www.escoladaponte. com.pt/html2/portug/visita/antonio/topomesa.htm Acesso em 11/03/2011 Desenvolvimento: Para o desenvolvimento desta pesquisa têm-se enfrentado alguns desafios, pois é preciso estarmos abertos para novos olhares; segundo Kerckhove (1995), somos perfeitamente capazes de integrar dispositivos na nossa identidade, certamente no nosso corpo. Uma tal capacidade prepara o terreno para o desenvolvimento necessário de uma nova psicologia do ensino e apreensão artística, que esteja mais bem equipada para lidar com o mundo que temos pela frente como a rigidez de professores envolvidos nesta pesquisa para observar, refletir e ampliar Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 18-26, 2011. 23 sua dinâmica dentro da sala de aula com os seus alunos e também de colaborar com a pesquisa. Alguns professores negam-se a aprender novos conceitos em artes ou até não acreditam que é possível uma mudança nesse âmbito, havendo uma resistência. Estão desanimados com a profissão como um todo, ou por não aceitarem outros profissionais no seu dia-a-dia inserindo novas maneiras de educar pela arte, modificando o seu método de ensinar; creem eles que, por estarem tantos anos na rede de ensino, têm experiência suficiente, e negam-se a ouvir, principalmente por serem professores mais novos. Não modificam sua rotina, mesmo sabendo que ela não teve sucesso por anos. Fica claro que nada que coloquemos em uma sala de aula vai substituir o papel do professor, estamos nos referindo a recursos que potencializam a aula desse professor, transformando-a em uma aula interativa e abrindo novas facetas na educação para a arte, vendo-a também como arte, remodelando maneiras de enxergar a didática, provando que em uma aula não precisamos apenas de giz e o quadro negro, mas que ela pode ter a imagem, a escrita, o som, o jogo, o lúdico, a interatividade da lousa digital, a autonomia do aluno em participar da aula, tudo isso disponível para o aluno, e este podendo e estando no seu direito de fazer parte dessa aula com suas ideias, trazendo o seu contexto para dentro da escola. Essa pesquisa está aprimorando a dinâmica usada pelo professor em sala de aula, investigando novos instrumentos da arte que auxiliem as interfaces da linguagem por meio de um material didático concernente e os multimeios necessários para potencializar e promover o significado que cada um precisa e se obtém por meio de investigação das técnicas educacionais da Pedagogia Holística, que amplia o leque da aprendizagem artística. Outra variável que não pode deixar de ser citada é o alto custo de cursos e viagens para estudar e pesquisar a fundo as três educações libertárias; o alto custo de livros e material para a pesquisa e para aplicar a pesquisa; a ausência de vontade política educacional na aplicação do método holístico; a carência de infraestrutura multi midiática na aplicação das técnicas da Pedagogia Holística; os custos para produção de novo material, etc... A metodologia começou a partir da identificação das mídias (material escolar usado na sala de aula), livros didáticos, paradidáticos, jogos lúdicos, TV, internet, CD’s, a sala de informática e seu material, a lousa digital, a mídia segmentada, materiais didáticos holísticos, entre outros, que corroborem para a Pedagogia Holística. Essa seleção do material está sendo direcionada, sendo feito um recorte dos principais tópicos, juntamente com uma análise detalhada destes materiais. Em seguida, a observação da dinâmica entre professor/ material/ aluno dentro da sala de aula, observando a análise da frequência das informações transmitidas pelo professor aos alunos, se ela está de forma continuada e processual a fim de que os alunos estejam processando-as na mesma velocidade em que são transmitidas; entrevistas, formulários e observações feitas com o professor, coordenação, direção, equipe da instituição, e principalmente, com as crianças envolvidas nesta pesquisa; estudo da relação deste material escolar já selecionado com a proposta da Pedagogia Holística bem como a relação humana e os jogos de linguagem que constroem as interfaces ensino/aprendizagem; surgindo a identificação da dinâmica que constrói a Pedagogia Holística, do material que a escola usa e do que seria ideal ser usado, surgindo o material para a estruturação de novos instrumentos para construir essas interfaces da linguagem e o material midiático adequado para a Pedagogia Holística, propondo elementos relacionais que estão construindo, confirmando, modelando e aplicando as propostas da Pedagogia Holística. Em seguida vêm os multimeios que estão se unindo às técnicas da Pedagogia Holística para dar sentido a esse novo material. Após essa etapa, a construção de um roteiro do uso e atribuições na relação material didático/ professor e aluno e estes novos instrumentos estão sendo aplicados dentro de uma escola que está envolvida na pesquisa e sua eficiência está medida pelas respostas dos professores, alunos e comunidade em geral para avaliar o quanto que a ação que está sendo proposta é eficiente. Multimeios e Pedagogia Holística unidas estão contribuindo para o alargamento de perspectivas da ação educacional; abrindo a possibilidade de uma nova visão educacional, uma nova forma de arte, uma nova forma de educar, e na a implementação do projeto, é possível identificar os instrumentos, e com eles, realizar um treinamento com os agentes (professores) e a (re)formulação do material escolar com novos instrumentos, (re) construindo interfaces da linguagem, entre outras, que estão surgindo no decorrer dessa pesquisa. Considerações finais: 24 Ainda hoje, chegam às escolas professores que não sabem por que fazem o que fazem, e que não fazem algo diferente por não terem sequer uma idéia do que seria possível ser feito no universo do ensino da arte na escola. Por mais exagero que possa parecer ter posto na afirmação, é esta a dura realidade. Mas acredito que os professores são capazes de transcender os erros cometidos na sua formação. Para isso, todo o profissional precisa Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 18-26, 2011. se conhecer, ter um auto-conhecimento, uma (re)educação para poder estar bem, conhecer seus potenciais para lidar com o outro, corrigir seus “defeitos”. A ação pedagógica da Pedagogia Holística promoverá, facilitará a aprendizagem e dará resposta aos interesses, perguntas latentes e necessidades concretas da criança. Pois é só respondendo à expectativa presente no educando que a aprendizagem adquire caráter significativo e irá harmonizar arte e ensino cada vez mais. A educação assim entendida, transcende a mera transmissão de conhecimentos e se converte em sustentação do desenvolvimento integral do educando, cuidando que tudo o que se faça tenha como meta a formação de sua vontade e o cultivo de sua sensibilidade e intelecto. Deste modo, procura-se estabelecer uma relação harmônica entre desenvolvimento, aprendizagem e a Arte, fazendo confluir a dinâmica interna da pessoa com a ação pedagógica direta, ou seja, integrando os processos de desenvolvimento individual com a aprendizagem da experiência humana artística e culturalmente organizada. No desenvolvimento dessa pesquisa, está surgindo um novo material que procura transcender todo e qualquer tipo de material, pois ele é holístico, ele terá várias facetas para nos auxiliar e para observarmos e refletirmos a sua atuação no indivíduo no fruir da arte. Ele irá nos mostrar o processo gerativo do sentido onde, após nos autoanalisarmos como educadores, revivendo toda a nossa formação que, depois, revivida e complementada com a Pedagogia Holística, veremos nossa formação com outro olhar, uma nova arte, consequentemente veremos nossos alunos com outra visão, a visão holística; uma visão de respeito mútuo, ou seja, o processo gerativo do sentido; lançamos o respeito pela individualidade de cada um e recebemos um olhar de admiração perante essa postura, pois o educador compreende o mundo interno de cada educando. É importante ressaltarmos aqui os alunos de inclusão que chegam as nossas salas de aula. O educador, na maioria das vezes, não foi preparado para recebê-lo, não sabe como lidar com ele, pois não teve a formação na faculdade e também não tem o material específico para esse aluno e, quando o tem, não sabe como aplicar com seu aluno, porque não estudou, não conhece a fundo a deficiência dele, o que ocorre em seu interior. Logo, a visão neuropsicológica emerge como importante aliada a todo educador, o que o faz merecedor em sua formação. Com todo esse desenvolver da pesquisa, e, a partir desse processo, a sinergia acontecerá e o trabalho do educador irá fluir, pois todos fazem parte desse processo, tanto o educador, como o educando tanto quanto o material, os multimeios, num processo híbrido de arte e o humano. Esse material multimidiático artístico será desenvolvido durante todo o processo de educação bem como nessa pesquisa, e terá sempre um espaço para novas ideias e tecnologias que, a todo momento, surpreendem-nos com a rapidez que se renovam sempre. BIBLIOGRAFIA BATISTA, Antônio Augusto Gomes et all. Programa Nacional do Livro Didático: histórico e perspectiva. Brasília, SEF/MEC, 2000. BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. Editora Ática, 1985, p.41. CARVALHO, Anna Maria Pessoa (Orgs.) Ensinar a ensinar. Didática para a escola fundamental e média. São Paulo, Pioneira Thomson Learning, 2002. KERCKHOVE, Derrick de. A pele da cultura. Lisboa: Relógio D´Água Editores, 1997, p. 34-35. LANZ, Rudolf. A pedagogia Waldorf . São Paulo, Editora Antroposófica, 2005. NICOLA, Ricardo. Cibersociedade – quem é você no mundo on-line? São Paulo, Senac, 2004, p.28-29. PACHECO, José. Escola da Ponte: Formação e Transformação da Educação. Editora Vozes. 2008 STEINER, Rudolf. A arte da educação ll. São Paulo, Editora Antroposófica, 1988. Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 18-26, 2011. 25 Sites: CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO MÁRIO COVAS Parâmetros Curriculares Nacionais em Ação. In: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pcn_l.php?t=001 Acesso em 30/12/2010. Disponível em 30/12/2010 M ODERNISTAS CONTRA ACADÊMICOS? A PINTURA DE HUGO ADAMI Modernists against Academic Artists? Hugo Adami’s paintings Ivana Soares Paim CENTRO DE POTENCIALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM In: http://www.teologo.org/objetivos.htm Acesso em 14/02/2011. Disponível em 14/02/2011 ESCOLA DA PONTE. http://www.escoladaponte.com.pt/ Acesso em 12/02/2011. Disponível em 12/02/2011 FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Livro Didático In: http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-livro-didatico Acesso em 30/12/2010. Disponível em 30/12/2010 Mestre em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora da Faculdade Paulista de Artes em São Paulo, Brasil. Este artigo visa explicar a confusão que alguns críticos de arte fazem quandose diz respeito aos trabalhos artísticos produzidos em São Paulo, entre o final do século XIX e o começo do século XX. Estes críticos tendem a chamar esta arte de acadêmica, descartando o fato que foi, de longe, influenciada pelo realismo e naturalismo. Para deixar claro que estas obras de arte possuem muitos traços realistas, especialmente Italianones, pinturas de Hugo Adami foram examinadas neste estudo, já que suas obras de arte podem ser classificadas na linha transicional entre o Realismo/Naturalismo no final do século XIX e o Modernismo no começo do século XX MIRANDA, Maria Eliza. “A proposta do Prof. Dr. Reuven Feuerstein” In: http://www.cbmpei.com.br/noticias/artigos_detalhes.asp?codigo=11 Acesso em 30/12/2010. Disponível em 30/12/2010. Texto elaborado pela Federação das Escolas Waldorf, dezembro de 1998. “Princípios da Pedagogia Waldorf. In: http://www.sab.org.br/fewb/pw3.htm Acesso em 30/12/2010. Disponível em 30/12/2010. Recebido em: 21 de Abril de 2011 Aprovado para publicação em 17 de Setembro de 2011 Palavras-chave: Realismo, Naturalismo, Hugo Adami The present article aims to explain the confusion some art critics make when talking about the Brazilian artworks produced in São Paulo, between the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth one. Those critics tend to call that art academic, disregarding the fact that it was by far influenced by the realistic and naturalistic trends. To make it clear that those art works had much more of realistic traits, especially Italianones, Hugo Adami’s paintings were taken in this study, since his art works could be placed in a transitional line between the Realism/Naturalism of the end of the nineteenth century and the Modernism of the beginning of the following one. Keywords: Realism, Naturalism, Hugo Adami O s artistas, que abraçaram os ideais modernistas em São Paulo na década de 20, e liderados pelo crítico Mário de Andrade, tinham como claros objetivos a atualização da linguagem plástica nacional perante o mundo ocidental, e a preservação das características nacionais daquela produção artística. Para tanto, do ponto de vista de Andrade, o Modernismo paulistano não poderia aderir simplesmente às correntes mais radicais das vanguardas européias – que negavam a noção vigente de arte como representação da realidade exterior – pois tal adesão impossibilitaria aos modernistas construir uma iconografia brasileira nas artes plásticas. Desse modo, os modernistas aderiram às correntes européias de Retorno à Ordem, que proclamavam uma retomada do figurativismo baseado no classicismo de Cèzanne e nas teorias puristas de Jeanneret e Ozenfanf, que defendiam a retomada do real na pintura sem copiá-lo meramente, privilegiando o “bem fazer” em relação aos seus elementos próprios como a cor, a textura da pincelada, e a composição da figura no espaço pictórico, entre outros. Esse novo realismo guiaria os ideais de Mário de Andrade e dos artistas modernistas daquela época. E foram esses mesmos ideais que o crítico verificou nas pinturas de Hugo Adami, em 1928, em uma exposição individual do artista na galeria Casa das Arcadas, em São Paulo. Segundo Tadeu Chiarelli, parece que Hugo Adami foi o primeiro artista que Mário de Andrade encontrou, cuja produção pictórica – impregnada pelo respeito aos valores intrínsecos da pintura – estava ligada às correntes tipicamente realistas do Retorno à Ordem internacional; pois até aquele momento, Andrade apenas pudera ter contato com essas vertentes por meio de reproduções fotográficas (Chiarelli, 1996, p.42). 26 Embora a maioria dos estudos sobre o Modernismo em São Paulo deixe claro que tipo de produção imagética os artistas da época pretendiam alcançar nos anos 20, ainda há certa confusão em relação à nomenclatura dada ao tipo de produção artística que repudiavam. Para esclarecer tal questão será abordada neste artigo a descrição e a contextualização histórica das primeiras produções pictóricas de Hugo Adami, e serão levados em conta, Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 18-26, 2011. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 27-34, 2011. 27 conceitos como: Acadêmico, Realismo/Naturalismo; e os professores de arte atuantes na cidade de São Paulo, na primeira década do século XX, que tomaram parte da formação de Adami e outros artistas da época, contribuindo também com seus trabalhos, para o panorama das artes plásticas produzidas em São Paulo, na época. A fim de realizar o estudo sobre a obra inicial de Hugo Adami e deixar clara a questão sobre o tipo de arte que existia em São Paulo entre o final do século XIX e início do XX, foi necessário elaborar um levantamento preliminar de sua obra total encontrada na cidade de São Paulo – sendo descobertas apenas 14 pinturas de sua primeira fase; e o estudo sobre a produção de pintura acadêmica e realista na Europa e no Brasil, no século XIX. Há certo risco em chamar a produção artística existente na cidade de São Paulo, no início da década de 20, antes da Semana de 22 de arte acadêmica, ou academicista, devido mesmo ao fato de essa década historicamente não estar tão distante da nossa para que muitos de seus aspectos já tenham sido redimensionados pelo tempo; e também pelo ofuscamento causado pela Semana de 22, considerada como divisor de águas na arte brasileira. No que diz respeito à obra de Hugo Adami há contradição entre o que dizem os críticos Mário Barata, Luiz Martins e o que afirma a estudiosa Vera D’Horta, quanto à sua produção – os dois primeiros não classificam a pintura de Hugo Adami como acadêmica, colocando-a mesmo contra àquele tipo de pintura. Já Vera D’horta define os trabalhos de Adami como partidários do Acadêmico. Mas os três autores citados relacionam sua pintura ao movimento Acadêmico, quer afirmando-lhe ou negando-lhe tal característica. suas telas do período em que viveu na Itália e sua produção posterior no Brasil não tiveram influência do “Acadêmico”. No Brasil, por menos aristocráticos que tenham sido o primeiro e o segundo impérios, e por mais presa a valores burgueses que tenha sido a produção artística local naquela época, sem sombra de dúvida, alguns pintores possuíam muito daquele caráter pragmático da arte acadêmica européia, que sempre visou à glorificação do rei e da nobreza, criando símbolos por meio da pintura e outras modalidades. Pedro Américo e Vítor Meireles foram os grandes acadêmicos encarregados de criar os principais símbolos do II Império. Como é sabido, na França, a Academia – aparelho de Estado a serviço da realeza –privilegiava a pintura histórica ou alegórica porque essa aproximaria o homem de Deus, através das imagens de reis, príncipes e heróis mitológicos. Outros gêneros pictóricos, como a pintura de animais, paisagens e naturezas-mortas eram tidos como menos importantes ou menores, pois se afastavam da maior obra divina que era o corpo humano (Pevsner, 1982, p.73). A síntese do pensamento acadêmico francês, fornecida por Pevsner, ao indicar a supremacia que o assunto dito nobre devia possuir em qualquer obra de arte, aponta para a importância dada à Antiguidade como parâmetro para a elaboração de obras de arte. Tudo deveria estar submetido aos seus cânones, todos os elementos da obra deviam obedecê-los. Até a paisagem a ser retratada, tinha que adequar-se ao padrão da paisagem romana, tida como a “mais perfeita”. A pintura, por sua vez, teria que estar vinculada ao desenho, em detrimento da cor, o que ressaltava seu caráter retórico, narrativo, ligado ao historicismo acadêmico. (Lichtenstein, 1994, p.38) Contra esses cânones acadêmicos tão restritos, iriam aparecer os ideólogos da burguesia, trazendo consigo uma nova postura perante a arte. Um dos primeiros sintomas dessa mudança, na França, acontece na hierarquia dos gêneros pictóricos, quando a pintura de história começa a ser substituída naquele país pela pintura de gênero histórico (Chiarelli, 1996, p. 259). Esse gênero de pintura tirava o ideal da pintura de história, repudiando sua antiga grandiloqüência em prol de um prosaísmo do cotidiano, favorecendo já os ideais da classe burguesa, bem fortalecida no século XIX. De acordo com o historiador Félix Ferreira, aqui no Brasil, no final do século XIX, o público já não estava mais afeito às heroicidades de “Riachuelo” e “Avaí” de Pedro Américo, da mesma forma que, na França, ao público parisiense dos anos trinta já não interessava a exaltação dos heróis franceses ( Chiarelli, 1996, p. 259). Assim, contra a arte acadêmica, pela qual a aristocracia tomava seus direitos de comando, enaltecendo seus heróis, surge, em contrapartida, a perspectiva burguesa, que propunha exatamente a retomada de uma pintura que mostrasse o cotidiano, que descrevesse o interior das casas e seus objetos, como também a vida das pessoas dessa classe. Assim, para a burguesia, não interessavam mais heroísmos e deuses, mas o cotidiano, a vida “comum”. Esta seria, portanto, uma das principais razões para que os gêneros paisagem e natureza-morta vigorassem, em detrimento da pintura que exaltava símbolos e entusiasmos nacionais. Em “Hugo Adami”, texto de Luiz Martins, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 1976, o artista é colocado entre aqueles que lutaram contra o “passadismo acadêmico” no Brasil, na década de vinte. Já em seu texto, “Três bons artistas e uma sugestão aos jovens”, Vera D’Horta afirma haver em toda a pintura de Adami, até a década de quarenta, traços da pintura acadêmica e coloca num mesmo patamar as telas do início dos anos vinte, “Velha Bretã”, “Frango”, e aquelas de sua fase italiana, “Natureza-Morta com garrafão”, “Natureza-Morta com faisões”, e “As artes” (figura 1), como se orientadas por um mesmo princípio: Na escolha dos temas (Natureza-Morta com garrafão, A velha bretã, Frango, As artes, Natureza-Morta com Faisões, etc); suas telas mostram vínculos fortes com o academicismo, enquanto que a fatura é vigorosa, sua textura dá existência individual aos objetos retratados. Realidade, ideal acadêmico, não refletem um todo harmonioso (D’Horta, s/d, p.19). Na verdade, as obras de Adami produzidas a partir de sua fase italiana não receberam influência do Acadêmico, mas de artistas vinculados ao Realismo do Novecento Italiano, um movimento de Retorno à Ordem, ocorrido na Itália no período entre guerras, que nada buscou na pintura acadêmica do século XIX. Além do mais, a pintura que vigorava no Brasil, na época em que Adami começou a pintar, não era mais orientada por um ideal acadêmico, mas por elementos da pintura realista/naturalista. Assim, tanto sua produção inicial – anterior a 1923 – como 28 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 17-34, 2011. Mas o grande golpe que a hierarquia dos gêneros iria receber na França viria com Gustave Courbet, mais tarde considerado pai do Realismo na pintura. Suas telas “Os britadores de pedras”, e “Funeral em Ornans”, representam um marco na história ocidental. Nelas, pela primeira vez, um pintor ousava tomar telas de proporções consideráveis – destinadas tradicionalmente, apenas aos motivos históricos – para mostrar pessoas do povo, pequenos burgueses do interior, proletários, subproletários e camponeses. A linguagem pictórica de Courbet igualmente rechaçava os clichês da tradição acadêmica, pois o artista buscava a visualidade popular para embasar a sua própria. E, embora sua obra, em seu compromisso com a realidade social francesa, tenha sido a mais radical entre todas, não foi a única a ir contra aqueles ideais acadêmicos. Na cena inglesa e francesa já era possível perceber um interesse crescente de certos artistas em eleger paisagens campestres ou suburbanas, trabalhadores e pobres, como Honoré Daumier ou Jean François Millet. Assim, essa pintura realista elevava a antiga pintura de “cenas de gênero” ao status das antigas pinturas de história, assumindo o papel principal na escala de valores de uma parte considerável de artistas franceses, papel este que seria aceito pelo público burguês da época (não sem alguma polêmica), tanto na França quanto no restante do mundo ocidental. No entanto, o Realismo foi muito mais do que uma mudança hierárquica dos gêneros na pintura. Foi uma atitude estética que surgiu no final do século XVIII com a pintura de gênero histórico, citada há pouco, tendo florecido propriamente com o Realismo/Naturalismo no final do século XIX, desdobrando-se no movimento Impressionista e renascendo com novas características durante o período entre guerras (Nochlin, 1976, p. 23). Considerar o Realismo como atitude estética, facilitaria a compreensão das correntes realistas que aparecerão no século XX. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 27-34, 2011. 29 Uma das maiores conquistas do Realismo na pintura foi superar o modelo ou esquema acadêmico existente entre o artista e a captação da natureza em seus trabalhos, o que se deu plenamente no final do século XIX com o movimento realista/naturalista. Quando o pintor inglês John Constable afirmou, em 1882, que ao sentar-se para pintar tentava se esquecer de que já tivesse visto outros quadros, queria na verdade despir sua mente de todo conhecimento de fórmulas preconcebidas para a pintura e ter assim, um contato direto com a natureza. A fidelidade à percepção da realidade visual foi apenas um aspecto da empreitada realista/naturalista. Segundo Nochlin seria errôneo basear a concepção de tão complexo movimento, somente na verossimilhança. Duas de suas contribuições devem ser levadas em conta para o desenvolvimento da arte no século XIX: uma delas seria a conexão feita pelos realistas/naturalistas entre história e fato experienciado. Isto é, o verdadeiro entendimento representação de ambos, passado e presente, passaria a depender de um escrupuloso exame da evidência; livre de qualquer avaliação convencional, moral ou metafísica. Em 1861 Courbet declarava que a pintura era essencialmente uma arte concreta e podia somente consistir na apresentação de coisas reais e existentes. Portanto, um objeto que não fosse visível, não existente no mundo físico, não seria digno da pintura. Esse pressuposto leva assim, à outra contribuição do movimento realista/naturalista: a contemporaneidade. Ora, se para os realistas como Courbet, o artista devia pintar apenas o que encontrasse à sua volta, isso significaria considerar o presente em que vivia. Assim, os realistas/naturalistas do final do século XIX não viam mais porque pintar fatos do passado ou futuro. O crítico francês Jules Antoine Castagnary definiu claramente essa “contemporaneidade” eleita por aqueles artistas: “os naturalistas colocaram o artista de volta em sua própria era, com a missão de refleti-la (...) descrevem a aparência da própria sociedade e seus costumes e não mais aqueles das civilizações há muito desaparecidas” (Castagnary in: Nochlin, 1971, p.34). Na medida em que esse o Realismo/Naturalismo desenvolvia-se no final do século XIX, a demanda por contemporaneidade tornava-se mais rigorosa. A “instantaneidade” dos impressionistas era a “contemporaneidade” levada aos seus últimos limites. O “agora”, o “hoje”, o “presente”, tornava-se “este instante”. Sem dúvida, continua Nochlin, a fotografia ajudou a criar esta identificação do contemporâneo com o instantâneo, levando o poeta Baudelaire a afirmar: “A Modernidade é o transitório, o fugidio, o contingente”. Assim, essa insistência de apreender o momento presente na arte foi um aspecto essencial para entender o desdobramento do Realismo/Naturalismo dentro de um “Realismo impressionista”, na França. A captação do movimento passa a ser compreendida no “agora”, num flash de visão. No Brasil, foi exatamente essa possibilidade de olhar e valorizar o entorno que chamou a atenção de artistas brasileiros ou residentes no país – como Jorge Grimm, entre outros –, interessados em uma arte alternativa para o país que desse conta de suas peculiaridades físicas e humanas (Chiarelli, 1995, p. 82). Com as lutas pela proclamação da República no final do século XIX, surgiu no Brasil, entre os artistas e a crítica, a necessidade de ir contra a produção da Academia Imperial, tida como espelho do atraso do Império em relação às artes. Assim, adotaram a estética naturalista como uma forma de oposição àquela situação. O Realismo/ Naturalismo foi mesclado então a ideais nacionalistas, pois entrava no Brasil, em um período de transição de governos. O primeiro pintor brasileiro ligado ao Realismo/Naturalismo foi Almeida Jr, que retratou caipiras e pequeno-burgueses em cenas cotidianas. Contudo, apesar de seu apego a representação naturalista, Almeida Jr., segundo Chiarelli, parece não ter pretendido, de fato, abrir uma tradição nova na arte brasileira. Seu Realismo/ Naturaismo diferenciava daquele de Courbet ou Millet porque não mostrava em suas telas os habitantes do interior desenvolvendo atividades produtivas – onde ficasse patente seu envolvimento com a terra, com a produção de riquezas – mostrava-os apenas em atividades de laser ou repouso. Embora no geral, o Realismo/Naturalismo no Brasil tenha carregado alguns resquícios da arte acadêmica, dela já se havia distanciado e a ela se opunha oficialmente, como esclarece Chiarelli: Com as lutas pela proclamação da República, surgiu no Brasil uma vertente da crítica que, vendo na produção veiculada pela Academia Imperial de Belas Artes os índices do atraso do Império em relação às artes, adotará a valorização da estética naturalista e o apoio a artistas a ela ligada, como mais uma forma de oposição ao status quo. Será essa oposição que de fato irá instaurar o debate artístico no Brasil, propondo uma arte alternativa para o país, uma arte que desse conta de suas peculiaridades físicas e humanas (Chiarelli, 1995, p.82). Na Itália, o Realismo/Naturalismo se desenvolveu de maneira eclética, onde ainda sobreviviam reminiscências classicistas e românticas. No final do século XIX, a Itália passava por um período de unificação política, territorial e nacional, campo fértil para o desenvolvimento de idéias ligadas ao Realismo/Naturalismo. Mas ainda era um país fragmentado, não totalmente coeso, tanto no sentido político quanto ideológico. Daí ocorrerem concomitantemente orientações artísticas tão antagônicas dentro de um mesmo território. Foram postos assim, sob um mesmo ponto de vista, a fidelidade ótica, o historicismo romântico, a nova temática realista e o tema idealizado e edificante. Na Itália, o Realismo/Naturalismo surgiria como a “revolução da macchia”, ou mancha de tinta, constituindo o que se chamou de movimento dos macchiaioli. Seus maiores expoentes foram: Giuseppe Abbati, Silvestro Lega, Telemaco Signorini e Giovanni Fattori. Esses pintores privilegiavam a busca da forma na pintura por meio da mancha de cor. Tal movimento, porém, não investiu somente na transformação da técnica ou da forma, mas, também do tema, do relacionamento humano e da postura dos artistas perante as coisas. Assinalou em toda a Itália, não só o término da linha e do desenho acadêmico, mas também, o fim da pintura escura, betuminosa. Mesmo que por breve tempo, marcou igualmente o fim da pintura religiosa enquanto suscetível de constituir obra de arte e o aparecimento da caricatura moderna na Itália, com expressão de liberdade crítica e autocrítica dos novos grupos sociais. Demarcou, assim, a afirmação da possibilidade humana de conhecer o mundo em toda sua consistência objetiva por meio da observação e experiência direta da natureza que era, no fundo, a essência do movimento macchiaiolo. Mas, segundo o historiador Corrado Maltese, devido à falta de uma elaboração teórica mais coesa na Itália, o movimento perdeu-se na busca vazia de efeitos de luz e cor, chamada de divisionismo ou numa retomada do historicismo romântico, indo desdobrar-se mais tarde numa pintura simbolista, meramente cenográfica (Maltese, 1992, p. 225). Maltese afirma que tanto na França, quanto na Itália, o Realismo iria desembocar na pintura divisionista, derivada do Impressionismo no primeiro país e dos macchiaioli, no segundo. O autor continua dizendo que também na França, a pintura histórico-romântica renasceria num curioso “setecentismo” concentrado na pintura de Meissonier, dando margem a um virtuosismo exagerado, apreciado por uma burguesia de gosto duvidoso. Seria contra esses tipos de pintura que as vanguardas iriam se rebelar no início do século XX. Mas por hora, não deve ser esquecida a importância que o Realismo/Naturalismo teve para “afugentar” da pintura os cânones acadêmicos, valorizando a observação direta da natureza. 30 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 17-34, 2011. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 27-34, 2011. 31 Neste trecho, Chiarelli caracteriza o tipo de produção pictórica que havia desde o final do século XIX no Brasil, chamando atenção para o Naturalismo, devido à vontade de uma parcela da crítica da época de caracterizar aspectos da vida cotidiana, ou do povo brasileiro, na busca de uma identidade nacional. Nas linhas seguintes, o autor atenta para a falta de clareza dos intelectuais da época para definirem puramente esse Naturalismo, sendo ele ainda carregado de certos resíduos acadêmicos. No entanto afirma que “tal fato não impediu que esse segmento se caracterizasse como opositor à oficialidade e detentor de valores de cunho natualista”. Segundo o autor, será dentro desse Naturalismo que surgiriam as contribuições mais contundentes de oposição à arte oficial ou acadêmica, caracterizado por uma representação realista/naturalista, que privilegiava a observação do entorno e a cor local do país. Vê-se que tanto na França como no Brasil, essa arte se virou contra a Academia; e no Brasil, foi associada à busca de uma identidade nacional.No Brasil, assim como ocorreu nos países acima citados, o Realismo/Naturalismo iria diluir-se numa pintura retórica, comprometida com o gosto da burguesia cafeeira, repudiada por Mário de Andrade e seus seguidores modernistas na década de XX. Ao iniciar suas atividades pictóricas, Adami teve contato com o Realismo/Naturalismo, já algo distante do gosto acadêmico. Mesmo porque, os primeiros professores de Adami – Giuseppe Barchitta e Alfredo Norfini – entrosavam- se já com a pintura do grupo de artistas italianos do século XIX, os macchiaioli, que não apresentava nada da Academia. Adami foi seu aluno na Escola Profissional Masculina do Brás, entre 1911 e 1913, aproximadamente. Alfredo Norfini teve formação na Academia de Belas Artes de Lucca, mas desenvolveu um tratamento da cor e composição livre das regras acadêmicas. Para seus quadros, valorizava mais a paisagem, retratos e cenas cotidianas. A pesquisadora Ruth Tarasantchi afirma ter sido Norfini um grande animalista. Diz também que, ao usar a aquarela, seus traços eram rápidos com cores leves e que, grande ou pequena, sua pincelada era espontânea. O forte de seu trabalho, segundo a estudiosa, era a cor quente, macia e viva, que mostrava sua preocupação em ser fiel à cor local, também deixando espaço para a imaginação (Tarasantchi, 1986, 233). Norfini foi um importante documentarista, principalmente de paisagens das cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, e as cidades barrocas de Minas Gerais, como também de pessoas de diferentes povos, já que viajou muito, recolhendo de cada local visitado, composições vivas e realistas. Na pintura a óleo, seu trabalho nem sempre alcançou resultados tão espontâneos e vibrantes como em suas aquarelas. A composição parece perder movimento e as figuras ganham certa rigidez; mas, apesar de contornar as figuras no óleo e, algumas vezes, deixar parecer o traço sutil do lápis com que foi feito o desenho, Tarasantchi assegura que isto não interfere na obra nem na sua leveza. Chega também a pintar marinhas, nas quais é claro seu interesse pelos reflexos coloridos das ilhas e rochas próximas. Suas composições com poucos traços chegam mesmo a ser vaporosas com riscos leves e colorido apurado.Adami foi aluno de Norfini de 1913 a 1916, no período em que estudou no Liceu de Artes e Ofícios, em São Paulo. Lá, então, entrou mais uma vez em contato com as características da pintura dos macchiaiolli, antes vista com Giusepe Barchitta. Levando-se em consideração esses dados levantados sobre seus primeiros professores, deve ser evitado, então, pensar que Adami tenha passado incólume aos ensinamentos desses seus mestres, pois, ao serem examinadas suas pinturas de paisagens entre 1917 e 21, nota-se a observação naturalista da cor e do entorno, muito distanciado da orientação acadêmica. Di Cavalcanti ao relatar o início de sua aprendizagem com Elpons assim o descreve: Antiacadêmico, um misto de arte caricatural, pós-impressionismo, art-nouveau, expressionismo e estilização, temperados, sobretudo por uma inquieta vontade de explorar as diversas tendências modernas e romper com a tradição dominante (Pinacoteca do Estado, 1994, p.25). Um pouco exageradamente, Di conseguiu ressaltar duas características principais que distanciariam Jorge Fischer Elpons do universo da arte acadêmica. A primeira diz respeito a sua pincelada pastosa e rebuscada, ao uso de cores vibrantes, muitas vezes confundidas com as do impressionismo mais ligado, na verdade, à influências proto-expressionistas, pois se preocupava com as questões matéricas da cor. A segunda descreve o interesse que o pintor demonstrava pelas novas tendências que surgiam na pintura, como a obra de Vincent Van Gogh, por exemplo, artista que ele admirava. Elpons pintou poucas paisagens, preferindo mais a natureza-morta com frutas e rosas, suas prediletas. Formou-se em Munique, na Alemanha, vindo para o Brasil em 1912 e fundando, em 1914, uma escola de pintura com os artistas Wasth Rodrigues e William Zadig. Esses três artistas inauguraram o curso de desenho noturno com modelo vivo, o primeiro em São Paulo (Tarasantchi, 1986, p.237). de acadêmico, pois valorizava a construção da forma por meio de massas de cor, como visto há pouco. E existiria outro motivo para que Adami não pudesse ter recebido uma orientação acadêmica no início de sua formação. Além de Barchitta e Norfini, é importante não se esquecer de J. Fischer Elpons, com quem o então jovem pintor também estudou. Elpons desenvolvia um trabalho bastante distanciado, igualmente, do gosto acadêmico. Giuseppe Barchitta, natural de Cattania, Itália, radicado em São Paulo, em 1911, havia participado da I Exposição de Belas Artes na cidade de São Paulo e, em 1913, já lecionava na Escola Profissionalizante Masculina do Brás, onde teve como alunos César Lacanna, Aldo Malagoli, Otávio Araújo e Hugo Adami (Leite, 1988, p. 25). Fez seu aprendizado no Instituto de Belas Artes de Roma, tendo pintado as telas: “Madonna della Salute” e “Sagrada Família”, na igreja de San Giuseppe em Cattania. Mais tarde, passa pela formação divisionista da pintura macchiaioli e apresentaria a seus alunos no Brasil, as pinceladas nervosas e a prioridade da cor pura. Era admirador de Cézanne, Pelliza da Volpedo, Segantini e Previati, pintores que nada tinham de acadêmico. Assim, embora Barchitta tivesse uma pintura naturalista, próxima ao real, sua orientação jamais poderia ter privilegiado os ideais 32 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 17-34, 2011. Estudaram com Elpons, em seu atelier em São Paulo, por volta de 1917, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, e Hugo Adami, entre outros, os quais encontravam na figuração naturalista do mestre alguns elementos inquietantes da pintura moderna como a pincelada vigorosa, matérica e o uso peculiar da cor. Da produção de Hugo Adami, anterior ao seu deslocamento para a Europa em 1922, foram encontrados até o presente catorze originais. A maioria paisagens noturnas, ou de dias nublados, onde predominam tons de cinza e verdes escuros, com exceção de “Morro do Castelo”, 1921, (figura 2) e “Retrato de Mário de Andrade”, 1922, (figura 3), cujas pinceladas são mais pastosas e o colorido mais vibrante, refletindo os ecos macchiaioli de seus professores. Em outras obras – como “Paisagem de São Miguel Paulista” ou em “Frango”, natureza-morta – as cores usadas pelo artista não denotam nenhum idealismo de viés acadêmico, mas apresenta-se como fruto da observação fiel do real. São claros em suas pinturas dessa época dois princípios que norteavam também seus mestres realistas: a “sinceridade” e a “acuidade”. O primeiro termo pressupunha que o artista traduzisse em suas obras a realidade que lhe fosse verdadeira. A acuidade significava colocar-se diante da natureza, supostamente liberto de todos os preconceitos. Deste modo, o artista poderia experimentar o que ela oferecia de instantâneo, para captar-lhe o Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 27-34, 2011. 33 momento. Esses ideais já são típicos da pintura italiana que se desenvolveu na segunda metade do século XIX, aquela dos macchiaioli, a qual, Barchitta e Norfini tiveram contato. Esses pintores desenvolveram suas linguagens pictóricas particulares, mas nortearam-se pelo mesmo apreço ao contato direto com a natureza ou realidade que iriam pintar. Assim, tendo iniciado seu trabalho nesse contexto, fica difícil vincular o Realismo Naturalismo das primeiras pinturas de Adami ao Acadêmico, ou mesmo continuar denominando toda a pintura realista/naturalista da época de academismo, pois há muito se distanciara daqueles valores. NAS MÃOS DE MESTRES, A PENA E O NANQUIM In the hands of masters, the quill and ink Márcia Aparecida Barbosa Vianna Professora de Literatura Brasileira, Mestre em Comunicação Midiática pela UNESP/Bauru, Doutora em Literatura Brasileira pela USP/SP BIBLIOGRAFIA A Pinacoteca do Estado. São Paulo: Banco Safra, 1994. ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Cia das Letras, 1992. BARATA, Mário. “Dados historico-críticos sobre Hugo Adami”. São Paulo: Instituto _______________ Hugo Adami. São Paulo: MAM, 1986. BARGELLINI, Piero. Il Caffè Michelangiolo. Firenze: Vallechi, 1944. CHIARELLI, Tadeu. De Almeida Jr. a Almeida Jr.: a crítica de Mário de Andrade, v. I e II. São Paulo: ECA/USP, 1996. (tese de doutorado). _________________ Um Jeca nos Vernissages. São Paulo: EDUSP, 1995. Cultural Itaú, centro de informática e cultua, 1991. D’HORTA, Vera. “Três bons artistas e uma sugestão aos jovens”. Folha de S. Paulo, Ilustrada. São Paulo, p. 19, s/d. LEITE, José Roberto Teixeira. Dicionário crítico da pintura no Brasil. Rio de Janeiro: Artlivre, 1988. LICHTENSTEIN, Jacqueline. A cor eloqüente. São Paulo: Siciliano, 1994. MALTESE, Corrado. Storia dell’ arte in Itália: 1785 – 1943. Torino: Einaudi, 1992. MARTINS, Luiz. “Hugo Adami”. O Estado de S. Paulo. São Paulo, p.12, 18/08/1976. NOCHLIN, Linda. Realism. New York/Baltimore: Penguin Books Inc., 1971. PEVSNER, Nicolaus. Las academias del’arte: pasado y presente. Madrid: Catedra, 1982. TARASANTCHI, Ruth S. Pintores paisagistas em São Paulo (1890-1920). São Paulo: ECA/USP, 1986.(tese de doutorado). Recebido em: 15 de Fevereiro de 2011 34 Aprovado para publicação em 22 de Agosto de 2011 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 17-34, 2011. As palavras e sinais a respeito de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Leitor Portinari do texto Machadiano. Apenas uma ideia para dois textos, onde poderá ver o visível e o invisível no texto e na ilustração. A comunicação entre a palavra e a imagem. Palavras-chave: Machado de Assis, Portinari, Memórias Póstumas de Brás Cubas The words and the signs talking about Memórias Póstumas de Brás Cubas. Portinari reader of machadian’s text. Just one idea for two texts, where you can see the visible and the invisible in the text and in the ilustration. The comunication between the word and the image. Keywords: Machado de Assis, Portinari, Memórias Póstumas de Brás Cubas E este material básico utilizado por dois comunicadores para a criação de suas obras – Machado de Assis e Cândido Portinari - surgiram magníficos textos, um jogo intertextual entre o dito e o visto, ambos possuidores do mesmo título e enredo: Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito originalmente por Machado de Assis, publicado em março de 1880, na Revista Brazileira e em volume, no ano seguinte. Entretanto, a 4ª edição, publicada em 1943, foi ilustrada por Cândido Portinari, vindo a ser a primeira obra editada pela “Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil”, entidade fundada por Raymundo Castro Maya , com exemplares limitados (119 ao todo), exclusivos para os colecionadores, algumas entidades e instituições culturais. Esta edição se destacou das demais pela escolha de um papel especial – “Registro Brasil”, de alta qualidade, que lhe atribuía o caráter de obra preciosa e luxuosa, correspondendo ao gosto dos colecionadores pelo seu raro e exclusivo trabalho. A preciosidade do livro o tornou um objeto artístico, de luxo, uma verdadeira obra de arte, pois além dos textos, trouxe consigo uma luz própria com a beleza das ilustrações. O público alvo das edições, no caso os leitores de cada situação relacionada à época da publicação, embora apresentasse diferentes níveis culturais, ou seja, a cultura média da burguesia do século XIX e a cultura erudita dos leitores que formaram a “Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil” encontrou situações semelhantes de leitura, com a possibilidade de múltiplas interpretações, quer seja pela lógica realista machadiana ou pelo imaginário portinaresco. As ilustrações contidas nos exemplares eram compostas de desenhos e águas fortes densos, sóbrios, num clima que expressou as emoções e experiências expostas por Machado ao longo do romance, refazendo a história. Podemos observar este aspecto em uma crítica publicada pelo Jornal “Correio da Manhã”, do Rio de Janeiro, Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 35-43, 2011. 35 em 13 de agosto de 1944, onde a autora e crítica, Lúcia Pereira, elogiou a perfeita harmonia entre o encontro dos dois mestres: certas ambigüidades, estimulando a formação de obras opostas, construindo uma configuração compensatória e desfazendo as dificuldades encontradas no decorrer da leitura. “O que quero dizer é que, procurando traduzir fielmente Machado de Assis para o desenho, Portinari restringiu, ou melhor, dirigiu a sua imaginação, fazendo uma recriação, coisa mais difícil, e no caso mais valiosa, do que a criação espontânea.” (PEREIRA, 1996) No texto machadiano o leitor encontra uma relação conflituosa relacionada à subjetividade e à ironia. A subjetividade deve ser interpretada de acordo com o contexto cultural de quem a lê; já a ironia expressa pelo autor forma a configuração, permitindo ao leitor identificar a relação entre os signos que surgirão no decorrer da leitura. Esta configuração se fragmenta numa multiplicidade de associações imaginárias, nem sempre esgotáveis, servindo de “pano de fundo” da ironia problematizada, agindo sobre o jogo individual criado pela imaginação, visando identificação das correlações entre os signos e fazendo aparecer o ato de compreensão, como um encadeamento de reações indispensáveis ao entendimento. Por isso, para ISER , essas relações estabelecem um processo de desenvolvimento da imaginação que não pode ser desfeito, pois significa o envolvimento do leitor com a obra, que faz o texto estar presente no ser e coloca o ser presente no texto, constituindo um momento decisivo da leitura, em que numerosos fenômenos ocorrem simultaneamente, desempenhando importantes funções no ato de compreensão da obra e de seu significado. À medida que se lê um texto de ficção, surge uma interação entre o pensamento do leitor e suas experiências passadas, e à medida que essa interação coloca em jogo dois processos solidários - a desordem do status da experiência antiga e a formação de uma nova experiência efetuam a compreensão do texto, vista não como um processo pacífico de aceitação, mas sim como a resposta produtiva a uma situação vivida. É a soma das experiências e ideias diretivas do leitor. A “recriação” necessitou de instrumentos para ser lida, nela texto e imagem geraram outro texto construído pelo leitor. Os escritos de ISER(1996) sobre a estética da recepção e os de MARIN(2001) , sobre o visível e o invisível, auxiliaram nesta análise do processo de decodificação, e em posterior leitura, por parte do leitor, Portinari, este tendo em mãos uma criação machadiana, se utilizando de seus dotes criativos para revivê-la em uma nova linguagem. Desta forma podemos pensar em uma cadeia de criação de metatextos. Temos então a poeticidade revelada nos textos, transformando em diferentes linguagens a matéria-prima – a tinta – e, de acordo com suas habilidades, dois comunicadores efetuaram seus trabalhos como mostra de seus dons - escrever e ilustrar. A partir de uma leitura efetuada por Portinari, surgiu um novo canal de comunicação, levando o leitor a um passeio virtual por entre os traços criados pela imaginação, pelo dom e interpretação pessoal do ilustrador. Tudo isso resultou então, em uma leitura verbal vinculada à leitura plástica do texto, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O PROCESSO DE LEITURA DA LINGUAGEM VERBAL – A DECODIFICAÇÃO A decodificação se relaciona com o processo de recepção textual, por isso, a teoria de ISER nos auxilia no desenvolvimento deste artigo, definindo e mostrando caminhos para a descoberta do pensamento do leitor, agindo em sua interpretação pessoal e global, de acordo com o seu horizonte de expectativas. Sobre o verbal, sabemos que as frases estão ligadas umas às outras com vistas a formar unidades semânticas de um nível superior e que apresentam estruturas muito diferentes, pois engendram conjuntos tais como: narrativa,romance, estilo, conversação, drama, teoria científica, conflitos, expectativas etc. Tudo isso fez parte da percepção crítica e criativa do autor aqui trabalhado, Machado de Assis, que seguiu normas estruturais, embora seu trabalho, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tenha inovado ao criar uma comunicação realista, despida de tradições, e por isso conseguiu atingir o objetivo semântico visado (não pelo texto, mas sim pelo efeito causado na recepção do leitor – no caso, Portinari). ISER afirma que o texto de ficção enquanto não é referencial, é aberto, porque não se esgota na designação de dados, mas se apresenta ao receptor como proposta real de estruturação, na qual qualquer coisa não objetiva pode ser constituída. Na verdade, a teoria iseriana nos mostra ser na memória que o leitor encontra liberdade suficiente para harmonizar a multiplicidade desordenada da vida cotidiana, lhe dando uma coerência formal do fato, possibilitando, talvez, a única maneira de reter os sentimentos das experiências vividas. Prosseguindo, segundo o teórico, o leitor participa do texto, se envolvendo em uma narração que o leva a ter a impressão de estar vivendo outra vida. Esta ilusão provoca uma interação, por se sentir parte integrante do enredo. Durante a leitura, o presente e o passado não cessam de convergir para aparecem mais claramente, de modo que o ponto de vista móvel se desdobra sobre o texto e, conseqüentemente, cria uma rede de operações na consciência do leitor. A leitura provoca sensações conflitantes; à primeira vista há um encontro do fato com o prazer, resultado das surpresas causadas pelas expectativas de ler. Este paradoxo se funde entre a surpresa e frustração; efeitos que exercem algo sobre o leitor. Dessa forma, a necessidade da configuração se apresenta como condição prévia à compreensão do texto, ou seja, o leitor se interessa em receber toda a informação necessária sobre o texto e suas tendências. Se o autor aumentar o número de sistemas codificados (devemos lembrar ser esta uma forma constante do subjetivismo machadiano), tornando a estrutura do texto mais complexa, o leitor pode reunir o mínimo de informações para decodificar, tudo isso complica o entendimento pleno dele, tornando o trabalho de decodificação mais interessante e amplo. A necessidade de selecionar certas relações na rede daquelas já estabelecidas provém do fato que, no decorrer da leitura, o ato desenvolve os pensamentos de uma pessoa. Quaisquer forem esses pensamentos, eles não deixarão de representar um mundo desconhecido. Por definição, este mundo vai além das próprias experiências pessoais apresentando certos elementos que não são diretamente acessíveis. A essência textual não reside nas expectativas, nas surpresas ou decepções, ela incorpora as reações do sentido formadas no ato de ler, e provocadas pelo movimento (ação), perturbação (conflitos) ou interferência (momentos ou situações antagônicas). Isto quer dizer que ao ler, há uma reação àquilo podendo ser produzido no próprio leitor, formando, assim, um mundo de reações e fazendo com que se possa viver o texto como um acontecimento real. Na concepção iseriana, “sentir o texto” é um acontecimento correlacionado ao conhecimento e à sensibilidade do leitor. A forma de expressão articula um processo de realização que se desenvolve em sua mente, surgindo aí 36 Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 35-43, 2011. A CRIAÇÃO VISUAL – A RECODIFICAÇÃO Ilustração 02 - contida na edição especial da “Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil”, pág. 163. A estrutura do texto e aquela do ato de ler se tornaram complementares para que a comunicação entre codificador e decodificador se realizasse, produzindo assim um texto correlato com o nível intelectual do leitor, neste caso – Cândido Portinari - cuja transferência do verbal para o visual tornou-se possível quando se integraram a conscientização e a percepção, aliados aos dons de cada um – quer fosse do escritor, do leitor ou do ilustrador. Definimos aqui leitura como “uma integração dinâmica entre o texto e o leitor”, já que os signos lingüísticos do texto e suas combinações puseram em movimento a transposição do texto para a consciência do leitor. Os atos provocados pelo texto escaparam a um controle externo do mesmo, instaurando a criatividade da recepção, e resultando em algo novo e criativo, dependente da leitura efetuada. Os conhecimentos anteriores que o leitor trouxe encontravam-se revestidos de valores, e toda experiência estética tendeu a mostrar a interação. Uma configuração textual coerente poderia ser a base indispensável do ato de compreensão em geral, pois ela dependia dos reagrupamentos Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 35-43, 2011. 37 realizados pelo leitor, por meio dos quais as ligações entre os signos eram identificadas e representadas nas reproduções artísticas. Tivemos como resultado uma ligação recíproca entre os signos – verbal e visual – embora não explicitada pelo texto, porém provinha da modificação conservada na memória dos signos submetidos a um sistema de equivalência. A estrutura textual estabeleceu entre os signos uma totalidade, enquanto que a equivalência nascida das modificações geradas pelo leitor esteve sempre conservada na memória dos significados dos signos, sendo estes produtos do leitor. Vimos assim o momento em que a estrutura textual transformou-se em estrutura de ação através dos traços e desenhos portinarianos. ISER relatou que a leitura se tornou a interação dinâmica entre o texto e o leitor, pois os signos lingüísticos do texto e suas combinações colocaram em movimento a transposição do texto para a concepção de idéias do leitor, em que os atos provocados pela leitura escaparam a um controle interno dela mesma, instaurando uma criatividade da recepção que podemos julgar como interpretativa, e neste caso, especificamente, também produtiva. As decisões seletivas tomadas no decurso da leitura produziram um excedente de possibilidades. Isto significou que esses atos seletivos permaneceram virtuais e se incorporaram ao leitor no domínio de experiências estranhas ocorridas ao ler, conduzindo ao ato de apreensão e de criação. As personagens, os eventos e as ações obtiveram outras significações, e apareceram sob uma nova luz, significando que as decisões seletivas mudaram de orientação pelo fato de associações estranhas ocorrerem, modificando as figurações semânticas adquiridas. Temos como exemplo do aspecto citado, a construção da personagem alcoviteira – D. Plácida, que recebeu do autor textual um tom de candura, maternidade e inocência, totalmente diferente do que se esperava de alguém em sua delicada posição; entretanto esse aspecto foi captado na recodificação portinariana, onde o comunicador textual buscou várias formas de expor a figura , encontrando na imagem publicada a feição de uma pessoa correspondente ao tom sensível do comunicador verbal acerca da fragilidade da personagem. “[...] e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta, e a certos respeitos, verdadeira dona da casa. Custou-lhe muito aceitar a casa; farejava a intenção, e doía-lhe o ofício; mas afinal cedeu. Creio que chorava, a princípio: tinha nojo de si mesma. Ao menos, é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros dois meses; falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. [...] [...] Ao cabo de seis meses quem nos visse a todos três juntos diria que Dona Plácida era minha sogra. [...]” (Memórias Póstumas de Brás Cubas, pág.105). A formação de uma configuração coerente não constituiu em si um processo criador de ilusões, entretanto realizou uma seqüência de reagrupamentos, não formulando uma mera característica do texto, e sim uma representação de ordem semântica. Por isso, tem fundamento a seguinte afirmação de GOMBRICH : “Cada vez que uma leitura coerente se apresenta ao espírito... a ilusão toma frente”. Tendo como base a citação anterior, não podemos considerar o romance machadiano como uma ilusão ou como uma reprodução enganosa de uma dada realidade, mas sim o paradigma de uma realidade estruturada, pois o que o sentimento recupera do sentido, articula-se visivelmente, numa forma de compreensão revista e devidamente representada através da escrita, como ilusão para a formação de uma configuração coerente, garantindo a compreensão, que surgira então, na visão do leitor e recodificador, Portinari. As ilustrações portinarescas, representando o significado da obra, não se restringiram a ornamentar ou decorar a edição do livro da “Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil”, na verdade elas expressaram visualmente o conteúdo deste, captando o sentido profundo do texto verbal através das formas que se sobrepuseram às limitações físicas do livro. Sobre este aspecto FABRIS apresentou sua visão: “O texto e a imagem são comunicantes, e o artista não se limita ao descritivo ou ao apoio visual à escrita, procurando realizar uma obra equivalente em seu campo peculiar de ação.. Assim, muitas ilustrações podem ser apresentadas separadamente ou vistas uma a uma, sem o prejuízo ou perda de sentido.” (grifo nosso) diferiu da percepção, ao contrário, se tornou uma relação entre sujeito e objeto, supondo um leitor para quem o ponto de vista móvel se deslocou por meio de seu domínio cultural e conseqüentemente, do objeto. O texto de ficção fez explodir um quadro de referências, trazendo luz a certos aspectos invisíveis, pessoais, não existentes explicitamente no original; entretanto o leitor não se distanciou do texto, apresentando um resultado incompatível com o verbal. Esta sensibilidade pôde ser percebida nos diversos ensaios das ilustrações não utilizados na publicação original (como neste exemplo apresentado), proporcionando ao ilustrador uma tentativa de aproximação e semelhança com as descrições e narrativas fornecidas pelo autor do texto, mais devidamente com as imagens concebidas pelo leitor e também originárias de sua crítica e recepção textual, fora uma tentativa do artista plástico de transpor as imagens através de seus conhecimentos e de suas técnicas (também inéditas neste trabalho), orientados pelo ponto de vista da escrita, aproximando-se da narração e dos fatos por ela concebidos. A percepção e a intuição criativa fizeram o texto “escapar” a todos os quadros de referência e transcender o ponto de vista do leitor, o levando à leitura e além dela, juntamente com a produção estética representada por si só. Percebeu-se que o texto visual traduziu a consciência de Portinari sobre o trabalho machadiano, e assim ele o construiu com um encadeamento de imagens correlatas às idéias e opiniões realistas do autor, e também sob o ponto de vista interpretativo do comunicador visual. Portanto, o entendimento do texto criou o espaço de percepção de cada trecho lido, deixando o ilustrador e leitor aptos a antecipar a decodificação de suas leituras. Percebemos então, no decorrer da leitura portinariana, a produção de um despertar incessante e diversificado, em que os conteúdos de memória do leitor puderam ser projetados sobre um novo horizonte não existente no momento de apreensão. A simultaneidade da memória e a percepção dos detalhes se encontraram principalmente nas expressões dos olhos e das bocas das personagens portinarescas. Essa leitura trouxe a transformação, outras relações se estabeleceram entre o imaginário e a criação, sob a influência do leitor-ilustrador, com suas expectativas levantadas na correspondência do texto e da imagem. Assim, as expectativas e as lembranças se misturaram, inovando no resultado obtido. Tornou-se evidente que a cada momento de leitura novos interesses despertaram o decodificador, e se alojaram em sua memória, de modo que o levaram à modificação e diferenciação de suas técnicas de produção, como informação visual transcendente ao texto verbal machadiano, visualizada plasticamente por Portinari através de uma leitura na qual o ilustrador engloba toda a sua narrativa em uma única imagem, vista através dos planos, da gestualidade, das linhas, da textura e do espaço. Por isso a formulação verbal do texto, a cada momento articulado da leitura, serviu de instrução para a combinação das perspectivas de criação das ilustrações, dando a impressão de que lendo, haveria um deslocamento num mundo de imagens, engajando o leitor, dessa forma, numa atividade de constituição individual. Conseqüentemente é o que ocorrerá com o leitor deste artigo, de posse do trabalho de Machado e de Portinari, ou seja, o legível e o visível, pois terá uma amplitude de idéias pré-concebidas facilitando a leitura verbal e a visual do trabalho final. Os sinais do texto e a atividade de interpretação do leitor se fundiram num ato produtivo, levando à construção Figura 05 – Verme: ilustração inserida na capa do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, edição especial da “Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil”. Portinari obteve uma “imaginação plástica” desenvolvida nas ilustrações, totalmente coerente e integrada ao seu universo artístico. Suas imagens surgiram a partir dos textos e se aproximaram deles o máximo possível, buscando a significação, criando um conteúdo visual, particular e específico para a obra estudada. A leitura só pode ser considerada prazerosa quando a criatividade entra em jogo, oferecendo-nos uma chance de colocarmos nossas aptidões à prova. O resultado das ilustrações indicou o grau de compreensão do ilustrador, enquanto leitor, assim como a sua capacidade de percepção dos detalhes implícitos na criação verbal, quer sejam propositais ou não. O ato de ilustrar coincidiu com o de ler, dialeticamente, pois, desta maneira, a relação entre o texto e o leitor 38 Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 35-43, 2011. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 35-43, 2011. 39 do objeto estético. A mobilidade do ponto de vista permitiu ao leitor examinar o texto com uma multiplicidade de perspectivas, lendo, relendo e até criando em posições similares ou diferentes as da fonte original. O leitor, no momento de decodificação colocou em sua interpretação fatores correlatos aos signos lingüísticos, o que diferenciou a criação e os signos visuais. A coerência deu aos signos um sentido determinado, resultando em modificações recíprocas às quais foram submetidas posições individuais de cada modalidade – verbal e visual. Trouxe, então, a percepção do texto traduzido em signos visuais, ou seja, a consciência de que oferecia qualquer coisa a mais do que o próprio autor, formando seus contextos de repercussão através do plástico, elevando o ato de compreensão do leitor, identificando a relação entre os signos lingüísticos e concretizando-se na repercussão de outros signos, no caso, o visual. Isto fez com que o texto começasse a existir na consciência e na ilustração. A criação de uma nova perspectiva narrativa não se limitou à apresentação das personagens, porém sugeriu traços de personalidades, individualidades e características de cada ser ou cena projetadas pelo nanquim. O conteúdo das ilustrações dependeu das disposições individuais do leitor, de seus meios de interpretação e conhecimento, de suas opiniões condicionadas pela época e pela sociedade a qual pertencia, portanto, não somente de sua experiência pessoal. Vimos isso claramente quando Portinari buscou ilustrar o texto com caricaturas, pois em meados de 1880, esta era a característica ilustrativa dos meios de comunicação (folhetins e revistas periódicas). [...] Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que emprestei na composição destas Memórias, trabalhadas cá no outro mundo. [...] (grifo nosso) O texto, o prólogo, direcionou o destinatário privilegiado do livro, criando em sua consciência, conseqüentemente, uma imagem do que lê, e esta ilustrou a narrativa por uma presença material e significante, ligada ao conteúdo do verbal. Desse modo notaremos que a imagem criada no inconsciente do decodificador tornou-se uma espécie de escrita, e a escrita uma espécie de fala, pois o texto escrito tem uma presença visual. Então, a ilustração encontra-se gravada em traços e imagens, e o texto escrito, por sua vez, é uma ilustração falante. Uma das funções do prólogo consistiu em antecipar ao leitor o tom de sua fala, outra se encontrou na prevenção, na instrução, ou até mesmo em regras de leitura, a fim de situá-lo com relação ao valor cognitivo de futuras interpretações (em nosso caso, a visual). Deste modo, tivemos um legível e um visível em estado de interação A FORMULAÇÃO DE NOVAS LINGUAGENS SOB O PONTO DE VISTA DO NARRADOR Refletindo sobre o item anterior, constatamos ser exatamente aí que começou a desenvolver-se uma comunicação, não apenas verbal, pois pela forma de expressão da fala encontramos algo nela semelhante a um formato visual. Isso coincidiu com o pensamento de MARIN (2001:117) , assim exposto: “uma página escrita é, de um lado, leitura, de outro lado, quadro e visão; o legível e o visível, pois embora tenham fronteiras, têm também lugares em comum”. Entretanto, simultaneamente, o narrador chamou nossa atenção para as distinções necessárias entre as aparências verdadeiras e falsas (imaginário). A perspectiva da apresentação de personagens e momentos da ficção ficou, então, retida na memória do leitor, fizeram-se presentes em seu espírito. Com isso a duplicidade de interpretações na apresentação dos personagens constituiu-se sob o signo explícito do narrador (aquele que tinha em si o poder da palavra e da criação). Ler é reconhecer o que lemos, uma operação de reconhecimento da estrutura de significante, de uma significação. Por isso ao olharmos para a ilustração intitulada “o verme” como um signo, estaremos compreendendo a significação deste, pois apresenta- se como um “enunciado” pictórico, que assume a posição da palavra (função do verbo, do sujeito ou do predicado). Portanto, quando o leitor (Portinari), decifrou, interpretou, visou e talvez “adivinhou” o sentido do discurso de introdução do romance, auxiliado por dimensões históricas e culturais da “leitura”, representou-os em uma narração traduzida em “imagem visual”. Percebemos, no decorrer da obra machadiana, desde a dedicatória, que o prólogo duplicou a imagem ilustrada, pois o texto e a imagem anunciaram e previram a visão irônica e indutiva, determinando o percurso do leitor e a interpretação de sua leitura. Esta afirmação encontra-se claramente no trecho a seguir: [...] “Obra de finado. Escrevia-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia” [...] 40 Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 35-43, 2011. recíproca, como condições mínimas de possibilidades de uma leitura e de uma visão, pois o texto verbal construiu o visual. A fala textual tornou-se o melhor guia do sentido, houve uma hierarquia entre a leitura do texto e a visão da imagem, em uma situação em que a primeira dominou a segunda. Entretanto, o suprimento da falta da imagem pela leitura foi deixado à revelia do decodificador. Para criar a ilustração o próprio artista “realmente” leu um texto, e o espectador para entender a comunicação visual a deverá ler como se fosse um texto, pois se o autor teve que efetuar a leitura de um livro, palavras ou frases, para criar e fazer ver, o espectador precisará “ler” a ilustração com a intenção de entender “aquilo” que expressa. Machado fez-se compreender por um arranjo de palavras, em uma seqüência de discursos, onde a imagem formou-se relacionando o que a fala disse ou representou. O ilustrador apresentou o que a leitura lhe passou, a fim de tornar compreensível o tema exposto. Agora perguntamos: há algo legível em uma ilustração? Em que consiste? Na verdade, consiste em signos e são eles legíveis. Pois a leitura de Portinari provocou o reconhecimento de uma estrutura de significados no romance machadiano, assim a criação através das formas, das figuras e dos traços, gerou signos, quer como uma representação da leitura, quer como uma idéia de alguma coisa. Com sua sensibilidade artística, Portinari desenhou a conotação existente entre “verme” e “rato”, ao reconhecer que na ortografia a função de roer era designada ao “rato”; traçou então a figura metafórica do verme com dentes de rato; trabalhou a expressão do olhar fixo na presa, pronto para dar o bote, como se fosse esta uma reação normal, comum para ele, principalmente sendo o primeiro a chegar ao túmulo, o mais voraz, astuto, veloz e faminto. A genialidade do ilustrador encontrou-se justamente nas possibilidades de interpretações da imagem, pois ele incorporou todo o texto machadiano em fragmentos da imagem, como procuramos mostrar, incluindo detalhes coerentes com o texto verbal, obtendo assim, a autenticidade visual do verme, como um ser, objeto de delírios e alucinações de um morto, aguardando ansiosamente o trabalho alheio, com focos de terror e reconhecimento da natureza humana. Houve então, no trabalho do comunicador, um foco de luz (hermenêutica), proposto pelo escritor quando criou a intersecção semântica – desprezível, fazendo com que o pintor fortalecesse esta ideia, criando no verme uma leitura ambígua do ser imaginário e ao mesmo tempo real. Mais tarde, ao final da obra, Portinari apresentou o Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 35-43, 2011. 41 verme com um semblante neutro, com o olhar sem direção definida, propositadamente posto em um local ermo e caracteristicamente sem vida (provavelmente na solidão de um cemitério), esta situação nos remete ao marasmo, como se a sua obrigação já houvesse sido cumprida e o serviço fatalmente efetuado. CONSIDERAÇÕES FINAIS Quando nos propusemos a trabalhar com um processo de comunicação, envolvendo a codificação, decodificação e recodificação, mergulhamos em uma trama de oportunidades de pesquisa muito extensa, por isso decidimos não enfatizar apenas como se efetuou a recodificação em todos os parâmetros de criação (traços, simetria, rimas plásticas), mas ao longo do trabalho ficamos envolvidos com a sensibilidade de cada traço e com o subjetivismo paradigmático entre o texto e a ilustração. O texto machadiano refletiu em si uma união de metáforas com o propósito de “camuflar” a verdade, mas não sem personificar ações e situações. Deste modo, a cada parágrafo e linhas do romance, as palavras transformaram- se em linhas, curvas, olhares, gestos etc., um processo em que o comunicador visual traduziu perfeitamente o autor textual, transmitindo os fatos lidos em uma linguagem diversificada – a visual. A resposta consistiu em uma afirmação: “Sim, localizamos o envolvimento de Portinari com a decodificação (leitura) do código machadiano (o texto verbal), resultando em uma recodificação brilhante (as ilustrações), digna de bonscomentários, principalmente quando entendemos que a leitura conseguiu captar traços implícitos da escrita machadiana, só descobertos após uma densa procura dos símbolos e características da escrita realista. A sensibilidade portinariana encontrara-se na capacidade de extrair os mínimos enfoques do autor na criação de suas personagens, não apenas nos caracteres visuais, mas também nas sensações intrínsecas no texto, refletidas em olhares, expressões e gestos, ou ainda no “espírito” de criação das ilustrações. Fixamos a importância da leitura visual, no momento em que o legível ultrapassou a escrita e fixou-se nas imagens, onde simultaneamente um colaborou na formação e compreensão do outro, houve um entrelaçamento entre o visto e o dito, pois só assim surgiu o entendimento dos textos. Sendo assim, fechamos este artigo com a afirmação de que realmente podemos efetuar a leitura de um texto verbal, e também de um texto visual, embora alguns críticos ainda insistam em dizer que o texto é legível e a ilustração visível. 42 Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 35-43, 2011. BIBLIOGRAFIA ASSIS, J. M. M. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Ática, 1995. -------- Memórias Pósthumas de Bráz Cubas. Rio de Janeiro: Cem Bibliófilos do Brasil, 1943. BOSI, A. Machado de Assis – O enigma do olhar. São Paulo: Ática, 2000. COSTA, C. T. e FABRIS, A. Portinari - Leitor. São Paulo: Museu de Arte Moderna, 1996. GANDELMAN, C. Le regard dans le texte – image et écriture du Quattrocento au XXe siècle. Paris: Méridiens - Klincksieck, 1986. ISER, W. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. V. 1. São Paulo: 34, 1996. JAKOBSON, R. Lingüística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 1970. LYRA, B. A Nave Extraviada. São Paulo: ECA-USP, 1995. MARIN, L. Ler um quadro – uma carta de Poussin em 1639, in Práticas de Leitura, org. Roger Chartier. São Paulo: Estação Liberdade, 2001, págs. 117-140. PICARD, M. La Lecture comme un jeu. Paris: Minuit, 1986. Recebido em: 18 de Maio de 2011 Aprovado para publicação em 15 de Outubro de 2011 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 35-43, 2011. 43 passemos a palavra ao próprio Fellini: Federico Fellini, entre crítica e nostalgia Federico Fellini, between nostalgia and critique Mariarosaria Fabris Doutora em Artes (Cinema) pela ECA/USP e professora aposentada da FFLCH/USP, em São Paulo, Brasil, onde fez toda a sua carreira na área de Língua e Literatura Italiana Apesar de boa parte da crítica insistir sobre o caráter autobiográfico da maioria de suas obras – porque dominadas pela memória, muitas vezes eivada de nostalgia –, Fellini não concordava e dizia: “Inventei quase tudo: uma infância, uma personalidade, saudades, sonhos, recordações, pelo prazer de poder narrá-los” . Era na invenção, na fantasia e não simplesmente na realidade, portanto, que se baseavam os filmes de Fellini, mesmo aqueles em que a experiência vivida parecia aflorar com mais força ou os da fase inicial de sua carreira, desenvolvida à sombra do neorrealismo. Palavras-chave: Federico Fellini, Naturalismo, Hugo Adami While much of the critics stress on the autobiographical character of most of his works - because dominated by memory, often tinged with nostalgia - Fellini did not agree and said: “I invented almost everything: a childhood, a personality, longings, dreams, memories, for the pleasure of narrating them. It was in the invention, fantasy and not just in reality, therefore, the basis for Fellini’s films, even those in which the experience seemed to emerge with more strength or the early stage of his career, developed in the shadow of neo-realism. nele havia recordações, algumas verdadeiras, outras inventadas, de quando viajava pela Itália com uma companhia furreca de teatro de revista. Foram as primeiras notas cinematográficas sobre uma certa província vista pelas janelas dos vagões de terceira classe ou dos bastidores de teatrinhos decadentes, em pequenas cidades fortificadas sobre cumes expostos aos ventos ou afogadas na neblina dos vales . Cinema em primeira pessoa, no qual a imaginação reclamava insistentemente sua parte. Ser inventivo, fantasioso, imaginativo, mesmo de forma irrefreável, não significava, porém, ser visionário, outra etiqueta frequentemente atribuída ao cineasta, com a qual ele não concordava: Os críticos, quando falam de meu cinema, usam o termo visionário, mais em sentido literal do que figurado, o empregam de ouvido. Não levam em conta o fato de que, para mim, a luz é mais importante do que o argumento, do que o roteiro; a luz é fundamental para o cinema. Não entendo porque tantos colegas meus acham que a luz seja algo que diz respeito ao diretor de fotografia; mas, se para o autor não está claro como narrar as perspectivas, a contraluz, as penumbras, qual o sentido do que ele conta... A luz é o estilo, o sentimento de um cineasta. Com a luz pode se fazer tudo: transformar um rosto obtuso e torná-lo misterioso, fascinante . Como prova disso, bastaria lembrar uma sequência de Intervista (Entrevista, 1987), em que não acontece praticamente nada, apenas aparece um fundo com o recorte de uma paisagem e um enorme céu, no qual dois pintores estão dando os últimos retoques, enquanto gracejam entre si, tudo fortemente iluminado, como a sugerir que é a partir da luz que o artifício se transforma na “realidade” do cinema, ou o final dessa mesma obra, quando, como assinalava Fernaldo Di Giammatteo , Keywords: Realism, Naturalism, Hugo Adami C 44 omo o jovem Federico, Moraldo, um dos protagonistas de I vitelloni (Os boas-vidas, 1953), deixará o torrão natal à beira-mar para tentar a sorte na cidade grande. “A praia no inverno, o universo fechado de uma província imóvel, a existência desperdiçada entre o tédio, a futilidade e a imaturidade”, que ficaram para trás, foram tratados pelo cineasta com “sorrateira melancolia e irônico afeto”, como observou Maurizio Del Vecchio , o que vinha evidenciar seu distanciamento em relação ao universo da infância e da adolescência. Já em “Le tentazioni del dottor Antonio” (“As tentações do doutor Antônio”) – um dos episódios de Boccaccio ‘70 (Boccaccio 70, Praia no Lungomare (Avenida) Claudio Tintori, em frente ao Grand Hotel, Rimini, Itália 1962) –, o diretor respondia com ex- (Foto: JEH).. trema lucidez e imensa ironia à pesada campanha moral contra La dolce vita (A doce vida, 1960), fazendo com que um dos integrantes da comissão de censura de artes e espetáculos enlouquecesse de amor pela provocante mulher de um cartaz publicitário sobre leite. Quanto a Luci del varietà (Mulheres e luzes, 1950), seu primeiro filme, co-dirigido por Alberto Lattuada, Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 44-49, 2011. em inevitável clima de melancolia, Fellini se encontra sozinho no meio do estúdio no 5, que foi o set de seus filmes mais importantes. O espaço está deserto e às escuras. Fellini lembra que o produtor gostaria que um gesto de esperança concluísse o filme, e com o filme, essa operação nostálgica. Seria necessário um raio de sol. Fácil, é só ligar um projetor. Aparece um pequeno círculo de luz branca no centro do estúdio. Do alto, uma câmera registra. Luz, câmera, ação: o cinema poeticamente sintetizado em suas operações primordiais. Segundo o cartunista Milo Manara, um colaborador de Fellini, ao falar dele, mais do que o adjetivo “visionário” deveria ser empregado o substantivo “transfiguração”: Visionário me dá um pouco a ideia de alguém vagamente alucinado, que vê coisas onde elas não existem, vítima de miragens criadas por uma fantasia excessiva, que não sabe distinguir bem a vigília do sono. É outro o termo que eu associo a Fellini: “transfiguração”. Ou seja, Fellini não vê e não nos leva a ver monstros no lugar dos moinhos de vento, mas, através dele, o moinho de vento se transfigura e se revela aos nossos olhos com todo o seu caráter de moinho, assumindo sua verdadeira essência de Grande Moinho de Vento. Entre todos os cineastas, Fellini é o único que usa a câmera simplesmente pelo que ela é: o terceiro olho, o olho da iluminação. Há muitos filmes belíssimos, de outros diretores, que nos contam histórias extraordinárias, apaixonadas, trágicas ou cômicas, mas, para Fellini, o cinema é outra coisa. Ele simplesmente liga o terceiro olho e assiste à transfiguração do universo, levando-nos a participar disso . Ligar o terceiro olho e transfigurar o universo pela luz, é a essência do cinema e era a essência de um filme para Fellini, o que o levaria a dar uma importância relativa à história a ser narrada, porque para ele, embora o roteiro servisse de baliza, precisava ser ao mesmo tempo, flexível, uma vez que era ao procurar seus intérprePoéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 44-49, 2011. 45 tes que para o cineasta um filme começava efetivamente a existir. Rostos, corpos, gestos e expressões que muitas vezes ganharam vida antes no papel, sob forma de desenhos: Desde Luci del varietà, comecei a desenhar, rabiscando o rosto dos atores. Nunca desenhei um storyboard, mas eram esboços ou, antes, sugestões que serviam ao maquiador, ao figurinista, ao cenógrafo. A capa militar de Gelsomina, a camiseta listrada e o casaco tão maciço e sólido de Zampanò, mas também o chapéu-coco amassado do Matto [personagens de La strada (A estrada da vida, 1954)], todos nasceram antes, do lápis e das cores. [...] Desenhar, para mim, é o modo para começar a entrever um filme, uma espécie de fio de Ariadne, uma linha gráfica que me leva até o set. [...] A imagem já nasce precisa em minha fantasia. Nasce como uma experiência que já contém em si seu jeito de se expressar pictoricamente, graficamente, cinematograficamente . Essa declaração do diretor vem lembrar que, apaixonado desde sempre por histórias em quadrinhos – a ponto de afirmar que todo seu cinema nasceu dos gibis –, durante a infância, passada sob o regime fascista, ele se libertava dos condicionamentos políticos e culturais, dedicando-se a copiar os desenhos de uma revista semanal para crianças, Il corriere dei piccoli: Cinema Fulgor, Corso d’augusto, Rimini, onde Fellini assistiu os primeiros filmes de sua vida. Aqui, já decadente, em 2004 (Foto JEH). Foram esses os primeiros contatos com um país extraordinário, livre e feliz, do qual essas personagens nos falavam: era o país da fantasia, da imaginação desenfreada. As histórias em quadrinhos são um ponto de referência que leva a um tipo de visão onde tudo se desenrola de forma fabulosa, mas talvez mais real do que qualquer outra visão . Essa parece ser também a “moral” de 8 e ½ (Fellini oito e meio, 1963), em que Guido Anselmi, um diretor de cinema em crise criativa, conseguia superar o impasse reconciliando-se com os fantasmas do passado e do presente, aceitando-os e aceitando-se como intérpretes do filme que, finalmente, irá realizar: Peço-lhes desculpas, doces criaturas, não tinha entendido, não sabia como é justo aceitá-las, amá-las e como é simples. [...] Eis que tudo volta como antes, tudo confuso, mas essa confusão sou eu, eu como sou, não como gostaria de ser, e não me mete mais medo dizer a verdade, o que não sei, o que busco, o que ainda não achei, só assim me sinto vivo. [...] A vida é uma festa, vamos vivê-la juntos... 46 Ao libertar-se daquilo que esperavam dele as “vozes da razão” – o produtor, que procurava arrancar-lhe um filme qualquer para recuperar o investimento feito, e o crítico cinematográfico (que o diretor já havia enforcado simbolicamente), que o atormentava e humilhava com seu intelectualismo verborrágico – e ao conseguir corPoéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 44-49, 2011. responder às próprias expectativas, expressando o que realmente queria comunicar de si, de sua subjetividade, de suas fantasias, Guido, no meio do set transformado em picadeiro (o circo era outro grande espaço libertador para Fellini), com um megafone na mão, dirigirá as personagens até lá e começará a comandar o espetáculo, do qual ele também fará parte, ao juntar-se aos demais na ciranda circense. A verdadeira realidade é a captada pelas lentes livres da fantasia: indefinível, impalpável, inescrutável objetivamente. A realidade, feita de luz, do cinema. É interessante notar que, para Fellini, fantasma (imagem ilusória, destituída de qualquer relação com a realidade factual) e fantasia (faculdade de criar pela imaginação) podiam ser sinônimos: “A tradução de uma fantasia (no sentido de ‘fantasma’, ou seja, de algo muito preciso mas situado em duas dimensões completamente diferentes, sutis, impalpáveis) em termos plásticos, físicos, que evidenciam os corpos, é uma operação delicada” . Ponto crucial da carreira felliniana, 8 e ½ pode ser considerado a confissão mais íntima do diretor. No entanto, essa figura que comandava o espetáculo – seja ele teatral, cinematográfico, musical, não importa – era uma constante na obra de Federico Fellini: do capocomico (chefe da trupe teatral) de Luci del varietà ao cineasta de Intervista, passando pelo maestro de Prova d’orchestra (Ensaio de orquestra, 1979), por Snàporaz em La città delle donne (Cidade das mulheres, 1980) etc., e desdobrando-se, em E la nave va (1983), no maestro concertante (que, como o diretor, comanda o espetáculo) – o qual, com seus gestos, dá início não só à música, mas à diegese propriamente dita –, e no jornalista Orlando (o que amarra o relato, como faz o roteirista, atividade que Fellini também exerceu), que é quem narra a história e cuja voz no final (embaralhando os papéis), depois que todos os artifícios da filmagem foram revelados ao espectador, sairá diretamente do olho da câmera. O maestro, principalmente de perfil, com o chapéu, a capa e o cachecol, e com as sobrancelhas arqueadas, lembrava muito o próprio Fellini. Orlando, um pouco menos, mas é interessante salientar sua brincadeira diante da câmera do cinegrafista com uma série de chapéus parecidos, que o jornalista ia provando e tirando, todos eles do mesmo tipo do chapéu que o diretor usava na vida real. O diretor de fotonovelas, em Lo sceicco bianco, evocava, de alguma forma, uma figura mítica do cinema italiano, à qual também Luchino Visconti, naquele mesmo ano de 1951, prestava sua homenagem em Bellissima (Belíssima), fazendo-o interpretar a si mesmo: Alessandro Blasetti. Fellini tinha uma lembrança muito vívida de seu primeiro contato com Blasetti – o dono do estúdio no 5 durante o fascismo –, de sua autoridade exercida aos gritos pelo megafone, mas também de sua tirania simbolizada pelas botas: Que ano era? 1938, 1939? Eu trabalhava como jornalista e [...] naquela manhã, entrei pela primeira vez em Cinecittà. [...] fiquei sob o sol olhando, de boca aberta, as torres, os bastiões, os cavalos, as capas, os cavaleiros em armadura e as hélices ligadas dos aviões, que levantavam grandes nuvens de poeira por toda parte; chamados, gritos, apitos, o barulho de enormes rodas girando, o som de lanças e espadas, Osvaldo Valenti de pé em cima de uma espécie de biga de cujas rodas saíam lâminas afiadíssimas e os terríveis urros de um grande grupo de comparsas, um caos tenebroso, sufocante... mas, acima de toda essa confusão, uma voz forte, metálica, dava ordens que mais pareciam veredictos: “Luz vermelha, grupo A ataca à esquerda! Luz branca, grupo de bárbaros retrocede em fuga! Luz verde, cavaleiros e elefantes erguendo-se e atacam! Grupo E e grupo F, caindo no chão! I-ME-DI-A-TA-MEN-TE!!!” [...] No entanto não conseguia entender de onde ela vinha. [...] Depois, de repente, num silêncio inesperado, o longo braço de uma grua começou a suspender-se no ar e a subir, cada vez mais alto, acima das construções, dos estúdios, das árvores, torres, alto, ainda mais alto, na direção das nuvens, até parar, suspenso, no reflexo incandescente de um pôr-do-sol com milhões de raios. Alguém me emprestou um binóculo e lá em cima, a mais de mil metros, sentado numa poltrona Frau muito bem aparafusada à plataforma da grua, com botas de couro brilhantes, uma echarpe de seda indiana no pescoço, um capacete na cabeça e três megafones, quatro microfones e uns vinte apitos pendurados no pescoço, vi um homem: era ele, era o diretor, era Blasetti . Em Lo sceicco bianco, o diretor de fotonovelas esbravejava, dava ordens técnicas, explicações aos atores, mandava preparar as máquinas fotográficas, subia num andaime, trocava o chapéu pelo capacete na hora de bater as fotos, usava o megafone, um apito. Havia uma grande sensação de confusão, até que ele gritava infinitas vezes “Scatta” (“Bate”) e o caos se ordenava naquelas imagens fixas. Fellini confessava ter muita dificuldade em ser exigente, impositivo e despótico, como todo diretor deveria ser, além de ter tido uma relação sempre conflituosa com os produtores, que, na opinião dele, a partir de uma ideia abstrata de público, queriam ser os mediadores entre o realizador e os espectadores . É quase óbvio lembrar nesse momento de 8 e 1/2: de um lado, todas as dificuldades de Guido para driblar o produtor; de outro, o poder que ele exercia sobre seus atores. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 44-49, 2011. 47 Desde o primeiro filme, recusei-me a usar a palavra fim, obedecendo talvez àquela antiga sensação de decepção, de aborrecimento e de irritação que provocava dentro de mim ao ir ao cinema quando garoto. Significava que tinha acabado a festa, que era necessário voltar para casa para fazer a lição. Colocar a palavra fim parece-me também uma violência contra as personagens da história. São personagens que você tentou tornar verossímeis, o mais vitais possíveis e que continuarão a viver sem o autor saber. Portanto, desde Lo sceicco bianco até I vitelloni, até os últimos filmes, gosto de imaginar que as personagens de minhas histórias continuam andando num cortejo – quem sabe encontrando-se e apresentando-se –, continuando a viver o prosseguimento de suas aventuras . Fondazione Fellini, Rimini, Iália (Foto: JEH). Para Federico Fellini, também, o relacionamento com os atores nem sempre foi fácil. Por ser argumentista e roteirista de seus filmes, já chegava no set com uma concepção precisa de suas criaturas, frequentemente, até desenhadas no papel, como vimos. Um ator profissional, no entanto, constrói sua personagem e essa construção nem sempre corresponde ao que o diretor imaginou, o que pode gerar o conflito, como aconteceu com Giulietta Masina em Giulietta degli spiriti (Julieta dos espíritos, 1965), que não aceitou docilmente nem a maquiagem nem o figurino impostos por Fellini para fazer aflorar a psicologia da personagem: A Giulietta atriz queria ser o contrário do personagem encenado comigo. É sempre teimosa, submete-se após uma longa resistência, como se percebesse que estava para dar vida a algo obscuro, que existe nela e que rejeita. Nas primeiras filmagens detesta as roupas, o olhar, a máscara de seus personagens. [...] Penso que o personagem que mais a representa, com o qual ela mais se identificou, foi este último. No início foi um problema sério tirar não dela, mas de mim, os sorrisos, a palidez, os olhares de cachorrinho perdido de Gelsomina e de Cabíria, personagens que cresceram dentro de mim e que tinham se sobreposto a ela, cinematograficamente falando; a operação de afastá-los, sem apagá-los por completo, isto é, salvando aquele pouco de Gelsomina e de Cabíria que existe na Giulietta mulher, foi uma obsessão. A certa altura pensei que não ia conseguir, tanto que adiei as cenas mais reveladoras e substanciosas. Então, um belo dia, fiz uma descoberta. Suas resistências à maquiagem, à roupa, à peruca, ao brinco, os movimentos que antes me pareciam delitos contra o personagem, intoleráveis intromissões de feminilidade, agora eram úteis. Não devia me irritar porque a Giulietta deste filme devia ter aquele humor, aquela agressividade. Contestando os detalhes das roupas, Giulietta colaborava comigo, me ajudava. Quando impunha seu maquiador ou brigava com Gherardi por causa de um vestido, eu tinha de olhar esses comportamentos típicos da atriz com atenção e simpatia, porque neles estava contida a saúde do personagem . 48 Parece que estamos diante da sequência que fecha 8 e ½, quando todas as personagens se juntam no desfile final e a história não termina, pois o filme que Guido queria realizar, começará dali por diante. Como dizia Fellini: Um filme é exatamente como uma criatura, que tem um modo de pensar próprio, um caráter próprio, uma personalidade própria. Parece-me que 8 ½ se portou bem comigo, não me obrigou a ter muitos cuidados para com ele, aliás, daquele momento em diante, comecei a achar que, antes de ser eu a dirigir um filme, era o filme que me dirigia . Parece que estamos diante de Ginger e Fred (1985), que ecoava muitas das realizações de Fellini: I vitelloni – na presença de Franco Fabrizi; La strada – bastaria confrontar os desenhos de Gelsomina para esse filme (capa militar, chapéu-coco preto, tênis deformados) com os esboços de Ginger (capa xadrez, chapeuzinho tirolês, botas), para perceber que, apesar dos dados exteriores, se tratava da mesma personagem feminina, embora psicologicamente mais forte, agora, e aburguesada; La dolce vita e Boccaccio ’70 – na exuberância à la Anita Ekberg das mulheres do mundo do espetáculo e da publicidade; Roma (Roma de Fellini, 1971) – no “carrossel” das motos; 8 e ½ – dessa feita, embora o alter ego do diretor seja um Marcello Mastroianni fantasiado de rei do sapateado, a ligação surge se formos comparar vários auto-retratos de Fellini com um esboço de Fred e com a própria caracterização do personagem no filme . Ginger & Fred não foi o último filme de Fellini, mas poderia ser considerado seu último grande afresco sobre a sociedade italiana, dessa vez não projetado no passado como I Vitelloni, Amarcord (1973) ou E la nave va, embora fosse do passado que Ginger, Fred e o próprio diretor julgassem a Itália atual. Seus protagonistas são dois sobreviventes lançados numa sociedade de consumo desenfreado, em que tudo se tornou excessivo, vulgar, vazio; em que, na busca pela satisfação imediata, tudo se equivalia: o sexo e a comida, o enorme embutido e o falo, as tetas de uma vaca e as de uma mulher, tudo se transformou num triste espetáculo, pois, ao contrário do antigo circo de lona, o circo eletrônico montado pelos meios de comunicação de massa não provocava mais alegria, havia se transformado numa espécie de pátio dos milagres. Crítica ou nostalgia? Foi em cima dessa ambiguidade que Fellini construiu sua identidade como diretor de filmes em que mostrou como a memória, mais reinventada do que revisitada, pode transformar-se muitas vezes num gesto político. Recebido em: 15 de Junho de 2011 Aprovado para publicação em 15 de Outubro de 2011 Quanto à presença de outras personagens dentro de uma nova, ao eco de outras obras dentro da última realização, o próprio cineasta nos elucidava sobre isso, ao afirmar que rodou sempre o mesmo filme ou ao justificar porque não gostava do letreiro “fim”: Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 44-49, 2011. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 44-49, 2011. 49 Informatização: Impactos Editoriais e Estéticos Informatization: Editorial and Aesthetic Impacts Ricardo Nicola Senior McLuhan Fellow pela Universidade de Toronto (UofT), Ontário, Canadá. Esta dissertação mostra uma nova ferramenta no processo de produção de mídias especializadas: editoração eletrônica. Por ser uma ferramenta importante para essa mídia de comunicação, as visualizações de sua jornada evolutiva tem início na pré-história de seu veículo informativo, avanços na sociedade da informática. E é nesse último estágio social que a editoração eletrônica legitimou sua função, resultando em impactos na produção destas mídias e condicionamento de novos estilos. Palavras-chave: Editoração Eletrônica, Informática, Ricardo Nicola This dissertation shows a new tool in the process of producing specialized printed media: desktop publishing. Because it is an important tool to this communication media, the visualization of its evolutionary journey began in the pre-history of informative vehicle, advancing to the informatics society. And it was just in this last social stage that desktop publishing legitimated its function, resulting in impacts on the production of these media and conditioned new styles. Keywords: Desktop Publishing, Informatics, Ricardo Nicola o fotógrafo etc. - defronta-se com a criatividade. Manusear corretamente os softwares não representa criar. Por outra lado, não se quer dizer que a criatividade não esteve presente antes dessa revolução informacional, conquanto impõe-se, neste átimo, como ponto de diferenciação. Todos - ou a grande maioria - dos editores detêm os meios de produção eletrônicos eficazes, cujos resultados qualitativos equiparam-se. Discute-se a estética das artes gráficas, mais especificamente, a diagramação, mas os periódicos tendem a encontrar mais uma outra saída para a superação do comum: a estética dos textos. Então, nas redações vem se trabalhando dia após dia a qualidade textual. Porventura, a crescente rapidez imposta pelas estruturas informacionais, condicionou a redução do excesso de texto, ou a pasteurização do jornalismo, que será abordado mais adiante. Enfim, estas são algumas das conseqüências - entre tantas outras - que serão retratadas a seguir. Mídia Impressa e Criatividade: uma parceria com o computador? Não se pretende aprofundar a questão tecnologia-criação, mas alguns aspectos concernentes à diagramação eletrônica. Moles, que discute a arte e o computador, propôs a decodificação da relação homem-máquina como atitudes. Diante do computador, o ser humano redesenha o mundo externo. O ofício do diagramador, por exemplo, organiza-se por meio de etapas. Numa primeira instância, a estética quantitativa da máquina se assume como crítica da natureza e a explora, apresentando uma caracterização estatística, por pixels, na tela e depois por DPI’s, na impressão; em seguida, numa segunda atitude, o equipamento verifica as relações de ordem e formas imperceptíveis no tempo ou no espaço humanos, para depois, através de uma estética aplicada, reduzir esta realidade num mundo cibernético, efetuando a simulação dos processos de criação (terceira atitude). Assim, a tecnologia servirá como instrumento (quarta atitude) condicionando um campo de possibilidades: a arte permutacional (quinta atitude). Como identificar, portanto, a esfera da criação no trabalho de artes gráficas? Analisando as premissas apontadas por Moles, verifica-se que os computadores servem para a produção enquanto técnica, mas a produção artística pela máquina deve ser repensada. O conhecimento dos softwares e sua manipulação, antes destacados, não sugerem a criação, mas abrem suas possibilidades em atitudes. Na mídia impressa, muitas estruturas de diagramação concluída são facilmente fornecidas por diferentes empresas de softwares. Programas e mais programas favorecem a uma geração de estilos de diagramação, gráficos, desenhos entre outros clichês prontos para o consumo. (vide figura 1): E 50 ste artigo procurará apresentar a execução do trabalho informacional da mídia impressa, questionando as estruturas estéticas oriundas com as novas tecnologias. A produção editorial vem sofrendo alterações significativas com os avanços tecnológicos e parte dessas mudanças está se refletindo tanto em seu sujeito coletivo (o público) quanto no seu outro sujeito(o profissional). Essa metamorfose toda tem implicado em resultados todavia satisfatórios, ou até mesmo surpreendentes, mas, em contrapartida, aspectos que merecem reflexão - senão preocupantes - fazem-se sentir cada vez mais, como o desemprego, a perda da privacidade etc. A partir desse instante, pode-se perceber com mais clareza a complexidade estrutural tecnológica embutida na evolução dos meios informativos. Pois, tais mudanças não residem tão-somente nos veículos de comunicação, mas, claro, na sociedade humana pós-industrial. E, na certa, seus meios de disseminação informativa espelham esta etapa histórica. Contudo, não se tem como intuito dissertar apenas as causas dessa nova realidade, mas suas conseqüências. Talvez, impactos. Quando os computadores chegaram nas redações, muitos profissionais resistiram, sendo que alguns ainda hoje resistem. Há diversas razões para essa rejeição e uma delas talvez tenha sido a dificuldade em se conhecer a lógica da máquina, ou inclusive, sua aparente frieza... Parece que, com isso, induziu-se o surgimento de uma casta de outros conhecedores ou experts em computadores; uma elite do conhecimento informacional. Desde então, de uma forma abrangente, o social se apresenta dividido em duas categorias de profissional: aqueles que conhecem o conjunto de sinais do PC e os que não conhecem(Schaff,1985). A esses primeiros, a glória, ou o poder; e quanto aos demais, o novos analfabetos de uma sociedade, agora, informática. Os recursos para a realização do trabalho ampliaram-se de sobremaneira; facilidades pululam nos aplicativos para atingir objetivos antes impraticáveis. Agora, provavelmente, caminha-se para outras fronteiras: a criação se tornou o auge, a necessidade, a matéria prima que vai diferenciar as mídias, ou torná-las mais atraentes. Não se trata mais do conhecimento informacional; o profissional de mídia impressa - seja ele o repórter, o diagramador, Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 50-58, 2011. Jornais internacionais de grande circulação Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 50-58, 2011. 51 Basta o editor comprar um desses aplicativos e terá, em mãos, uma gama de desktops prontas e demais ferramentas. Tais recursos não representam necessariamente aspectos negativos das tecnologias, mas devem ser objetos de reflexão, pois podem representar condicionantes como o comodismo em se produzir novos estilos de diagramação, a repetição de formato de páginas e clichagem. Estes condicionantes já são percebidos na atual imprensa, como em grandes jornais do país, e vêm sendo utilizados com grande freqüência. Ocorre até grande proximidade de estilos entre diagramações de diferentes periódicos, tornando-os parecidos na disposição de texto, fotos etc., além de utilização de mesmas fontes e dimensões. É claro que não se deva culpar a máquina por estes indícios, mas faz-se necessário ressaltar estas ocorrências. Assim, a criação nas artes gráficas necessita de intenso acompanhamento do editor de arte, ou uma equipe de profissionais preparados pode corrigir estas falhas, que irão primar pela constante inovação, evitando-se, por exemplo, tais repetições. Não basta a concorrência entre os veículos, conquanto, é mister adotar-se uma estratégia gráfico-editorial, conseguida através de um planejamento minucioso, onde serão definidas as fontes, as dimensões e estilos específicos. De uma forma abrangente, acredita-se que estas facetas da produção eletrônica ocorrem devido a um período de adaptação a essas novas tecnologias. Fato comum aos países de terceiro mundo (Regina Elena Crespo Gualda, in, Comunicação & política, 1984). Em contrapartida, jornais de alguns países - onde a implantação de novas tecnologias na imprensa esteve à frente da nossa - trabalharam muito bem estas ocorrências, desenvolvendo rapidamente estilos de diagramação arrojados, procurando com afinco uma identidade particularizada. Contudo, isso não quer dizer que os veículos informativos dos países em desenvolvimento não tenham esta identidade, mas faz-se necessário a observação constante dessas premissas. No que se refere às artes impressas, não há dúvidas quanto às possibilidades expressivas que os computadores proporcionaram às artes impressas. Dentro desse paradigma, Michael Heim(1993, In, The metaphysics of virtual reality), especialista em realidade virtual, atentou para o processo de materialização da arte por intermédio da informação, destacando que o profissional de comunicação vive constantemente em busca de informação. Tudo se acessa rápida e instantaneamente nesta nova era, gerando a maior quantia de dados com o menor significado possível: “We expect access to everything now, instantly and simultaneously. We suffer from a logic of total management in which everything must be at our disposal. Eventually, our madness cost us. There is a law of diminishing returns the more information accessed, the less significance is possible. We must not lose our appreciation for the expressive possibilities for our language in the service of thinking”.1 Essa quantidade expressa de informação pode fundir-se em desinformação, o que Walter Benjamin(1978) chamava de entropia, reduzindo em si um prazer estético. Portanto, com um planejamento de execução dessas possibilidades, através de um projeto editorial, irá se tornar realidade a anulação desse efeito. Quanto à esfera editorial, as desktop publishings - reestudadas na sua elaboração - apresentam os clichês existentes nessas produções. Deve-se entender o computador- conforme exposto até agora - como um parceiro, que fornece novas ferramentas para tornar completa a produção artística, através de experiências estéticas cada vez mais pujantes. 1.N.T. “ Nós esperamos acessar tudo agora, de forma imediata e simultânea. Sofremos com uma lógica da ‘completa manipulação’, na qual tudo necessita estar a nossa disposição. Finalmente, nossa loucura nos custa... Há uma lei da diminuição do retorno, onde a maior informação acessada representa o menor significado possível. Não devemos perder nossa apreciação pelas possibilidades expressivas de nossa linguagem a serviço do pensar” . Para realizar um estudo dos avanços da informática, diferentes aspectos da produção da mídia impressa através dos equipamentos devem ser considerados e revistos. John Cohen(1971, In, Creativity, art and technology, p. 25), aponta o preconceito na criação por intermédio da tecnologia: “There is, certainly, in respect to creativity, no natural opposition between technology and the arts, for it is sheer prejudice to suppose that technology is routine, prosaic and pedestrian, while all fecundity of invention belongs to the arts, a prejudice which can only be sustained by begging the question of issue “ 52 Afora esta proposição, o trabalho informatizado atravessa outras barreiras. Portanto, o que seria o trabalho informatizado? O computador passará da figura de um servo para a de um mestre? Deve-se, assim, destacar a inteligência da máquina (artificial) não como um exercício pela Filosofia mas um projeto de engenharia para a Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 50-58, 2011. Filosofia (Donald Michie, Computer - servant or master, p. 191, 1971). Usufruir das potencialidades tecnológicas da máquina não corresponde entregar-se a um ostracismo criativo e sim representa um leque de alternativas para atingir um objetivo criativo. Ao se atentar para essas considerações, o trabalho informatizado terá na execução uma nova abrangência. Infra-estrutura tecnológica Para dar apoio às atividades das duas esferas da produção - a arte e a máquina, houve a necessidade, evidente, do que se convenciona chamar de infra-estrutura tecnológica. Ela, no entanto, explica o surgimento da produção especializada e de criação gráfica com rapidez e qualidade. Considerando-se os avanços na operacionalização gráfico-editorial, faz-se necessário apresentar as máquinas que são empregadas nesta atividade. 2. N.T. “ Não há certamente, em relação á criatividade, uma oposição natural entre tecnologia e arte, pois é puro preconceito supor que a tecnologia é rotineira, chata e desinteressante, enquanto toda fecundidade da invenção pertence às artes; um preconceito que só pode se sustentar simplesmente aceitando-se a questão” . Inicialmente, o usuário dos serviços de editoração eletrônica necessita compreender as nomenclaturas técnicas dos computadores. Um computador, de última geração, possui um processador Pentium®, que corresponde a uma placa altamente complexa, onde se realizam cálculos binários, envolvendo bytes, com uma rapidez incrível. Um byte representa um conjunto de 8 bits, ou seja, 8 unidades binárias (“0” e “1”) de informação. Para auxiliar na leitura da capacidade de processamento, as unidades de byte possuem simplificações na leitura. Assim, 1 byte, 8 bits; 1 Kbyte, 1.000 bytes; 1 Mbytes, 1.000.000 bytes; 1 Gbyte, 1.000.000.000 bytes; 1 Tbyte, 1.000.000.000.000 bytes = 1.000 Gbytes. Diante disso, os softwares de editoração eletrônica, que agregam uma quantidade expressiva de dados, necessitam de máxima velocidade possível no processamento desses bytes de informações. Esses programas possuem unidades tanto gráficas como de cálculos, razão pela qual seus dados ocupam a extensa memória de armazenamento: um disco rígido, chamado de winchester. Seguido da placa principal, estes aplicativos exigem também memória, a denominada Randomic Acess Memory(RAM), ou seja, memória de acesso temporária, para acessar a winchester. Todo esse sistema assemelha-se a um toca-discos laser, cuja música será a execução dos programas específicos. Coadjuvando a memória RAM, que dará agilidade nessa operação de decodificação dos dados, o computador conta também com a memória permanente, definida como Read Only Memory(ROM). Nesta última, estão codificadas as instruções necessárias à inicialização do sistema, que não se alteram e não desaparecem mesmo quando o microcomputador é desligado. Comportamentos Editoriais e Estéticos da Editoração Eletrônica Como já faz parte do nosso dia-a-dia, uma vez montado o birô, o profissional de comunicação estará diante de uma mini-editora. Poderá produzir seus impressos, seus jornais, enfim, utilizar dos recursos editoriais. Nessa relação, novos comportamentos se constatam. Graças às facilidades do manuseio dos equipamentos, uma linguagem específica surge com expressões que mesclam o português e o inglês técnico. Assim, ao se imprimir fala-se dar um print, ao se produzir um jornal associativo ou uma arte-gráfica, diz-se fazer DTP(DeskTop Publishing). Há outras frases peculiares que, no entanto, reproduzem a fusão idiomática. Além das expressões, percebe-se estruturas de diagramação concernentes. A adoção, por exemplo, do papel A4 (21 cm X 29,7 cm) na produção da maioria dos jornais; em alguns casos adota-se o tablóide (27,94 cm X 43,18). Na exploração dos formatos, os birôs procuram montar as artes, em vez de imprimi-las como um todo, ou seja, as impressoras lasers, em sua maioria, não imprimem em formato maior que A4 ou Legal (21,59 cm x 35,56 cm), e as que o fazem, o seu custo fica elevado. Diante dessas considerações, os birôs produzem uma seriada produção de newsletters adequadas aos formatos A4, Letter, Legal, ou ainda A3 (29,7 x 42 cm); muitas vezes utiliza-se o Tablóide (27,94 cm x 43,18 cm). Assim, as pequenas publicações especializadas são acondicionadas nesses formatos e o que extravasar tais dimensões passará pelo crivo da edição. Por se evitar a todo custo a edição manual, os editores dessas publicações procuram forçar essa tendência. Com isso, nota-se uma estética preconcebida, resultado de uma estética do menor esforço. Ou ainda, trabalhar apenas a área de impressão disponível. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 50-58, 2011. 53 Também a falta de equipamentos ou acessórios faz com que essa estética seja reduzida na sua qualidade, sem, contudo, obstruir a criação. Às vezes, por memória RAM escassa do micro, o editor procura reduzir as fontes das letras, que ocupam muitos bytes; elimina gráficos ou fotos, que são as vedetes na utilização excessiva de RAM e winchester. Enfim, a edição do periódico se implementará, mas dependerá dos recursos disponíveis, que, na maioria das vezes, sofre paradigmas. O modo de produção editorial e estético Masuda(1982:85) realizou estudos comparativos dos resultados das tecnologias de informação nas sociedades e, em especial, a japonesa. Estes estudos demonstram os impactos que a revolução informativa geraram no meio social. Dos diversos confrontos entre tecnologia e sociedade, conforme atesta a figura 2, na esfera da produção, um primeiro aspecto seria um aumento nas oportunidades de educação e, em seguida, também uma acréscimo das oportunidades, mas no trabalho. Assim, nessa mesma seqüência, Masuda fala de uma indústria de oportunidades. Em relação ao trabalho, está-se diante de uma mudança qualitativa e quantitativa. A mudança em referência, agora, é o fato das alterações significativas no modo de produção. Fala-se em automação e criação de conhecimento que vem se organizando principalmente nas relações de trabalho e como conseqüência, transformações consistentes na execução de tarefas, refletindo numa mudança no eixo de produção que de artesanal passou a informacional. Embora se esteja diante de uma nova sociedade, o prazer estético não se transformou por completo, apenas revestiu-se de uma outra roupagem. Em virtude da criação constante de sistemas complexos de informação, o substrato da produção vive relegado a critérios tecnológicos. Ethevaldo Siqueira(In, A sociedade inteligente, 1987:169) ressalta o jornal informático: 54 “Bancos de dados e terminais de fac-símile (telecópia) interligam o jornal com o resto do mundo. O texto final do jornal é também armazenado em computador e pode chegar à casa de um grupo experimental de assinantes de um tipo de telenewspaper, transmitido através Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 50-58, 2011. dos fios telefônicos, e que pode ser transferido para folhas de papel em copiadoras especiais ou simplesmente ser projetado no vídeo do televisor doméstico”. Mais adiante, numa análise dessa sociedade, vislumbra-se um novo espaço, ou seja, o ciberespaço, que compreende a junção de informática e telecomunicação: a telemática. Os periódicos, ou as newsletters, continuarão sendo produzidos nas telas dos computadores, por meio de softwares e hardwares avançados, mas não necessitarão - e já não estão necessitando - da impressora laser/fotocompositora etc., conquanto, serão enviados via Internet, para acesso às mais diferentes comunidades. Esse espaço virtualizado efetuou pela primeira vez a junção entre massividade e interatividade. Tal mudança no espaço não representa a extinção ou troca de uma mídia por outra. Acredita-se que um novo público na certa se formará para acessar as newsletters ou qualquer outro produto por intermédio do ciberespaço, contudo, verifica-se que a mídia impressa continuará oferecendo os seus préstimos por muito tempo. Seria o mesmo que comparar a relação tv - cinema, meios que co-existem, formando públicos distintos de geração a geração. A mídia impressa não seria uma exceção nesse processo, e sim uma nova etapa do desenvolvimento das mídias. 3. Cf. CARDOSO, Cláudio. “Vínculo e compromisso social no Ciberespaço”. In: Comunicação & política, n.s., v.3, n.1, p.77 jan-abr.1996 Liberdade Informática e Novos Direitos A Editoração Eletrônica vem dando passos cada vez mais rápidos, cuja atualização - ou up-to-date - vem sendo na mesma proporção dificultada. Os birôs sempre estão atrasados nas versões dos softwares e hardwares etc., no entanto, a produção de impressos prossegue. Seus horizontes e sua linha mestra, que é a de levar à execução plena das potencialidades editoriais a custos mais baixos, estão se transformando. As facilidades ressaltadas em itens anteriores apontam para outras polêmicas. A liberdade, proposta pela informática, estaria invadindo direitos?(Nicola, 2006). Se todos podem acessar os equipamentos e produzir jornais, qual a necessidade de um profissional qualificado para tal? Assim, deve-se pensar as potencialidades da informatização enquanto respeito às leis vigentes. Quanto aos direitos, Maria Rosa Amorós(In, Telos, Liberdad informatica y nuevos derechos, 129-37:1993) destaca o direito de acesso e de retificação presentes na liberdade informática, mas, por outro lado, aponta a possível ameaça à privacidade. Pode-se com os recursos disponíveis manipular informações e condicionar o acesso à gama de informações por meio de códigos. Diante disso, a necessidade crescente de leis normativas se impõe. Países altamente informatizados já despontam com normas inéditas a fim de equilibrar os direitos e deveres. A sociedade informática está se deparando com novos horizontes, cujas regras se apresentam incógnitas. O futuro nos dirá. Jornalismo, Ética e Qualidade O jornalismo especializado representa já há um tempo uma etapa importante na formação profissional do jornalista. Especializar-se, num sentido mais amplo, representa aprofundar-se num determinado assunto; trabalhá-lo com afinco, então, é outra faceta para atingir o segmento alvo. É evidente que para chegar a isso, o comunicador necessita passar por uma fase de aprendizado. Surge aí a figura da editoração eletrônica dos pequenos birôs, que redireciona o profissional a um determinado público. A partir desse primeiro contato, o jornalista estará capacitado para chegar à especialização da Grande Imprensa. É bem verdade que parte dessa preparação advém da formação acadêmica, mas na prática, o conhecimento das deficiências dos cursos, fazem-se sentir. Talvez por essa carência informativa, o profissional de comunicação se vê forçado muitas vezes a fazer marketing das empresas com as quais trabalha. E quando chega à Grande Imprensa, então, defronta-se com toda uma tecnologia que legitima o quadro, denominado por Di Franco (1995), como MacDonaldização do Jornalismo. Contando com técnicas avançadas de dados, a Imprensa percebe a carência de conteúdo de suas matérias; somente os recursos tecnológicos não bastam. Teme-se, no entanto, a crescente implantação de tecnologias ultra-avançadas, substituindo uma gama imensa de profissionais de comunicação, desde desginers, fotógrafos, rePoéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 50-58, 2011. 55 pórteres etc. Para onde as novas tecnologias estariam levando a nossa sociedade? Até que ponto o corpo social suportaria a substituição do homem pela máquina? Crê-se na criação de empregos diferenciados com as novas tecnologias, como atesta Masuda, mas é mister rever a dimensão existente entre crença e realidade. ADEUS a Gutenberg?: a editoração diante das novas tecnologias. São Paulo: ECA/USP,1983. ALBERT, P. & TERROU, F. História da imprensa. Trad. Edison Darci Heldt. São Paulo: Martins Fontes, 1990. BASTOS, Lília da Rocha et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, dissertações e monografias. 4 ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995. BAUDRILLARD, Jean. “A xerox e o infinito”. In: BAUDRILLARD, Jean. A transparência do mal: ensaio sobre os fenômenos extremos. Trad. de Estela dos Santos Abreu. Campinas: Papirus, 1990. BELTRÃO, Luiz. Iniciação à filosofia do jornalismo. 2 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/Com-Arte, 1992. BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. In: LIMA, C.L. Teoria da cultura de massa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. BORDIEU, Pierre. “O mercado de bens simbólicos”. In: BORDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, Cap. 3. BUENO, W. da Costa. Jornalismo científico no Brasil: os compromissos de uma prática dependente. São Paulo, 1984. (Tese-Escola de Comunicações e Artes da USP). BUSCH, David. PC/MS Dos 4.0 para usuário de discos rígidos. Trad. Júlio Botelho. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. Ed., 1990. CANCLINI, Nestor. A produção simbólica e teoria e metodologia em sociologia de arte. Trad. Glória Rodrigues. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1979. CARBONCINI, Anna (org.) A virada do século. São Paulo: Paz e Terra/Unesp, Secretaria de Estado da Cultura, 1987. CAMPBELL, Joseph c/MOYERS, Bill. O poder do mito. Trad. Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Palas Athena, 1990. CASSIRER, Ernest. Linguagem e mito. Trad. J. Guinsburg e Miriam Schnaiderman. São Paulo: Perspectiva, 1972. CERVO, Amado Luiz & BERVIAN, P. A. Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil,1983. COHEN, John. “Creativity, technology and art”. In: REICHARDT, Jasia et al. Cibernetic, art and ideas. London: Studio Vista, 1971. CORRÊA, Tupã Gomes. Editoração: conceitos, atividades, meios. São Paulo: EDINAC, 1988. DI Franco, Carlos Alberto. “Macdonaldização do jornalismo”. In: DI Franco, Carlos Alberto. Jornalismo, ética e qualidade. Petrópolis: Vozes, 1995. ENCICLOPÉDIA Tecnológica Planetarium. São Paulo: Editora Abril, v. 4, 1976. BIBLIOGRAFIA 56 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 50-58, 2011. FADUL Anamaria(org.). Novas tecnologias de comunicação: impactos nômicos.São Paulo: Summus, Intercom, 1986. políticos, culturais e sócioeco- Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 50-58, 2011. 57 GAMA, Ruy. A tecnologia e o trabalho na história. São Paulo: Nobel, Editora da Universidade de São Paulo, 1986. Os primeiros oitenta anos do Cinema Espanhol: una mirada nostálgica GIOVANNINI, Giovanni (coord.). Evolução na comunicação: do sílex ao silício. Ensaios de Barbara Giovannini et al., trad. Wilma Freitas Ronald de Carvalho, rev. tec. André Luiz Lázaro,Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987. The first eighty years of Spanish Cinema: a nostalgic look. GRANDE Enciclopéida Larousse Cultural. São Paulo: Círculo do Livro, 1988. João Eduardo Hidalgo Professor do Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da UNESP, Bauru, São Paulo, Brasil. Recebido em: 14 de Abril de 2011 Aprovado para publicação em 17 de Novembro de 2011 Visão panorâmica do cinema espanhol, de 1895 À 1970, repensando seus períodos e diretores de maior importância. Passando por o cinema censurado pós-guerra, até os jovens diretores como Carlos Saura, Ivan Zulueta, Pedro Almodóvar e resgatando nomes como: Segundo de Chomón, Luis Garcia Berlanga, Pére Portabella. Palavras-chave: Cinema Espanhol, Pós-guerra, Carlos Saura, Ivan Zulueta, Pedro Almodóvar Panoramic vision of the Spanish Cinema, from 1895 to 1970, rethinking its meaningful periods and directors. Going through the censured post war cinema, coming to the scene young directors like Carlos Saura, Ivan Zulueta, Pedro Almodóvar and recovering names like: Segundo de Chomón, Luis García Berlanga, Pere Portabella. Keywords: Spanish Cinema, Post-War, Carlos Saura, Ivan Zulueta, Pedro Almodóvar A 58 indústria cinematográfica espanhola nasceu no final do século XIX, embora se tenha registro destas obras, ou pelo menos de uma significativa parte; somente no final dos anos 80 e início dos anos 90, muitos destes clássicos puderam ser apreciados e reavaliados. Nos anos 50, na opinião de Juan Antonio Bardem, Luís García Berlanga e José Maria Garcia Escudero (Diretor do Departamento Nacional de Cinematografia), o cinema espanhol era raquítico e praticamente insignificante. Os poucos argumentos que eles tinham para chegar a tal conclusão atenua a superficialidade da mesma. A Filmoteca Española só foi criada em 1953, poucos Cine Clubs exitiam até então, os filmes ficavam apenas na memória do público que os haviam visto e em esparsos artigos de crítica, nas pouco periódicas revistas especializadas. As publicações mais regulares foram criadas só na década de 40. Em 1997 foi publicada a monumental Antologia crítica Del cine español 1906-1995, sob a coordenação de Julio Pérez Perucha, a qual, contando com os melhores críticos de cinema já reunidos, focaliza mais de uma centena de filmes, e a trajetória de seus autores. Esta obra modifica definitivamente a compreensão da história do cinema espanhol e a ótica limitante existente até então, prova que o cinema espanhol tinha sim uma massa crítica bastante significativa. Com o desenvolvimento de novas tecnologias de restauração, principalmente as digitais, filmes desaparecidos do cenário cultural puderam circular novamente, mudando o juízo que se tinha até os anos 90. Um exemplo de resgate da memória fílmica espanhola é a recuperação, em 1992, de Carne de fieras, de 1936, dirigida pelo valenciano Armand Guerra. Rodada em Madri, depois de revelado o negativo o diretor fez uma pré-montagem e abandonou o projeto. Seguindo suas indicações a Filmoteca de Zaragoza terminou o trabalho e pode trazer a luz um filme realizado com uma liberdade inusual para o período, uma verdade cápsula do tempo; com Marlène Grey falando o tempo todo em francês e o elenco respondendo em espanhol, recheado de cenas da atriz dançando nua dentro de uma jaula com leões, mostra uma moral bastante diferente da que se instalariam em seguida na Espanha. Foram recuperadas pela Filmoteca Española as duas versões de Raza, de Saénz de Heredia, a de 1941 e a de 1950, modificada tecnicamente para eliminar as posições ofensivas aos Estados Unidos e a Europa do pós-guerra. Muitos outros filmes foram restaurados por novas pesquisas de críticos e atuação de várias entidades. Em 2004 a Filmoteca Española recuperou uma versão original de Un chien andalou (1929) de Luís Buñuel, que estava nos seus arquivos desde sua fundação, e que por falta de meios técnicos teve que esperar para ser restaurada. O resultado é impressionante, o filme tem uma luminosidade que não percebemos nas cópias existentes, a sincronia do som (dos boleros) com a imagem é absolutamente diferente; as referências a ele têm que ser revistas à luz desta nova versão. O critério da escolha dos filmes e autores representados nesta visão panorâmica é a importância que a crítica lhes atribuiu, a repercussão que tiveram no cenário cultural espanhol e a ligação emocional com este autor. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 50-58, 2011. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 59-71, 2011. 59 O cinema espanhol surgiu, como a maioria do cinema europeu, na onda de entusiasmo que acompanhou a apresentação do cinematógrafo dos irmãos Lumière no Grand-Café, em Paris, em 22 de março de 1895, com o filme Sortie d’usine. Os irmãos Lumière produziram uma dezena de “vistas” como, Arrivée des congressistes à Neuville-sur-Saône, Arrivée d’un train à La Ciotat, Barque sortant du port, e, um primeiro passo dentro da ficção, Le jardinier et le petit espiègle ou L’arroseur arrosé . O cinematógrafo francês fez sua primeira apresentação na Espanha em 13 de maio de 1896, no Hotel Rusia, Carrera de San Jerônimo, em Madri. A partir desta apresentação surgiram as primeiras “vistas” e “saídas” no território espanhol, como Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza (1897) de Eduardo Jimeno e Llegada de un tren de Teruel a Segorbe (1896) de Charles Kall . Nos primeiros anos de existência o cinema era apresentado como atração em feiras, teatros e sempre com caráter de curiosidade científica. Só a partir de 1905 começaram a serem construídas as primeiras salas dedicadas exclusivamente às projeções. Pela proximidade de fronteira com a França, e pela existência de uma burguesia muito ligada ao mecenato em arte, que já vinha desde a idade média, Barcelona foi a capital do cinema espanhol, nas duas primeiras décadas do século XX. Destes pioneiros da cinematografia espanhola destacam-se Fructuós Gelabert, Segundo de Chomón e Ricardo de Baños. Cabe lembrar que grande parte da produção destes realizadores se perdeu, pela precariedade do suporte da época e pela inexistência de uma cultura de preservação. Fructuós Gelabert (1874-1955) entalhador de madeira no Ateliê de seu pai, muito cedo se apaixonou pela fotografia, o que o levou a descobrir a invenção dos Lumière. Graças aos seus conhecimentos de óptica e mecânica, fabricou uma câmera e produziu o primeiro filme de ficção espanhol Riña en un Café (1897). Inventivo Gelabert teve um papel muito importante na instalação de salas de cinema na Catalunha, criou novos projetores e aparelhos para a iluminação, e foi um grande documentarista da vida cotidiana de seus paisanos. Criou a Films Barcelona, uma das primeiras produtoras a construir um estúdio de filmagem na Espanha. Seu último filme de ficção, La puntair, que estreou em 1928. Segundo de Chomón (1871-1929), hábil em trucagem e exímio colorista, trabalhou mais no exterior, que em seu próprio país. Em 1898, viaja para Paris tendo contato com o cinematógrafo, na mesma época casa-se com a atriz francesa Julienne Mathieu, que realizava trabalho de colorista para Georges Méliès. Chomón acaba incorporando-se ao grupo e inventa uma placa de celulóide transparente, que ele chama de pochoir, na qual se passa a tinta para agilizar o trabalho. No começo do século colabora com a casa Pathé, realizando um grande número de obras como La gallina de los huevos de oro (1906), La mariposa dorada (1907) e o melhor de todos El hotel eléctrico (1908). Trabalha na Itália em Cabiria (1914) de Giovanni Pastrone, e de volta a Paris com Abel Gance em Napoleon (1926). Podemos observar as habilidades de trucagem (dupla exposição) e de colorista virtuoso em La mariposa dorada, que possui um argumento bastante imaginativo para seus 7 minutos de duração. andaluz (Un chien andalou) de Luis Buñuel. Passado o primeiro momento de registro de “vistas” e lugares exóticos, festividades, inaugurações das mais variadas, o cinema começou a produzir mais obras de ficção. As primeiras bastante esquemáticas, como Riña en un café e depois partindo para adaptações de obras literárias, um dos filões que sempre irá existir dentro do cinema daqui em diante. Na contramão desta tendência, em Bilbao, foi realizada a experiência mais inovadora dentro do cinema mudo espanhol, Nemesio Manuel Sobrevila Sarachu (1889-1969) dirigiu El sexto sentido (1929). O filme trata do próprio cinema como registro verídico da realidade, o olho mecânico registra a realidade cientificamente, negada pela literatura e por nossos cinco sentidos. As imagens, ângulos e montagem dialogam com a vanguarda cinematográfica da época, principalmente com Friedrich Murnau, Dziga Vertov e Abel Gance. No plano aqui destacado, vemos o cientista apresentando a câmera ao seu aprendiz e alertando-o que este invento mostra a realidade como ela realmente é, e dentro deste registro científico a vida quotidiana pode ser vampirizada e aprisionada. A mesma temática de Arrebato (1980) de Ivan Zulueta, os dois são cult movie e seus dois diretores fazem parte do grupo de diretores ‘malditos’ do cinema espanhol. Depois de realizados estes filmes Sobrevila não conseguir realizar nenhum projeto posterior; Zulueta mergulhou numa crise muito parecida com a do protagonista de seu filme, agravada pela dependência de drogas, e voltou para o ramo publicitário de onde tinha saido. Ainda nos anos 20, temos um dos primeiros filmes sonoro espanhol, El Misterio de la puerta del sol (1929), de Francisco Elias (1890-1977). Com um sistema sonoro de difícil assimilação pelas salas de exibição, o filme não foi bem recebido e teve muitos problemas de distribuição . Tecnicamente ele se parece muito ao Jazz Singer (1927), de Alan Crosland, com alguns momentos sonoros, alternados aos intertítulos em muitos trechos ainda mudos. Os trechos sonoros introduzem músicas, pequenos diálogos que tem um caráter de demonstrar as qualidades do novo invento. As dificuldades técnicas de produção de filmes sonoros retardariam, até 1931, o domínio e popularização do uso do sistema na Espanha. El sexto sentido de Nemesio Sobrevila Cinema dos anos 30 e 40 Ainda dentro do cinema mudo é produzida uma das obras primas do cinema espanhol, La aldea maldita (1930), de Florián Rey (1894-1962), que retrata a situação dos povoados espanhóis perdidos na miséria e nos costumes antiquados. A aldeia era assim denominada porque nos últimos três anos as colheitas haviam sido perdidas, a última por uma tempestade de granizo. O povo e a terra eram amaldiçoados. La mariposa dorada (1907), de Segundo de Chomón. 60 Barcelona polarizou este início do cinema, mas por toda a Espanha começaram a rodar-se “vistas” e pequenas obras de ficção, como a realizada por Antonio Cuesta em Valencia, El ciego de la aldea (1906). Em 1928, o escritor Ernesto Gimenez Caballero (1899-1988) criou o primeiro Cine-Club em Madri, onde se projetou El perro Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 59-71, 2011. Florián Rey (pseudônimo de Antonio Martínez del Castillo) é uma figura chave do chamado “cinema de la República”, pela descoberta e colaboração com um dos maiores mitos do cinema espanhol Império Argentina (1906-2003), com quem se casaria. As produções La hermana San Sulpicio (1934), Nobleza Baturra (1935) e Morena Clara (1936) transformaram Império Argentina em estrela e a Florián no diretor de maior sucesso dentro do cinema da época. Durante a Guerra Civil os dois aceitaram o convite de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do III Reich, para trabalhar na Alemanha. Desta colaboração resultaram as versões bilíngües de Carmen la de Triana (1938) e Canción de Aixa (1939). Terminado o segundo filme Florián e Império se separaram e voltaram para a Espanha. Império Argentina brilhou como estrela máxima nos anos quarenta em filmes como Goyescas (1942) de Benito Perojo, e prosseguiu com uma extensa carreira com títulos como Con el viento Solano (1965) de Mario Camus e Tata mía (1986) de José Luis Borau. Outra novidade dos anos 30 é a produção de El gato montés (1935), de Rosario Pi (1899-1968), primeiro filme dirigido por uma mulher. O filme baseia-se em uma Zarzuela de Manuel Penella e conta a história de dois ciganos andaluzes. A cópia que sobreviveu tem muitos problemas de imagem e maiores de som, o que torna difícil apreciar os números folclóricos que são apresentados e alguns diálogos, mas a realização técnica é acima da média, com bom uso de travelling e campo/contracampo. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 59-71, 2011. 61 Fotograma de La aldea maldita indústria cinematográfica italiana, que já estava em plena produção, graças aos grupos de apoio à filosofia fascista de renovação cultural. Segundo o diretor dessa nova escola o cinema italiano até o momento é irrelevante, antiquado, raquítico e precisa da intervenção do Estado para desenvolver-se. A mesma filosofia será a diretriz básica da escola espanhola, que também tem a pretensão de controlar a produção ideológica dos futuros cineastas. Prevalecerá na década de quarenta o cinema de fundo histórico, uma história dos vencedores franquistas, deturpada, modificada para justificar todas as atitudes de um grupo de dirigentes, que agora desejava um reconhecimento social e cultural. O período Republicano que propiciou um grande florescimento cultural foi atacado, com todos os recursos do aparelhamento, para que fosse esquecido rapidamente. Todo espanhol deveria agora ser metade monge, metade soldado, a pátria deveria ser defendida perante o inimigo que podia ser o comunismo, a maçonaria, o liberalismo etc. Como forte instrumento propagandístico apareceu no início da década o NO-DO, Noticiarios y Documentales cinematográficos de apresentação obrigatória antes de todo filme em cartaz. O primeiro número é apresentado em 4 de janeiro de 1943, e teriam uma vida longa desaparecendo somente em 1981. O NO-DO era um instrumento do Estado para divulgar sua ideologia, fazer apologia dos heróis por ele criados e louvar as obras e empreendimentos do grande caudilho Francisco Franco. Filmando-se com todas as trucagens disponíveis, os raquíticos espanhóis eram transformados em exemplo de força e vitalidade, bem ao gosto da ideologia das raças puras: Franco criou a imagem do corajoso guerreiro espanhol, tão ariano quanto os exemplares teutônicos. Franco brindaria a década com uma fantasia nacionalista que serve de estudo para a produção simbólica atrelada ao regime. Com o pseudônimo de Jaime de Andrade escreveu o romance Raza, em 1940, e utilizando o aparato do Estado levou a história ao cinema no ano seguinte, sob a direção de José Luis Sáenz de Heredia , que não tinha nem de longe qualquer parentesco de talento com Leni Riefenstahl (1902-2003), talentosa diretora subserviente ao nazismo alemão. A primeira realização de Luis Buñuel, considerada por muitos teóricos como um dos primeiros documentários , e outra obra fundamental do período é Las Hurdes, tierra sin pan (1932). Buñuel conta que realizou o filme com o dinheiro que seu amigo Ramón Acín ganhou na loteria e que o montou na mesa da cozinha de sua casa, selecionando os fotogramas com uma lupa. Filmado no final dos anos vinte (antes de El perro andaluz) ele só foi concluído quando a Embaixada da Espanha em Paris lhe forneceu o dinheiro necessário para a sonorização, motivo pelo qual se incluiu uma narração em francês. As imagens mostram a região de La Alberca, com a miséria da população, causada pelo isolamento geográfico e pela falta de atitude das autoridades competentes. Proclamada a República, em 1931, a Espanha entra em um período de liberalismo cultural. Com a sublevação militar contra o Estado Republicano em 1936, e que duraria até 39, a produção fica limitada, mas não deixa de existir. São realizados filmes como Nuestro Culpable (1936) de Fernando Mignoni, que foi rodado em uma Madri sob o ataque de bombardeiros, e que não toma partido na contenda, apostando em uma comédia escapista. Já Aurora de esperanza (1937) de Antonio Sau (1919-1987) é uma resposta do Partido Anarquista, incitando o povo à luta e à resistência. Através da historia do operário Juan e sua mulher Marta, que ao regressarem de suas férias anuais, se deparam com a perda do emprego do chefe da família. Com a falta de dinheiro vem os problemas, Juan, que não consegue encontrar emprego, manda a mulher e os dois filhos para o campo. Junto com outros trabalhadores organiza uma “marcha del hambre” que se dirige para Madri e que no caminho incita aos operários a pegarem em armas para ter uma esperança de futuro. Sobre a guerra civil e seu resultado o crítico Román Gubern escreve: “A guerra da Espanha supunha, sem sombra de dúvida, uma confrontacão histórica e paradigmática em território europeu entre a revolucão popular armada e o fascismo militarizado, cujas conseqüências seriam enormes, não só para os cidadãos espanhóis, para a correlação de forças internacionais e para os destinos da Europa e do mundo inteiro.” 62 Durante a guerra civil a indústria do cinema sofreu bastante, pois a maioria das salas foi afetada ou destruída e poucas delas continuaram a ter uma programação regular. Em 1938 é criado o Departamento Nacional de Cinematografia, dirigido por Manuel Augusto García Viñolas. No ano seguinte, terminada a guerra, cria-se o Sindicato Nacional del Espectáculo, órgão encarregado de conceder crédito cinematográfico e o Servicio Nacional de Propaganda; está constituído o aparelho franquista de controle da indústria cinematográfica. Em 1941 torna-se obrigatória a dublagem de toda película estrangeira a serem mostrada nos cinemas espanhóis. Na Itália fascista é fundado o Centro Sperimentale di Cinematografia que influenciará a criação, em 1947, na Espanha franquista , do Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas IIEC. O primeiro diretor do Centro Sperimentale di Cinematografia, Luigi Chiarini, infere que foi importante a criação do centro para a Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 59-71, 2011. Alfredo Mayo no desfile final de Raza (1941) Com um enredo que lembra em muito a própria família do caudilho, o filme conta a saga da família Churruca, cujo pai, Oficial da Marinha, morre em Cuba, durante o enfrentamento com os Estados Unidos. A mãe sobrevive com a pensão e a dignidade paterna, que lhe permite viver num palácio digno de medir-se com o palácio Real de Madri, cria seus filhos para que sigam o exemplo heróico do pai. Dos irmãos, Jaime opta pela vida religiosa, Pedro segue a carreira política, Isabel se casa com um militar e José (alterego de Franco) se unirá a um bando de ‘revolucionários’ que irá libertar a pátria dos opressores. O herói José, vivido por Alfredo Mayo, é um personagem esquizofrênico e masoquista, entrega-se ao pelotão de fuzilamento, abrindo a camisa e gritando ‘arriba España’, defendendo um ideal que corresponde ao ponto de vista dele, e que por isto é o certo, e é o que todos devem obedecer. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 59-71, 2011. 63 A experiência de ver o filme atualmente choca, é fácil pensar que na época de sua exibição ele tenha despertado sentimentos de repulsa e confusão, diante de um enredo tão absurdo. Perdido em justificativas voláteis, para o surgimento de um novo heroísmo no povo espanhol, baseado o comportamento do protagonista no extermínio de membros de sua própria família e dos seus semelhantes. Na crítica que aparece em Primer Plano , revista de difusão do ideário do franquismo, o crítico Antonio Mas-Guindal faz uma análise preciosista do filme: “Grandiosa concepção da galhardia espanhola. Visão exata de um povo que arranca forças de suas fraquezas, porque em sua alma conserva acesa a chama inextinguível da raça”. Ao lado de Raza os títulos mais destacados da década são: Locura de Amor (1948) com Aurora Batista, em interpretação visceral, e uma das primeiras aparições de Sara Montiel. Típico drama histórico da década, trata do amor entre Juana la Loca e Felipe el Bello, é um filme fundamental para entender o cine cartón-piedra . Dentro do ideário franquista de controle da indústria cinematográfica foi criado em 1947 o Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (I.I.E.C.). Importante centro de desenvolvimento profissional a escola formou até 1976, ano de seu fechamento, inúmeros profissionais de cinema como: Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Julio Diamante, Carlos Saura, Miguel Picazo, Basilio M. Patino, Manuel Summers, Mario Camus, Angelino Fons, Francisco Regueiro, José Luis Borau, Victor Erice, José Luis Alcaine, Pedro Olea, Iván Zulueta, Álvaro del Amo, Josefina Molina, José Luis García Sánchez, Jaime Chávarri, Imanol Uribe, entre outros. Em 1962 houve uma reestruturação da escola que passou a denominar-se Escuela Oficial de Cinematografía (E.O.C.), e, em 1971, a Ley General de Educación criou a Facultad de Ciencias de la Información da Universidad Complutense de Madrid, e os estudos de Audiovisual passaram a formar parte do curriculum da universidade, em 1977. O cinema dos anos 50 e as Conversaciones de Salamanca. 64 Os anos 50 significaram uma época de crescimento econômico, retomada de relacionamentos, antes rompidos com os Estados Unidos, e problemas sociais que começaram a crescer. A população rural emigrou para a cidade, fugindo da pobreza e do isolamento do campo, ocasionando uma superpopulação nos centros urbanos de Madri e o aparecimento de problemas de desemprego e falta de moradia, (condições dignas de vida). Deve-se lembrar que a Cartilla de racionamiento só foi abolida em 1955. Em 1950 o filme Raza (1941) teve uma nova versão lançada nos cinema, agora com o nome de Espíritu de uma raza, com os diálogos ofensivos aos Estados Unidos suprimidos, novas dublagens e remontagem. Derrotados seus aliados na Segunda Guerra Mundial, com os novos problemas sociais, o Caudilho viu-se na necessidade de ter uma política externa mais realista. Um retrato da situação social da época é o filme Surcos (1951), de José Antonio Nieves Conde, que mostra os problemas vividos por uma família que abandona o pueblo e vai tentar a sorte em Madri. O estraperlo, a venda de produtos escassos por quantias altas, é retratada no filme, assim como a dificuldade de adaptação na metrópole de pessoas sem qualificação, como é o caso da Fernando Fernán-Gómes e Elvira Quintillá em Esa pareja feliz. maioria dos membros da família. Temos aqui um dos primeiros filmes espanhóis a dialogar como neorrealismo italiano, que influenciaria em muito a cinematografia mundial da década. O filme custou o cargo ao diretor geral de cinematografia García Escudero, que lhe deu a qualificação de Interés Nacional (financiamento total pelo estado) e Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 59-71, 2011. negou a mesma classificação ao convencional Alba de América (1951), de Juan de Orduña. Com a criação da escola de cinema, o franquismo criou, sem intenção, um pólo de oposição ao tipo de cinema produzido até então, surgiu um grupo de profissionais que não podia ser manipulado facilmente, mesmo com as licenças de rodagem e os financiamentos controlados pelos órgãos estatais. Da primeira turma a licenciar-se no IIEC, em 1950, temos a presença de dois autores fundamentais para o cinema espanhol, Juan Antonio Bardem (1922-2002) e Luis García Berlanga (1921-2010). No ano seguinte juntos escrevem e dirigem o primeiro filme feito por alunos do IIEC, Esa pareja feliz (1951), festejada no instituto pelos alunos e professores, ficará sem estrear comercialmente por dois anos. Em 1952, escrevem juntos um roteiro para a produtora Uninci (Unión Industrial Cinematográfica), por motivo não esclarecido, Berlanga figurou sozinho como diretor e a Bardem restou-lhe o crédito como roteirista. ¡Bienvenido Mister Marshall! (1952), ganhou a classificação de Interés Nacional, tornou-se grande sucesso do cinema espanhol e foi indicado para o grande prêmio em Cannes. No filme nota-se que prevaleceu o humor Berlanguiano, o esperpento , talvez por isto a censura tenha deixado passar um retrato tão irônico e triste do pequeno povoado castelhano de Villar del Río. Depois deste começo juntos, Bardem e Berlanga acabaram tendo mais divergências que convergências, e terminou uma colaboração que brindou o cinema espanhol com alguns de seus maiores clássicos e que era nomeada como “las dos palmeras en un desierto”, salientando a importância dos dois realizadores no panorama cinematográfico da época. Em 1955 Bardem faz o que a maioria dos críticos considera sua obra prima, Muerte de um ciclista. O filme critica a burguesia cínica e a miséria social criada pelo aparelho franquista. Teve muitos problemas para conseguir a permissão de rodagem e depois a sua aprovação pela censura e só chegou a ser liberado pela influência do produtor Manuel Goyanes e pelo prêmio outorgado pela Crítica Internacional em Cannes. Apesar de todas as intervenções, o filme é eficiente em transmitir a postura inconformada do protagonista, que faz parte de uma série de personagens centrais chamados Juan, na obra de Bardem. Lucia Bosé e Alberto Closas em Muerte de um ciclista Temos o primeiro Juan de Esa pareja feliz, o Juan preso nas armadilhas de uma vida provinciana em Calle Mayor (1956), e o Juan que busca justiça, depois de passar anos preso, por um crime que não cometeu em La venganza (1958). Um grupo ligado aos cineclubes e à escola de cinema, chefiado por Basilio Martín Patino, organizou em Salamanca, em maio de 1955, Las Primeras Conversaciones de Salamanca, conseguindo reunir um número diversificado de profissionais do cinema espanhol e do exterior. Entre eles José Maria Escudero, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Manoel de Oliveira e Guido Aristarco. O encontro fez algumas homenagens, como ao filme Ladri di Biciclette (Ladrões de bicicleta, 1948) de Vittorio de Sica, a ¡Bienvenido Mister Marshall!, de Berlanga e estreou Muerte de un ciclista de Bardem. Mas principalmente ofereceu um espaço para que diretores, atores, iluminadores, montadores e estudantes de cinema debatessem sobre o cinema espanhol e ao final fizessem propostas para implementação de medidas que valorizassem a indústria cinematográfica espanhola. As propostas para desenvolvimento da indústria cinematográfica, pela sua amplitude, não lograram respaldo dos órgãos governamentais. Apesar do esforço, continuaram a ser numericamente mais produzidos os filmes que provocavam constrangimentos em festivais internacionais, de tão estereotipados; mas que tinham um Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 59-71, 2011. 65 grande apelo popular, como El último cuplé (1957) de Juan de Orduña, a serviço da bela, porém limitada, estrela Sara Montiel. O Nuevo Cine Español (NCE) dos anos 60 e a Escuela de Barcelona (EB) Os anos 60 significaram movimentos contestatórios por toda a Europa. A Espanha apesar do franquismo arraigado passou por transformações sociais e culturais. O IIEC, agora chamado de Escuela Oficial de Cinematografía, foi o centro do movimento renovador no cinema espanhol. García Escudero, ocupando novamente o cargo de Director General de Cinematografía, apostou nos jovens cineastas saídos da escola como grande esperança do cinema nacional. Dentro do movimento, cineastas de maior talento conseguiram quebrar a camisa de força franquista, e realizar filmes que eram questionamentos pelos quais passava a sociedade espanhola da época, recorrendo a metáforas, que eram perfeitamente identificadas pelo público. Exemplo disto é La caza (1965) de Carlos Saura, que era um retrato do peso de um passado que determina de forma sufocante o presente, com suas feridas abertas e cadáveres ocultos; ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Nueve cartas a Berta (1965) de Basilio Martín Patino mostra um jovem que não vê perspectivas para sua vida, pois dentro daquela sociedade só restava conformar-se. A repressão e costumes anacrônicos são o mote de La tía Tula (1964), de Miguel Picazo e as dificuldades dos rituais de passagem o de Del rosa ...al amarillo (1963), de Manuel Summers. Como denominador comum da maioria dos filmes do movimento pode-se dizer que havia o desejo de abordar temas conhecidos, através de uma perspectiva nova, a incerteza do despertar para a vida dos Madri e da EOC. O grupo foi chamado de Escuela de Barcelona. Como todo movimento estético de vanguarda a Escuela de Barcelona teve um manifesto: “Houve, isso sim, um Manifesto fundacional que, curiosamente, estava mais inspirado no New American Cinema Group que na Nouvelle Vague. Resgistrou Joaquim Jordá em uma “falsa” entrevista com Carlos Durán a raíz da estréia do seu filme Cada vez que... y foi publicado em 1967 na revista madrilena Nuestro Cine. ” José Isbert em seu melhor papel em El cochecito. Alfredro Mayo e Emilio Gutiérrez Caba em La caza 66 jovens; o desencanto com a vida cotidiana, que primava pela falta de liberdade na formação intelectual e afetiva; os difíceis vínculos com a família, representante de uma ligação com um passado soterrado de uma guerra civil. Este rompimento com o cinema do passado realiza-se na prática através de inovações estilísticas e principalmente éticas. Os novos autores tinham acesso às novas produções do exterior como as de Jean-Luc Godard, e todo o grupo da Nouvelle Vague francesa, e mais, através de Paris, - por seu conhecido circuito de filmes internacionais -, tinham contato com uma filmografia que continuava proibida na Espanha como Encouraçado Potemkim (1925), de Eisenstein, Gilda (1946) de Vidor, Viridiana (1961), de Buñuel etc. Mas não se deve esquecer que este novo cinema já tinha raízes autóctones delineadas em obras de Berlanga, Bardem, Fernando Fernán-Gómez com La vida por delante (1958); o próprio Saura com Los golfos (1959), Marco Ferreri e El cochecito (1960), Mario Camus e o surpreendente Young Sánchez (1963). Na onda do Nuevo Cine Español, surgiu em Barcelona um movimento de elite, que não ofereceu perigo ao regime, já que tinha um caráter altamente escapista. Tinha entre seus dogmas opor-se ao grupo de cineastas de Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 59-71, 2011. Interessante destacar a ligação com o cine underground Novaiorquino, que influenciou esta escola espanhola. A mais significativa tendência notada no grupo de Barcelona, e que é característica fundamental dos filmes underground ingleses e americanos do final dos anos 60 e começo dos 70, é a busca de obras não narrativas. E também a ausência de preocupação com sua distribuição comercial, tanto que o acesso a obras como Dante no es unicamente severo (1967) de Jacinto Esteve e Joaquim Jordà e Nocturno 29 (1968) de Pere Portabella é até hoje muito restrito. Pere Portabella é uma figura chave no movimento vanguardista de filmes experimentais em 16 milímetros, que irão culminar nos grupos produzindo em Super-8, no circuito Barcelona-Madrid, onde aparecerá a figura de Pedro Almodóvar e seus inusitados curtas-metragens. A liberalização do corpo no cinema espanhol, El destape. Os anos 70 na Espanha marcam o final do franquismo, pela própria extinção física do ditador. A continuidade do regime já tinha sido seriamente afetada em janeiro de 1973, quanto o ETA (Euskadi ta askatasuna ) grupo terrorista basco, assassinou em Madri o Presidente do Governo Luis Carrero Blanco . Com a incerteza que se criou com a morte do sucessor franquista os anseios de mudança começaram a ser retomados, e Franco já mostrava sinais evidentes de senilidade e incapacidade de escolher outro líder para continuar seu regime. Com a luta interna entre seus seguidores para manter o poder e a morte em 1975 de Franco, a Espanha entrou no período chamado de transição, onde o denominador comum era a incerteza. O aparelho franquista tentou fazer uma “abertura” controlada, mas as inúmeras greves que surgiram pelo país, em 1976, causaram a saída do Presidente de Governo franquista, Arias Navarro, a nomeação de Adolfo Suárez e a convocatória de Elecciones Generales em junho de 1977. O período de incerteza duraria até 1981, quando em 23 de fevereiro, o tenente-coronel da Guarda Civil, Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 59-71, 2011. 67 Antonio Tejero, fez o intento de Golpe Militar, e o Estado espanhol provou que estava maduro para reagir a ele e seguir o caminho da democracia desejada. O cinema do período sofreu com os avanços e recuos pelos quais passou o regime durante a década. Ele continuou sofrendo censura rígida, seqüestros de negativos, como a sofrida por El crimen de Cuenca (1979) de Pilar Miró, só estreada em 1981; e Viridiana (1961) de Luis Buñuel, que teve seu negativo confiscado e destruído, e só sobreviveu pela existência de outra cópia que estava com o produtor mexicano, fato que possibilitou sua estréia na Espanha em 1977. No cinema comercial da época começaram a surgir filmes que exploravam, com muita ingenuidade, a nudez, primeiro feminina, e depois masculina, e que recebeu o nome de El Destape. As produções eram modestas com estrelas muitas vezes já decadentes, prevalecendo a comédia de costume. Dentro da sociedade reprimida da época elas fizeram um estrondoso sucesso. Antes do fenômeno El Destape para ver qualquer tipo de filme adulto, era necessário cruzar a fronteira com a França. Estas escapadas, principalmente até aos cinemas das cidades francesas de Biarritz e Perpignan, eram célebres nas piadas masculinas da época. Satirizando este fato, foi feito Lo verde empieza en los Pirineos (1973) de Vicente Escrivá. “Segundo contam as crônicas, o termo ‘destape’ foi alcunhado por Ángel Casas, jornalista musical que alcançaria um notável sucesso ao final da década de oitenta com o programa de televisão Un día es un día, no qual se incluía um strip-tease no encerramento. Seja como for, a palavra em questão foi introduzida no vocabulário cotidiano para descrever qualquer atrevimento erótico, por pequeno que fosse. E eram pequenos.” Diretores como José Antonio Nieves Conde, que tinha em seu curriculum Surcos (1951) realizou Las señoritas de mala compañía (1973). Teresa Gimpera, atriz fetiche da Escuela de Barcelona , participou de títulos como Más fina que las gallinas (1976) de Jesus Yaguë e Climax (1977) de Fernando Lara Polop. A musa da contracultura, Emma Cohen, que trabalhou com Pere Portabella em Vampyr (1969) e Glauber Rocha em Cabezas cortadas (1970), entrou na onda e participou de Cuentos eróticos (1979) de Juan Tébar. O mercado editorial também abriu espaço para versões censuradas de revistas como a Playboy, Interviú, e proibidas para menores como Film Documento, que tinha como principal atração reproduzir fotogramas de filmes proibidos na Espanha como O último tango em Paris (1972) de Bernardo Bertolucci, Emamnuelle (1974) de Just Jaeckin e Saló, ou os 120 dias de Sodoma (1975) de Pier Paolo Pasolini. Como teoriza Neal Gabler, a cultura, e especificamente as artes, são o primeiro termômetro de períodos de mudança. Como aconteceu no final do século XIX, nos Estados Unidos, com a popularização dos jornais, os livros baratos e o surgimento do cinema, as massas começaram a ser brindadas com conteúdos, produtos, para a sua satisfação e prazer. Ele exemplifica: “a disseminação de uma ampla literatura erótica e pornográfica, de romances libertinos como o de George Lippard, The Quaker City (1845), que desnudavam as mocinhas como uma forma de tirar o véu de hipocrisia das fachadas requintadas, e de romancinhos baratos que contavam as aventuras de heróis como Buffalo Bill Cody numa prosa simples, chã, que qualquer menino de grupo escolar era capaz de entender.” Assim como nos EUA do século XIX, a sociedade espanhola estava farta de quarenta anos de ditadura, que lhe tirara toda a liberdade de expressão, e principalmente lhe negara o prazer. As publicações, as músicas e o cinema eram representantes de uma elite militarizada e católica pouco dada a mudanças. A Espanha vivia de costas para a Europa, perdida num mar de sentimento patriota hipócrita, controlado pelos vencedores da Guerra Civil de 1936. Com a desaparição da Censura na maioria dos países europeus no início dos anos 70, a Espanha tornou-se um país passadista, pois inclusive reforçou as restrições dos censores, tudo em nome da família e da pátria. Mas os cineastas iriam pouco a pouco quebrando esta couraça, e ajudados pelos acontecimentos políticos e sociais trilhariam um árduo caminho em direção à liberação sexual. Uma crítica que se faz ao Destape é que os filmes eram superficiais, grosseiros e muitas vezes reforçavam valores passadistas ibéricos, inclusive tratando a mulher como objeto de desejo. Muitas das críticas são justas, mas a existência do fenômeno e principalmente o grande sucesso dos filmes, impulsionou a aparição de filmes que tratavam de forma mais séria a sexualidade espanhola. Os títulos que exemplificam o início do Destape mostram todas estas contradições e a qualidade de pelo menos nomear coisas nunca antes ditas. Em Cebo para uma adolescente (1973) de Francisco Lar Polop, a changagem (com fundo sexual) familiar é o assunto, em Experiencias prematrinoniales (1972), de Pedro Masó, as relações (proibidas) antes do casamento e Los casados y la menor 68 Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 59-71, 2011. (1975) de Joaquin Coll Esponsa, trata do relacionamento de pessoas de idade muito diferente, todos tem em comum uma aproximação, um pouco mórbida, aos desejos e fantasias do espanhol. Em 1975 chegou as telas o filme La trastienda (algo como o ‘quarto dos fundos’, e toda a simbologia do que era escondido, em sexo, na época franquista), de Jorge Grau, com uma atriz que faria carreira na época do Destape, Maria Jose Cantudo. O filme era ambientado em Pamplona, durante a festa de Sanfirmines, famosa corrida de touros pelas ruas da cidade, e tratava da paixão de um médico por sua enfermeira. Maria José Cantudo, a enfermeira, protagonizou o primeiro nu integral do cinema espanhol, tirava toda a roupa diante de um espelho, numa cena noturna, e causou furor no público que inundou os cinemas para ver o seu belo corpo na tela dos cinemas. Alguns elementos na época foram muito comentados, o principal deles é a participação do médico na organização Opus Dei, grupo ultra-católico que fazia parte da corte franquista. No ano seguinte foi feito um filme importante, mas hoje em dia pouco lembrado, apesar de ter sido protagonizado por um das grandes atrizes do cinema espanhol, Victoria Abril, Cambio de sexo, de Vicente Aranda. Nele Aranda mostra a operação de sexo que muitos homens vinham fazendo, geralmente em Paris, na busca de encontrar uma nova realização para o seu desejo. Ainda em 1976, outro importante diretor, Eloy de la Iglesia, realiza La otra alcoba, que tem como tema a insatisfação sexual dentro do casamento, que até então era indissolúvel. Na onda destes filmes começam a aparecer no cinema temas como o aborto, a prostituição, o divórcio, a corrupção política, assuntos que não podiam ser nem nomeados na cinematografia anterior ao período. Na mesma época os circuitos alternativos de Madri, Barcelona e de outras capitais de província começaram a sentir os ares de renovação, trazidos pelas vanguardas artísticas, principalmente ligadas à Pop Art. Este renascimento cultural começou a ser percebido a partir de 1977, recebeu vários nomes como El Rollo, Reinaixença e finalmente La movida. A facilidade de acesso aos negativos e as câmeras de 16 milímetros e depois 8 milímetros e ao vídeo, favoreceu o surgimento de um cinema underground, que tinha um circuito próprio, chamado de marginal, que trouxe inovações que foram depois incorporadas, incluindo alguns autores, ao cinema comercial. Este tipo de produção underground floresceu no vácuo de um cinema oficial, que continuava controlado pelo pós-franquismo na aprovação, produção e distribuição. Neste cinema todos os assuntos eram liberados, fossem eles sexuais, econômicos ou políticos. Exemplar dos filmes da época é El jardin de las delicias, de 1970, dirigido por Carlos Saura; nele o protagonista de mais de 40 anos sofre um acidente e perde a memória, lembrando bastante a condição de Franco, e mais, tem como principal atividade caçar e tem sua memória reconstruída a partir das ações dos que estão a sua volta, que ressaltam ou transformam os eventos de acordo com seus interesses. A censura franquista causou muitos problemas ao filme, mas acabou liberando-o com alguns cortes e restrições. Franco morreu depois de uma longa doença e exposição midiática, suas fotos na UTI do hospital, eram material disputado entre os jornais, e seu genro fazia questão de produzir bastantes imagens, quanto mais humilhantes, mais valiosas. Em 15 de junho de 1977 são realizadas eleições para as Cortes, e a Unión de Centro Democrático (UCD) sai vencedora e pode garantir a indicação de seu representante Suárez, mas a esquerda (Partido Comunista Español) e inclusive os nacionalistas (Partido Popular, leia-se ‘franquistas’) conseguem representação. Liberado da censura e sem necessidade de utilizar a comedia moralista para tratar temas de atualidades, o cinema espanhol começa a apresentar todo tipo de temáticas, mais ou menos polêmicas e com maior ou menor sorte. Com um grande oportunismo umas vezes, com autêntica intenção crítica ou de denúncia em outras, os filmes tratam, em tom de comédia de costumes ou de drama social, aspectos da realidade espanhola que até então se consideravam intocáveis. O cinema espanhol aborda o tema do sexo de forma febril e quase obsessiva e praticamente não existe filme que não contenha alguma cena de cama ou algum nu, e na onda do Destape entram até alunos do prestigiado Instituto de Teatro de Barcelona, que participam do filme La orgía (1977) de Francesc Bellmunt. Inclusive um cineasta político como Alfonso Ungría conseguiu notável sucesso com Soldados (1978), onde certamente contou mais algumas cenas de cama picantes que o tema do filme. A década de 80 trouxe uma maior proteção ao mercado espanhol e a possibilidade do aparecimento de um número significativo de produtoras e novos diretores, que foram importantes para a realização cinematográfica. Neste cenário apareceu o diretor de maior destaque internacional da atualidade, Pedro Almodóvar. Seu primeiro filme comercial foi Pepi, Luci, Bom y otras chicas el montón (1980), que trazia um grupo de personagens impossível de ser reunido antes da abertura política, uma lésbica, uma dona de casa masoquista, travestis, drogados vivendo sem preconceitos e aproveitando a vida, numa Madri recém libertada do jugo católico e conservador franquista. A maior bilheteria da década foi de Almodóvar com Mujeres al borde de un ataque de nervios (Mulheres a beira de um ataque de nervos, 1988). A década também viu chegar o primeiro Oscar para um filme espanhol, Volver a empezar (1982) de José Luis Garci, crítico de cinema e roteirista experiente, ele já tinha angariado grandes êxitos como diretor com Asignatura pendiente (1977) e Las verdes praderas (1979). Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 59-71, 2011. 69 Em 1985, foi criado o Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para substituir a Dirección General de Cinematografía na normatização e financiamento do mercado cinematográfico espanhol. Estava encerrado oficialmente um dos aparelhos de repressão da vida cultural espanhola. Deve-se lembrar que um dos instrumentos de propaganda maiores da D.G.C. era o NO-DO, noticiário cinematográfico, que era apresentado em todos os cinemas da Espanha, e que faziam apologia da figura do Ditador Franco e de todas as realizações que ele e seu grupo faziam na Espanha. O NO-DO foi criado em 1943 e só deixou de existir em 1981. Em 28 de outubro de 1982, o Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganha as eleições de forma arrasadora, possibilitando a criação, pela primeira vez na história espanhola, de um governo socialista. A tantas vezes citada alternância política se tinha consumado e Felipe González, apoiado em uma cômoda maioria, recebeu a incumbência de governar das mãos de Leopoldo Calvo Sotelo. Em 27 de abril de 1983 é promulgado o Real Decreto, que ampliava outro anterior de 1982, em virtude do qual se suprimia a classificação S, dentro da qual estavam classificadas a maioria dos filmes de El Destape, e se criava a classificação X, para classificar todos os filmes com cenas de sexo e violência, como havia acontecido na maioria dos países da Europa por volta de 1975. Com a chegada do pornô El Despape perdeu força. A Espanha já trilhava caminhos mais europeus e não havia mais lugar para filmes de erotismo considerado barato e oportunista. Mas a importância do fenômeno El Destape não deve ser esquecida dentro do processo de normatização e classificação das produções dentro do cinema espanhol. O cinema espanhol, amparado na chamada Lei Miró, trilhou outros caminhos, muito distantes do erotismo barato do inicio dos anos oitenta. Muitas atrizes e modelos que haviam alcançado a fama à sombra dos nus e Destapes se retiraram ou mudaram de gênero e a maioria delas renegou este seu passado. Fenômenos sociais como “La movida” (explosão da Pop Art na Espanha), e o aparecimento de novos cineastas, como Fernando Trueba e Pedro Almodóvar, mudaram substancialmente o cenário de uma sociedade que já tinha alcançado uma razoável maturidade e se integrava a Europa com uma velocidade alucinante. El Destape foi um fenômeno que foi possível graças ao esfacelamento do órgão repressor do Franquismo, que estava tão corroído como o corpo físico do ditador. Com pequenas atitudes e encenações o cinema começou a propor uma nova sexualidade, a busca da satisfação do desejo e do prazer, sem se preocupar com que a igreja ou o estado pensariam disto. Estranhamente a abertura que chegou ao país impossibilitou a continuidade do destape, tanto que no final dos anos 80 já não se usava o termo Destape para caracterizar nenhuma obra audiovisual, mesmo que ela centralmente cenas de nudez. A coragem, ou como querem alguns críticos o oportunismo, de alguns diretores e atores, serviu de caminho precursor para o aparecimento de obras que discutiam ou mostravam conflitos emocionais e sexuais do povo espanhol sem que fossem todos condenados às trevas abissais do inferno dantesco, por mais que alguns filmes de El Destape tivessem com ele bastante parentesco. O final dos anos 70 e início dos anos 80 trouxe uma renovação cultural e social à Espanha sem precedentes na história recente do país. Começaram a surgir grupos e artistas que podiam propor renovações no campo das artes, que até então eram limitados a círculos específicos, muitas vezes do mundo underground madrileno ou barcelonês. Aqui termina, grosso modo, um cinema feito para agradar ao caudilho e a seus lacaios e nasce uma produção com um sentido de humor e de contemporaneidade desabrumadoras. Aparecem ou desabrocham neste período autores como Ivan Zulueta, Pedro Almodóvar, Carlos Saura, Jesus Franco, Eloy de la Iglesia, Vicente Aranda, Pere Portabella e Victor Erice, para lembrar só alguns nomes fundamentais. Estes cineastas propõem, na maioria das vezes, uma nova postura autoral perante o filme, que terá também um papel importante dentro do panorama cultural que fervilhava e procurava caminhos e possibilidades, mas isto já é outra história. 70 Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 59-71, 2011. Referências Bibliográficas ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE ESPAÑA. Diccionario del cine español. Dirigido por José Luis Borau. Madrid: Alianza Editorial, 1998. BUÑUEL, Luis. Mi último suspiro. Barcelona: Random House Mondadori, 2003. CASTRO DE PAZ, José Luis. Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950). Barcelona: Paidós, 2002. GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C. Historia ilustrada del cine español. Barcelona: Planeta, 1985. __________ El cine español entre 1896 y 1939. Historia, industria, filmografía y documentos. Barcelona: Ariel, 2002. GRAEME, Turner. Cinema como prática social. São Paulo: Summus, 1997. GUBERN, Román. Cine español en el exilio 1936-1939. Barcelona: Editorial Lumen, 1976. HALL, Stuart. Culture, media, language. London: Routledge, 1980. HERNÁNDEZ RUIZ, Javier; PÉREZ RUBIO, Pablo. Voces en la niebla. El cine durante la transición española (1973-1982). Barcelona: Paidós, 2004. MARTÍN PATINO, Basilio et Ali. El cine español, desde Salamanca (1955/1995). Salamanca: Junta de Castilla y León, 1995. PÉREZ PERUCHA, Julio. Antología crítica del cine español 1906-1995. Flor en la sombra. Madrid: Cátedra/ Filmoteca Española, 1997. PONCE, José Maria. El destape. Crónica del desnudo en la transición. Barcelona: Ediciones Glénat, España, 2004. SÁNCHEZ, Blanca. La Movida. Madrid: Comunidad de Madrid, 2007. Recebido em: 17 de Maio de 2011 Aprovado para publicação em 15 de Junho de 2011 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 59-71, 2011. 71 Los dos nacimientos del arte El arte y lo sagrado en el origen de la topología del aparato psíquico A arte e o sagrado na origem da topologia do aparelho psíquico The art and the sacred in the origin of the topology of the psychic apparatus Jesús González Requena Catedrático de Comunicación Audiovisual, coordinador del doctorado en “Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica” en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Cultural Trama y Fondo Esta pesquisa fala da noção de arte e história da arte que têm em seu âmago o paradoxo de ter como material de construção poética e patrimonio imaterial, objetos, artefatos, manifestações culturais e periodos criativos nos quais previamente a noção de arte não existia. Palavras-chave: Jesús González Requena, Construção Poética, Noção Artística This work shows that the notion of art and art history are linked, since their origin, in a great paradox, which encapsulates the fact that art history is made of objects, manifestations and historical periods in which the notions of art did not exist. Keywords: Jesús González Requena, Poetic Construction, Artistic Notion La paradoja del arte L as nociones de arte y de historia del arte están atravesadas, desde su origen, por una abultada paradoja que estriba en el hecho de que la historia del arte abarca objetos, manifestaciones y periodos históricos en los que la noción de arte no existía todavía. Así, por ejemplo, estos: La noción de arte como actividad autónoma digna de valor, conservación e historización nace, a lo largo de la historia de Occidente, en dos momentos precisos. Uno de ellos es localiza entre esto Es decir: en las postrimerías del siglo cuarto griego, cuando comienza ya a anunciarse el helenismo. Es decir, en la apoteosis del Renacimiento, en los tiempos de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Ahora bien, ¿qué hay en común entre estos dos momentos en los que en Occidente se suscita, se descubre la existencia, y la importancia, del arte? En primer lugar, que se trata, en ambos casos, de tiempos de apoteosis de la representación, en los que se alcanza cierto canon representativo que se vive como insuperable –y al que, en ambos casos, se denomina clásico. Y, en segundo lugar que, también en ambos casos, se trata de tiempos en los que sus respectivas sociedades padecen una crisis radical de sus fundamentos simbólicos. O en otros términos: el prestigio que en esos dos momentos alcanza el arte y los artistas es paralelo a la crisis de los mitos fundadores de esas culturas: la crisis del universo simbólico griego –la época del descreimiento–, y la crisis radical que atraviesa Occidente en forma del cisma cristiano. La emergencia del arte y la crisis de lo sagrado De manera que esa crisis constituye un dato esencial para la emergencia misma de la conciencia del arte como actividad específica. Podríamos, entonces, formularlo así: la conciencia del arte, como actividad específica, sólo aparece cuando emerge un pensamiento racional que hace entrar en crisis lo sagrado sobre lo que esas sociedades se fundamentan. Por el contrario, mientras el territorio de lo sagrado constituía una evidencia incuestionable, nadie suscitaba la cuestión de la importancia y de la autonomía de lo artístico. Sencillamente, porque lo sagrado existía, debía ser representado. Pero eso conduce, inevitablemente, a esta deducción: si la moderna historia del arte identifica como su territorio, en las épocas en las que la noción de arte no existía, las representaciones de lo sagrado, ello significa, necesariamente, que el arte pasa a ocupar el lugar de lo sagrado en una sociedad que comienza a pensarse en términos desacralizados. ¿No es eso, por lo demás, lo que se manifiesta en el hecho notable de que, simultáneamente a esa puesta en cuestión de lo sagrado, el arte y los artistas fueran sacralizados? Nacida la desconfianza hacia los sacerdotes, los artistas pasaron a ocupar su lugar: Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Tiziano, parecían manifestar una relación directa con lo sagrado –y eso es, por lo demás, lo que nombra la palabra genio en su acepción renacentista. Pero más expresivamente lo confirma la paradoja del museo moderno: en él, una sociedad que afirma no creer en lo sagrado, se obceca sin embargo en conservar –bajo la rúbrica del Arte– todo aquello que en otros tiempos fue concebido como sagrado. Y así, en una sociedad carente de templos, los museos en los que esa conservación tiene lugar adquieren una extraña semejanza con ellos. Pues, como ellos, son espacios donde se localiza lo sagrado. Durante los siglos XVI y XVII –que fueron los siglos de las guerras de religión– el arte existió como una actividad dotada de autonomía relativa con respecto al fenómeno de lo religioso, sin embargo participaba, con éste, de un ámbito común: el ámbito de lo sagrado, precisamente –en una sociedad que sigue siendo mitológica 72 Pero un nuevo paso decisivo en esta historia que tan sucintamente anotamos, hubo de tener lugar en el siglo siguiente, cuando la Ilustración inició el proceso de desacralización –de desmitologización– del mundo. Uno de los efectos inmediatos de esa labor de crítica y demolición de lo sagrado fue el nacimiento de una nueva disciplina: la Estética. Una disciplina que nacía necesariamente, en la misma medida en que la existencia –y la necesidad– del arte, una vez que había sido decretada la extinción de lo sagrado, constituía un problema irresoluble Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1 p. 72-82, 2011. Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 72-82, 2011. 73 para el pensamiento racional. Resumiendo: mientras que lo sagrado existió como algo incuestionable, no pudo existir una conciencia del arte como actividad diferenciada. Luego, cuando lo sagrado se manifiesta en crisis, el arte se afirma y conquista su autonomía. Finalmente, cuando lo sagrado comenzó a derrumbarse –la tarea deconstructiva de la Ilustración– la existencia misma del arte hubo de constituirse en un problema irresoluble. Y esto hace del concepto de arte un concepto conflictivo desde su origen: pues si el arte nace –retrospectivamente– como la representación de lo sagrado, pervive sin embargo cuando lo sagrado se derrumba. Esta es, entonces, su paradoja: el arte mantiene, conserva la geografía de lo sagrado en una sociedad que afirma no creer en ello. En cualquier caso, entre lo sagrado y el arte se localiza siempre esa notable actividad humana que es la representación Pues bien, ¿dónde mejor que en los orígenes mismos de la cultura para interrogar esa paradójica relación que liga al arte con lo sagrado? Lo representado: lo más importante Para los hombres del paleolítico representar no era, como lo es hoy para nosotros, una actividad que se puede practicar sin el mayor esfuerzo, sino, bien por el contrario, una tarea ardua, difícil, tanto por lo que se refiere a los problemas técnicos y materiales que suscita como a los estrictamente temporales: tenían muy poco tiempo libre: todo su tiempo se les iba en la tarea de sobrevivir. Pues bien: ¿Qué es lo representado en el arte paleolítico, es decir, en esa que constituye la primera manifestación artística de la humanidad? ¿Qué es lo que, en las extraordinariamente difíciles condiciones de supervivencia que eran las suyas, les merecía la pena representar a los hombres de entonces? Para comenzar a responder a esta cuestión el primer paso –pero veremos en seguida que no bastará con ello– consiste en identificar los motivos de sus representaciones. Los motivos de la representación Son de sobra conocidos: animales – bisontes, caballos, toros, renos, algún rinoceronte– dotados, se ha dicho siempre, de un intenso realismo, es decir, de un fuerte efecto analógico. Y sin embargo, frente a ellos, figuras humanas de dos tipos: unas esquemáticas: carentes de realismo y sin rostro singularizado. Otras, en cambio, de mejor acabado, con el rostro enmascarado y disfrazadas de animales: los antropomorfos. Y, por otra parte, mujeres: siempre sin rostro, desnudas, con los atributos sexuales muy marcados. A veces en parejas danzantes. Y, otras, en extrañas combinaciones con los animales. Y, finalmente, dos motivos corporales parciales. Por una parte el sexo femenino. Vulvas. Por otra, manos, obtenidas, ya sea por impresión de la mano pigmentada sobre la pared, o por perfilado. La representación y el sentido 74 enumerado: tan sólo hemos puesto nombres, categorías, signos, a eso que nosotros, desde nuestro mundo contemporáneo, reconocemos en lo que ellos pintaban. Pero no hemos respondido con ello a la cuestión suscitada: ¿Qué es lo representado? Pues responder a fondo a esta cuestión exige preguntarse por el sentido que tenía para ellos, en tanto sujetos, eso que representaban. Contextualicemos la imagen: lo que ahí está representado no es, desde luego, cualquier cosa, sino la más importante para una economía cazadora como era la suya: aquello de la que todo dependía para la tribu que lo pintó; la fuente del alimento y del vestido en tiempos que seguramente eran muy fríos. Pero no sólo lo más valioso. También lo más peligroso. Pues no entenderemos nada de lo que realmente está en juego si olvidamos que el bisonte era un animal tremendo: mucho más grande, fuerte y rápido que el hombre, especialmente en tiempos en los que éste sólo disponía de sus piernas para perseguirlo y sólo contaba con las más rudimentarias armas para cazarlo. Resulta imprescindible por tanto, para tratar de ceñir lo que late en esas representaciones, atender a las extraordinarias dificultades que debían vencer aquellos hombres para aproximarse a aquellas magníficas bestias y, a la vez, la mezcla de admiración y de pánico que debían experimentar en su presencia. Y, sobre todo, es necesario imaginar su extrema dificultad y, a la vez, su perentoria necesidad de tomar conciencia de lo que ahí sucedía, en el momento mismo del enfrentamiento con la bestia: en ese momento en que, si lograban sobrevivir, palpaban en cualquier caso la presencia de la muerte, hundían en el animal sus lanzas, se manchan con su sangre. ¿Qué acto de conciencia más importante, para ellos, que éste? La función imaginaria de las imágenes De las pinturas rupestres se ha dicho que respondían esencialmente a una función mágica fundada en la idea de un lazo esencial entre la imagen del ser y el ser mismo, de acuerdo con la cual apresar la imagen del animal propiciaba el posterior apresamiento, en el momento de la caza, del animal mismo. No debemos desdeñar está explicación, pues en ella se encierra una verdad indiscutible en las relaciones del hombre con la imagen. Aún hoy, en un mundo que no se piensa en términos mágicos, el enamorado quiere tener, poseer, una imagen de su objeto de amor. Y de cómo la guarda y cuida, por cómo se aferra a ella, parece deducirse que alguna relación intuye entre ello y sus esperanzas de llegar más lejos, de lograr poseer al ser del que esa imagen procede. Es sabido, por lo demás, el especial cuidado al que tales imágenes son sometidas, como si temiéramos que su deterioro pudiera afectar al ser fotografiado. Y por cierto que sabemos –es otra cara de la misma cuestión– que ciertos rituales de magia negra pasan precisamente por ahí: creen que la agresión a la imagen puede producir efectos sobre el ser en ella retratado. Creemos no participar de tales creencias y, sin embargo, ¿acaso no rompemos muchas veces con violencia las fotos de aquellos seres a los que acusamos de habernos traicionado? ¿Y quién se atrevería a atravesar con un alfiler la imagen fotográfica de su ser amado? Tal es la función imaginaria de las imágenes. Si su eficacia se mantiene viva aún en nuestro mundo presente, resulta difícil rechazar la posibilidad de su presencia entre aquellos cazadores que fueron los autores de las pinturas rupestres. Tales son, pues, los motivos. Pero conviene que reparemos en lo poco que hemos hecho cuando así los hemos Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1 p. 72-82, 2011. Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 72-82, 2011. 75 La función semiótica de las imágenes Ahora bien, igualmente podríamos hablar de una función práctica no mágica, sino funcional, pragmática: esas pinturas podrían permitir, a la vez, fijar la imagen del animal objeto de caza, para conocerlo mejor y, así, mejor aprender a cazarlo. Su contemplación podría permitir, por ejemplo, explicar a los nuevos cazadores cuales eran los puntos vulnerables en los que debe ser atacado. Constituiría así, en cierto modo, una suerte de primer manual de instrucciones destinado a guiar y prefigurar la conducta en el momento de la caza del animal real. Esta es, entonces, una función pragmática, ya no imaginaria sino netamente cognitiva, para la que resulta oportuna la denominación de función semiótica: de hecho, desde este punto de vista, la representación aparece como un discurso icónico que segmenta, identifica y nombra el cuerpo del animal. Bataille: la divinidad del animal Pero existe todavía otra explicación que sin contradecir a las anteriores, arroja una inesperada luz suplementaria. Nos referimos a la teoría de Georges Bataille según la cual los animales pintados en las cuevas del paleolítico poseerían, para los hombres que construyeron aquellas representaciones, el estatuto de divinidades: “Podemos pensar de una manera coherente que, si los cazadores de las cavernas pintadas practicaban, como se admite, la magia simpática, tuvieron al mismo tiempo el sentimiento de la divinidad animal .” Es de sobra conocido el hecho de que muchas civilizaciones posteriores llegaron a elevar a ciertas especies animales a la dignidad de encarnaciones de lo divino. Pero más allá de estos datos, Bataille argumenta su hipótesis en una notable reflexión sobre las condiciones de constitución de las primeras comunidades humanas. Conviene detenerse siquiera levemente en las líneas mayores de su argumentación. Bataille llama la atención sobre el hecho, por lo demás incuestionable, de que lo que distingue al grupo social, aún el más primitivo, de la horda animal estriba en que se da a sí mismo reglas de conducta, leyes, que incluyen necesariamente prohibiciones. O, como él los llama, interdictos que expulsan la violencia del interior del grupo social y que, en esa misma medida, afectan a todos aquellos ámbitos esenciales donde ésta se manifiesta: el sexo y la muerte. Pues bien, los hombres no pueden por menos que constatar que esas cosas que se prohíben a sí mismos son cosas de las que los animales –esos seres magníficos y poderosos de los que para ellos todo depende– disfrutan sin restricción alguna. “los animales, por el hecho de que no observan interdictos, tuvieron primero un carácter más sagrado, más divino que los hombres .” Por eso, el gran animal salvaje, ese ser magnífico que vive entregado a sus pasiones sin verse sometido a las restricciones y limitaciones que las leyes humanas imponen necesariamente debía ser percibido como un ser soberano . Interdicto y trasgresión Por eso, no debe confundirse el interdicto con la prohibición en el sentido moderno. Pues ésta, sin más, prohíbe: rechaza absolutamente lo prohibido, identificándolo como algo absolutamente negativo y rechazable. Carece, en suma, de toda dialéctica. El interdicto, en cambio, es dialéctico: no sólo percibe en su objeto esa dimensión negativa que lo constituye en una amenaza para el orden social, sino que, a la vez, identifica su dimensión positiva: “es sagrado lo que es objeto de un interdicto. El interdicto, al designar negativamente la cosa sagrada, no tiene solamente el poder de provocarnos –en el plan de la religión– un sentimiento de pavor y de temblor. Ese sentimiento se cambia en el límite por devoción... adoración... dos movimientos: de terror, que rechaza, y de atracción, que rige el respeto fascinado... El interdicto rechaza, pero la fascinación introduce la transgresión... lo divino es el aspecto fascinante del interdicto: es el interdicto transfigurado. La mitología .” 76 Y por eso mismo, porque concibe lo sagrado como una dimensión esencial e irrenunciable, no lo prohíbe abPoéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1 p. 72-82, 2011. solutamente. Por el contrario: construye vías para acceder a ello. “el interdicto no significa por fuerza la abstención, sino la práctica en forma de transgresión... El interdicto no puede suprimir la actividades que necesita la vida, pero puede darles el sentido de la transgresión religiosa. Los somete a límites, regula sus formas. Puede imponer una expiación... Por el hecho del homicidio, el cazador o guerrero homicida es sagrado. Para entrar en la sociedad profana, les era necesario lavarse de esta mancha, debían purificarse. Los ritos de la expiación... “ Es decir: el interdicto constituye la prohibición pero, a la vez –tal es su dialéctica– incluye la necesidad –y la vía ritual– de su trasgresión. Por eso, cazar, dar muerte al animal constituye una experiencia de transgresión, de acceso a lo sagrado. “Pero, en el movimiento secundario de la transgresión, el hombre se aproximó al animal. Vio en el animal lo que escapa a la regla del interdicto, lo que permanece abierto a la violencia (al exceso), que rige el mundo de la muerte y de la reproducción .” La función simbólica Resulta del todo plausible esta hipótesis batailliana sobre el carácter divino del animal en el universo cultural del paleolítico en la que el propio Bataille no ha reparado. Pues si él afirma que los animales representados en las pinturas rupestres debían ser percibidos como divinos por los hombres que los pintaron, no repara en el hecho de que la prueba más consistente de ello estriba, más allá de sus notables deducciones sobre las condiciones de la construcción del orden social, en el hecho mismo de que fueron pintados. Pues, como hemos señalado en el comienzo de este trabajo, si algo caracteriza a esa historia del arte que se extiende durante los siglos anteriores a la aparición del concepto mismo de arte es que se confunde totalmente con la historia de la representación de lo sagrado. Y que debe ser entendida, a la vez, como la historia de la construcción –textual– de lo sagrado. ¿No es acaso este el motivo de que los hombres que aparecen en las pinturas rupestres lo hagan invistiendo máscaras animales? El “Hombre de Neardental –nos dice Bataille– dejó del animal las imágenes maravillosas [...] Pero no se representó a él mismo más que muy pocas veces: si lo hizo, se disfrazó, por decirlo así, se disimuló bajo los rasgos de algún animal cuya máscara llevaba sobre la cara.. Al menos, las imágenes del hombre menos informes tienen ese carácter extraño. La humanidad debió tener entonces vergüenza de ella misma, y no, como nosotros, de la animalidad inicial .” Sin duda. Pero es posible llegar más lejos: si el espacio de la representación, en el mundo paleolítico, es el espacio de lo sagrado, acceder a ese espacio requiere investirse de los emblemas de la transgresión, es decir, de la participación en ese universo de exceso y violencia que caracteriza al mundo animal. Acceso a lo sagrado, intimidad con el dios –que la proximidad de las dos figuras traduce–, experiencia del sexo –la erección es patente– y de la muerte –el instante del choque–: todo ello se suscita en ésta que es quizás la más precisa y completa de las imágenes rupestres. Ninguna sorpresa, después de todo, pues la muerte simultanea del Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 72-82, 2011. 77 hombre y del dios constituye uno de los temas más insistentes de la iconografía religiosa: La dialéctica del hombre y su dios –es decir: la dialéctica de lo sagrado– atravesará durante siglos la historia del arte, como las sorprendentes similitudes no sólo compositivas de estas dos imágenes lo muestran: No sólo compositivas, decimos: pues la conciencia de la muerte –esa conciencia que vemos emerger por primera vez en las representaciones rupestres– nace con el nacimiento mismo del hombre. Más allá de las funciones imaginaria y semiótica de la representación, la historia del arte nos devuelve su dimensión simbólica: aquella en la que el hombre se construye construyendo la imagen de sus dioses. Y no debe perderse de vista la diferencia esencial entre ésta y aquellas. Pues tanto la función imaginaria como la semiótica presuponen la existencia, más allá de las representaciones mismas, de aquello que designan, independientemente de que unas apunten a su manipulación mágica –función imaginaria– o cognitiva –función semiótica. Frente a ellas, la función simbólica, en cambio, introducen en el mundo algo que, antes de ella, no existía: en ella, a través de esa dialéctica entre el hombre y sus dioses se construye la subjetividad misma. La cueva: dentro / fuera Y nada lo confirma de manera tan expresiva como cierto dato que ignora Bataille y que sin embargo nos suministran autores como Gombrich o Hauser –aún cuando ninguno de ellos saque el menor partido de ello, en la misma medida que no comparten la idea del carácter sagrado del animal. Nos referimos al hecho notable de que estas pinturas fueron realizadas en las zonas más oscuras y recónditas de las cuevas, distantes de aquellas otras donde los hombres del paleolítico desarrollaban su vida cotidiana y en las que, sin duda, debieron comenzar a organizar el orden social. Fuera, en cambio, no había guarida ni orden social alguno. Recordemos que nos encontramos ante una cultura cazadora que no cultivaba la tierra y que por eso no introducía en el espacio exterior a la cueva esos rasgos ordenadores de la naturaleza que son los de la agricultura. El afuera era por tanto, sin más, el ámbito de lo real en el que reinaban, soberanas, las bestias. De manera que ese umbral, esa abertura que separaba el espacio de la cueva del espacio exterior debió ser para aquella primitiva cultura cazadora la primera gran articulación semántica: dentro / fuera. Tres espacios Y sin embargo, esas cuevas, porque no eran todavía casas, carecían en muchos casos de la clausura que a éstas caracteriza. Y así, en el interior de la cueva se abrían inquietantes pasadizos, a espacios aún más interiores, pero ya incómodos e inapropiados para la vida social del grupo. Y era en ellos, notablemente, donde realizaron sus primeras representaciones. De manera que nos encontramos ante una topología que incluye tres espacios netamente diferenciados. Por una parte, el espacio interior de la cueva, donde los hombres se guarecían, habitaban y organizaban su vida social. Uno espacio donde, de acuerdo con la hipótesis de Bataille, el grupo había prohibido la violencia y en el que reinaban los interdictos que fundan la colaboración social. En segundo lugar, el espacio exterior: ese espacio no protegido, incierto, como era incierta, aleatoria, contingente, la presencia de la caza de la que la supervivencia misma dependía. Espacio, también, de riesgo, de difícil supervivencia, de la amenaza y la violencia. El espacio, en suma, de lo real. 78 De manera que el espacio interior habitado en el que se desarrollaba la vida social se veía doblemente flanqueado por los animales de caza: fuera, en el exterior, donde estos existían soberanos, y dentro, en el espacio doblemente interior, donde se guardaba su imagen. Lo real dentro: la pulsión Ahora bien: ¿por qué ese primer santuario? ¿Por qué el animal debe hacerse también presente, a través de su imagen, en ese espacio doblemente interior, en ese espacio más recóndito de la cueva? O en otros términos: ¿qué nombra este animal ahí ubicado, en ese espacio más interior? ¿Qué, sino la pulsión que habita al sujeto? Esa fuerza que presiona a la conciencia desde el interior y, al hacerlo, empuja hacia lo real. De manera que Ello cobra la forma de –o quizás más exactamente: es escrito como– una gran bestia sagrada que encarna, localiza y resume lo real: tanto eso real que aguarda amenazante en el exterior como esa pulsión real que, desde el interior, presiona hacia allí. Pero entonces, ¿no es la más precisa representación de la topología del aparato psíquico, tal y como Freud la esbozara, la que se halla ya trazada, materializada en el espacio de esa otra topología que conforma la cultura misma del hombre paleolítico? ¿Semejanza causal? ¿Plasmación en el espacio físico de la estructura psíquica de los sujetos de esa cultura? Pensamos que ni lo uno ni lo otro. Muy por el contrario: construcción, modelado en el espacio de una primera topología destinada a ser interiorizada y a configurar –a estructurar– así la subjetividad humana en el comienzo mismo de su emergencia. Pues nada permite imaginar que la complejidad del aparato psíquico humano constituya un rasgo natural de nuestra especie, sino, bien por el contrario –tal es al menos lo que se deduce de un presupuesto estrictamente materilista– el resultado de una construcción cultural. Dicho, en suma, de la manera más breve: ese espacio doblemente interior que es el santuario precede y hace posible ese otro espacio psíquico, también doblemente interior, que es el inconsciente. Y bien si eso fuera así, no existiría mejor prueba de la hipótesis nuclear de la Teoría del Texto que proponemos: que los textos construyen, conforman, estructuran a los individuos que los realizan –tanto a aquellos que los escriben como a aquellos que los leen–: que en ellos, en suma, se construye la subjetividad humana. Pero también: si eso fuera así, ¿no sería entonces la mejor vía para avanzar en la comprensión de la subjetividad tanto el análisis de los textos que la han configurado, como el estudio del proceso histórico en el que esa configuración ha tenido lugar? Así por ejemplo: si el inconsciente es la introyección psíquica de ese espacio material –y textual– que es el santuario, ¿no será el estudio de éste una vía privilegiada para avanzar en la comprensión tanto del motivo como del funcionamiento de aquel? Ensayémoslo. El acto y la conciencia Llamábamos la atención al comienzo de este trabajo sobre la magnitud experiencial de ese momento decisivo en la vida del hombre del paleolítico que es el de su enfrentamiento con la bestia. El momento, en suma, del acto nuclear, siempre vinculado a la muerte –ya sea la de la bestia o la del propio cazador. Y, finalmente, ese tercer espacio, doblemente interior, recóndito, donde se encontraban las pinturas de los animales objeto de caza. Pero es ahora necesario señalar su dificultad estructural, que, por lo demás, no es diferente de la que es propia de todo acto pero que en éste, dado tanto su carácter decisivo como el riesgo que comporta resulta especialmente visible. Pues bien, si hemos aceptado la idea del carácter divino, sagrado, de esos animales, ¿no resulta obligado identificar este tercer espacio como un –el primer– santuario, en el que sin duda tendrían lugar las ceremonias rituales que precederían y seguirían a las expediciones de caza? Se trata, en lo esencial, de esto: que aún cuando el acto convoca a la conciencia, aún cuando la conciencia, necesariamente, trata de ceñirlo y pensarlo, de dominarlo, cuando el acto tiene lugar la conciencia, sin embargo, no puede estar. O en otros términos: que, inevitablemente, el momento del acto es un momento vacío de conciencia. Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1 p. 72-82, 2011. Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 72-82, 2011. 79 Pues, con respecto a él, la conciencia se encuentra siempre temporalmente desajustada: solo puede manifestarse antes –intentando prefigurarlo– o después –reflexionándolo–, pero nunca puede coincidir con él. Cuando nos aguarda cierto acto que intuimos importante, es evidente que tratamos de anticiparlo en nuestra conciencia y, en esa misma medida, de prefigurar la conducta con la que habremos de afrontarlo. Luego, en el momento del acto, podremos acertar o fallar. Pero, en cualquier caso, de eso la conciencia sólo podrá tomar conciencia más tarde –y ese será el tiempo de la evaluación, de la satisfacción o de la culpa. Y es que estos dos tiempos son de índole –el tiempo de la experiencia y el tiempo del acto de conciencia– totalmente diferente: el tiempo de la conciencia puede dilatarse mucho, mientras que el tiempo del acto es siempre mínimo: un instante. El momento del acto es en sí mismo turbulento e inmediato, sin tiempo para que la conciencia despliegue sus operaciones reflexivas que son, necesariamente, operaciones discursivas. Y hablando de improntas: ¿No es ese el sentido de esas otras improntas, las de esas manos próximas a las imágenes de las bestias divinas? No es difícil, ahora, postular que se trata de las de los cazadores que han logrado sobrevivir al enfrentamiento con las bestias y que, en esa misma medida, han accedido a su dimensión sagrada. Topología del aparato psíquico Pues la conciencia trabaja con el lenguaje: se articula en discursos que duran, que excluyen el instante. El tiempo de la experiencia, en cambio, es siempre un instante singular e irrepetible. Es decir, real. Estamos, pues, ante una construcción topológica. Y una que se nos descubre ya como aquella a través de la cual tiene lugar la construcción primera del aparato psíquico. Por ello, por que el tiempo de la experiencia es siempre un instante radicalmente singular –o si se prefiere, es después de todo lo mismo, una sucesión de instantes...– el desajuste de la conciencia con respecto a él es esencial, inevitable. La conciencia solo existe en el lapso temporal en el que el discurso se despliega; la experiencia, en cambio, por ser singular, es un instante que escande, corta, hiende, perfora el proceso de la conciencia. Pues si nada hay en éste de arquetipo cósmico o preternatural, si es un fenómeno histórico, cultural, ¿no resulta lo más lógico que, para que pueda existir incorporado en el interior del sujeto, deba existir primero ante él en el exterior, como una construcción netamente material? Y a la vez: por su estructura discursiva, la conciencia opera inevitablemente con categorías conceptuales, es decir, con abstracciones sin duda útiles, pero con respecto a las cuales el carácter irrepetible y singular del suceso impone siempre su inexorable resistencia. Se equivoca por ello quien piensa que, si se esfuerza lo suficiente, puede llegar a estar permanentemente consciente en el momento del acto. O más exactamente, si está consciente en el momento del acto, estará consciente, pero de espaldas al acto; pues es entonces la representación del acto, y no el acto mismo, el que ocupa su conciencia. Y lo más probable es que, al tapar esa representación al acto mismo, falle inevitablemente ante él. Tal suele ser el caso del obsesivo: tanto se empeña en controlar el momento de la experiencia que se las apaña para llegar siempre tarde, cuando no para pasar por el momento en cuestión sin enterarse de nada. Insistamos en ello: el tiempo del acto es en sí mismo turbulento e inmediato. En él, en el instante mismo del acto, es imposible pensar, tomar conciencia de nada: el choque, el hecho, el suceso, en su intensidad, en su tensión, en su violencia, impide todo acto de conciencia. Resumiendo: Con lo real se choca. El inconsciente: espacio de conciencia vedado Pues bien, ¿qué hay en el interior del inconsciente, en su núcleo mismo? Una impronta: la huella de una experiencia desgarradora, intolerable. Algo totalmente otro a lo que la conciencia puede elaborar, concebir, manejar. Es fundamental que esa impronta esté almacenada en la memoria del sujeto. Pues sólo esa memoria puede constituir una guía para afrontar ulteriores encuentros con lo real. Pero, a la vez, esa impronta debe estar apartada de su conciencia pues, de lo contrario, la anegaría hasta paralizarla, como sucede en el individuo que ha experimentado un shock traumático, que retorna una y otra vez invadiendo su conciencia y consumiendo toda su energía. De manera que esa impronta debe, por eso, ser conservada y , a la vez, estar vedada, prohibida a la conciencia. Por ello –para ello– existe el inconsciente. 80 Pero la impronta de la que hablamos es algo más que la huella misma del shock. Es necesario, además, un símbolo que la localice, la ciña y la conforme: un símbolo que prefigure el momento que aguarda: Pero el inconsciente no es algo dado: sólo existe en la medida en que es construido. Y construido, precisamente, como un espacio vedado. Por eso, las primeras manifestaciones artísticas del hombre nos muestran cómo la cultura comienza, así, construyendo ese espacio, como un espacio interior, marcado como sagrado, donde guardar la memoria vedada de la experiencia de lo real. Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1 p. 72-82, 2011. Tal es pues la hipótesis que proponemos: que la cultura –y el arte– comienza con la construcción de la topología del aparato psíquico. Recordémoslo: fuera, el ámbito de lo real; allí donde no hay ninguna seguridad, allí, también, donde el suceso tiene lugar; donde se acierta –se caza al animal– o se fracasa –y el animal mata a su cazador. Dentro, un primer espacio interior: allí donde cierta seguridad es posible; el espacio de la realidad, sin duda que precaria, pero aseguradora, previsible. El espacio protegido, donde la conciencia habita. Y más dentro, un espacio inconsciente, sagrado, desde donde Ello, la pulsión, presiona, clama. Allí se configura una primitiva forma de subjetividad, a través de la identificación con el animal divino –la primera prefiguración, entonces, de eso que más tarde llegará a llamarse alma. No debiera extrañarnos: durante la mayor parte de la historia de la civilización, los hombres se han construido a sí mismos a través de la construcción de las ideas y las imágenes de sus dioses. La mujer y la bestia: el tercer espacio interior Queda ya sólo una cuestión pendiente: dar sentido al otro gran motivo del arte rupestre: esas figuras femeninas, desnudas, con sus rasgos sexuales muy acentuados y, a la vez, carentes de rostro, no dotadas de la menor expresión. Y en ello opuestas a esas otras figuras, las masculinas, de rostros esquemáticos o no, pero siempre fuertemente expresivos. Hemos dicho: en el interior más interior, el santuario. Pues bien, allí, junto a los animales, el cuerpo de la mujer: la otra gran manifestación del tabú. Ahora bien, ¿no constituye acaso ese cuerpo, y el espacio interior que configura, otro santuario? Pues se trata, literalmente, del recinto del origen del ser. El tercer umbral: el tercer espacio interior. ¿Acaso el cuerpo de la mujer no manifestaba, para la percepción de los hombres del paleolítico, una dinámica metamorfósica propia de lo real? Un yo discontinuo por eso mismo sin duda menor que el del hombre, un cuerpo destinado a exhibir una continuidad extrema –desde la sangre menstrual al embarazo y al parto. Hemos dicho que el tabú marca el ámbito de la violencia, en tanto constituido como sagrado. Hemos dicho, también, que acceder a él supone transgredir el interdicto y que esa transgresión es la vía de acceso a lo sagrado. Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1, p. 72-82, 2011. 81 Así pues la mujer, como el animal, aparece como el otro límite al orden discontinuo de la razón social. Y por eso, simultáneamente, como otra de las formas de la divinidad. LA MIRADA CINEMATOGRÁFICA GENERACIONAL Generational cinematic gaze El acto y lo sagrado ¿No es eso, por lo demás, lo que se manifiesta, y de la manera más inmediata, en una imagen como ésta en la que el cuerpo desnudo de una mujer se encuentra tendido en el suelo bajo las patas de un animal? Emilio C. García Fernández Catedrático de Historia del Cine Universidad Complutense de Madrid (España) Y podría ser este, también, el momento para rendir cuentas de ese extraño gesto de perplejidad que atisbamos en los rostros de los hombres cuando entran en el espacio sagrado de la representación tanto disfrazados –mejor: investidos– de animales, como explícitamente sexuados: No sólo un rostro humanizado y expresivo. También desconcertado, o más exactamente, atónito. La representación de la escena primordial ¿No es esa la perplejidad inevitable de la conciencia cuando se ve confrontada a la escena primordial? Intentemos reconstruirla María García Alonso Doctora en Ciencias de la Información Universidad Complutense de Madrid (España) As filmagens cinematográficas tem sido discutidas em todas perspectivas possíveis no século passado. Os filmes tem sido objetos de culto, paixão e debate em círculos fechados e em setores mais amplos da sociedade. Além dos atores e atrizes terem sido convertidos em pilares de consumismo incontrolável. Palavras-chave: Filmes Cult, Consumismo devido ao Cinema, Paixão por Cinema The cinematographic shootings have been discussed in almost all possible perspectives in the past hundred years. The films have been objects of cult, passion and debate in closed circles and in more amplified sectors of society. Also the actors and actresses have been converted in pillars of an uncontrolled consumerism Recebido em: 17 de Maio de 2011 Keywords: Cult Movies, Movie-driven Consumism, Passion for Cinema Aprovado para publicação em 15 de Junho de 2011 E l hecho cinematográfico se ha abordado desde casi todas las perspectivas posibles a lo largo de estos últimos cien años. Las películas han sido objeto de culto, de apasionamiento y de debate tanto en círculos reducidos como en los sectores más amplios de la sociedad. También los actores y actrices se han convertido en pilares de un consumismo desmedido según las épocas, además de motores de moda e iconos inconfundibles para la inmensa mayoría de individuos que, ante todo, han sido y son consumidores de productos, hoy denominados audiovisuales. Han cambiado mucho las cosas a lo largo de este dilatado último siglo. Unos recuerdan con añoranza otras épocas, pero la inmensa mayoría de personas entienden que la evolución ha sido necesaria. Si el objeto de estas líneas es el cine, sabemos que todos nos hemos montado nuestra propia película en más de una ocasión. Y más allá de los resultados habidos, fruto de una investigación, queda suficientemente claro que un documento de primera mano es siempre el testimonio oral de quien ha sido espectador y ha visto cómo la exhibición cinematográfica y todo lo que a su alrededor ha generado, ha proporcionado material de entretenimiento, más gratificante en unas épocas que en otras. Rimini, Itália (Foto: J.E.H) El cine de ayer.: El valor de la industria. Sin duda, en una primera ejemplificación general podemos decir cómo revolucionaron a los habitantes de París aquellas primeras películas proyectadas por los hermanos Lumière. También sorprendieron por su dimensión espectacular las imágenes de Cabiria (1914), dirigida por Giovanni Pastrone, cuando se estrenó en Italia. Sucedería lo mismo cuando David Wark Griffith estrenó El nacimiento de una nación (1915). A lo largo de los veinte años que siguieron a la primera exhibición pública del Cinematógrafo, y sin que el espectador percibiera en su detalle la evolución del espectáculo, se pasó de un programa que reunía un conjunto de películas de corta dura- 82 Poéticas Visuais, Bauru, v.2, n. 1 p. 72-82, 2011. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, pág 83-95, 2011. 83 ción a la presentación de un solo título y, posiblemente, demasiado largo para el público de la época. Asistieron, indudablemente, a la transformación del formato de la película, tanto en su dimensión industrial como artística y, sobre todo, a la definición del espectáculo. Es relevante destacar cómo a mediados de la década de 1910 se aprecia el surgimiento de un nuevo concepto creativo basado, principalmente, en la combinación de la ubicación de la cámara y el plano a aplicar en el rodaje de una escena. Es decir, la situación frontal de los personajes a la hora de desarrollar un momento de la película va dando paso a un montaje con más ritmo, lo que permite sacar Fotograma de Cabiria. más rendimiento a la cámara sobre la base de combinar nuevos ángulos y encuadres. La educación de la mirada del espectador se va produciendo lentamente, aunque debemos reconocer que a la inmensa mayoría de personas que asistían a una sala de cine lo que más le importaba -¿quizás lo único?- era el desarrollo de la trama. El modo de ver de los espectadores de los primeros años era complaciente. En principio le interesaba todo aunque ya comenzara a seleccionar tanto la película elegida como la sala en la que quería ver dicho título. Los espectadores pasan a marcar los futuros pasos del negocio, especialmente definido hacia ellos en las salas de exhibición. Así se apuntan ya los rasgos principales del espectáculo cinematográfico: se trata de un estreno o reestreno, se valoran los reclamos publicitarios que permiten “lanzar” la película, se recomiendan salas bien acondicionadas o se asume un cierto conformismo debido a los recursos económicos de los diversos espectadores. La estratificación social marcará el flujo del consumo, el interés por el cine y por las relaciones que se establecen en el seno de la comunidad afín. 84 La mirada del espectador se deja cautivar con los años, sobre todo porque la industria comienza a diseñar unos recursos publicitarios capaces de atrapar la curiosidad del primer espectador para convertirlo en ferviente admirador de actrices y actores que dan paso a una mitología –héroes y heroínas- de belleza singular, sorprendente y que causa admiración en todo el mundo. En las calles de cualquier ciudad se habla, primero, de las historias y los ciudadanos se refieren a los protagonistas indicando la productora que está detrás de las mismas (“la chica de la Biograph”, “el actor de la Nacional”, etc.), hasta que el éxito, inevitablemente, obliga a referirse a los actores y actrices con apasionamiento. Elmo Lincoln fue el famoso Tarzán; Douglas Fairbanks encandiló a todos con sus acrobacias interpretando al Zorro, Robin Hood o piratas y aventureros; también Mary Pickford –“la niña de los rizos”- se convirtió en la referencia de muchas historias; Chaplin se diferenciaba de todos por su personaje inconfundible, icono de la Humanidad; Jackie Coogan por su encanto infantil, etc. Los actores dejan de ser unos desconocidos para convertirse en “estrellas”, transformando radicalmente la industria del cine que, de valerse sólo de las películas, explota al máximo todo lo que tiene que ver con la actividad del Estudio y de las personas que realmente son relevantes para el espectador. Como los curiosos quieren ver cómo se rueda una película, los grandes Estudios organizan itinerarios por sus instalaciones para que los “turistas” del cine contemplen qué es lo que se hace un día cualquiera del año. Como poco a poco van surgiendo “fans” de muchos actores se diseña una primera estrategia publicitaria que tenderá un puente entre los rostros más populares de la pantalla y sus espectadores. A partir de 1910 comienzan a aparecer revistas que hablan de los actores y actrices. Lo que en principio se estableció como vínculo entre la producción y exhibición, se va convirtiendo poco a poco en producto que hay que comercializar intensamente. Lo mismo sucede con la “imagen” que dan los artistas, que es vendida sobre soportes muy diversos generando una mercadotecnia inimaginable que proporcionaba unos ingresos adicionales importantes. El control del Estudio comenzaba a diluirse en función de la importancia que tenían los actores y actrices. El público escribía y opinaba mucho en aquella época sobre todo lo que tenía que ver con el cine. De ahí que además de las revistas para “fans” comenzaran a surgir tarjetas y postales en series coleccionables muy diversas con las estrellas más famosas del cine presentes en todo tipo de productos y artículos (cigarros, cerillas, juego de cartas, estuche de bolígrafos, estatuillas, etc.), y todo esto se completaba con los programas de los estrenos y lanzamientos de películas. Este culto cinematográfico alcanza otra dimensión con la aparición ya definitiva del cartel como soporte principal en el estreno de la película, y con la consolidación de la marca del Estudio como distintivo fundamental de calidad y éxito. En estas fechas comenzamos a percibir como se busca por todos los medios la fidelidad del espectador recurriendo a todos los resortes publicitarios y comerciales posibles, una fidePoéticas Visuais, Bauru, v. 2, n° 1, p. 83-95, 2011. lidad que se materializaba en la venta de revistas y en el visionado de un determinado tipo de películas. Interesan tanto las aventuras cinematográficas de Ramón Novarro, Rodolfo Valentino, la Nazimova o Theda Bara como su vida privada: qué hacen, cómo viven, con quién se divierten, cómo son sus lujosas mansiones, cómo es su familia, etc. La mirada del espectador ya está, desde estos años, prendida de la leyenda de Hollywood, por más que en cada país intenten emular a la “fábrica de sueños”. En España, sin ir más lejos, los espectadores que asistieron a las salas en las primeras décadas disfrutaron de un elenco artístico participado por Margarita Xirgu, María Guerrero, Raquel Meller, Aurora Redondo, Carmen Viance, Elisa Ruiz Romero “la Romerito”, Joaquín Carrasco, Jaime Planas y Fortunio Bonanova, José Montenegro, José Nieto, etc., quienes repartían su tiempo entre el teatro y el cine, circunstancia que aprovechaban las casas productoras para sacarle una mayor rendimiento a las películas gracias al “conocimiento” que el público tenía de los actores. La calidad de los resultados, en principio, estaba garantizada por su participación, aunque después del visionado hubiese opiniones para todos los gustos. Se generó abundante material gráfico tanto para la explotación comercial de la película como para la difusión de la misma en las revistas especializadas. Los ciudadanos seguían la vida de sus estrellas en las páginas de las publicaciones específicas que llegaban al quiosco a lo largo del mes. El modelo estadounidense, en cualquier caso, se puede percibir en casi todas la cinematografías mundiales. Los matices, sin duda, existen, pero el modelo de negocio sirvió de referencia para que todos los países intentaran aplicar la fórmula que diera los resultados comerciales necesarios no sólo para asentar una industria propia sino, también, para establecer el diálogo permanente con su propio público, buscando eficacia en la comunicación y en la generación constante de resultados publicitarios. Industria y creación: Un debate inicial. La popularidad que alcanza en 35 años el cine estadounidense en todo el mundo la consigue, fundamentalmente, a través del boca-oído que se genera con lo que hacen y dicen las estrellas rutilantes de su firmamento cinematográfico, además de saber cual es el tipo de lenguaje que mejor cuadra al nuevo medio y a quién se dirige. La generación de espectadores que sostiene el cine va pasando el testigo a otra nueva, tal y como lo hacen algunos productores y directores con los que vienen detrás. Cuando se proclama a los cuatro vientos que el cine habla, que ya se puede escuchar los diálogos de los protagonistas, que la acción se ve acompañada con un fondo musical y de ruidos, algo parece hacer tambalear a la industria cinematográfica. Muchos directores, críticos y espectadores que habían defendido el alto nivel artístico que había alcanzado el cine a finales de la década de 1920, encuentran una notable oposición de aquellos que consideran que el sonido enriquece el resultado final. El tiempo, como suele pasar siempre, pone a cada uno en su lugar. Nadie pierde en su determinación, pero todos ganan con el paso de los años, incluso aquellos que venían mostrando su disconformidad con los rótulos o intertítulos de las películas, debido a que resultaba difícil su lectura y necesitaban apoyo para comprenderlos. Después de superar una larga etapa de implantación sonora, el espectador justifica su nueva mirada atendiendo a los valores expresivos del filme en su conjunto. Interesa tanto el nivel de interpretación como la puesta en escena, aunque éste fuera un concepto vinculado sólo a aquellos que mejor conocían el denominado Séptimo Arte. Hay una generación que ya nace con el cine sonoro. A esta le va a costar comprender qué es lo que ha sucedido hasta esa fecha en el mundo del cine, sobre todo porque no entenderá que sus padres hubiesen visto cine mudo. Será un grupo de personas que entra de lleno en la producción nacional e internacional apreciando todo lo que de positivo y negativo pueda ofrecerle, conectando muy estrechamente con la nueva generación de actores y actrices sobre las que se consolidará una de las etapas más brillantes de la producción cinematográfica. A partir de este momento, desde los primeros años de la década de 1930, el imaginario del espectador comenzará a construir una referencia estelar que será el alma del espectáculo y, junto a ellos, se consagrarán una larga lista de directores aportando una nueva dimensión al hecho cinematográfico. Los espectadores se diferenciarán claramente entre los que van al cine para seguir la estela de los apasionados romances, los entresijos de los melodramas lacrimógenos o los dramas irremediables, de las comedias chispeantes, las películas de acción y aventura de todo tipo sin reparar más que en los intérpretes principales, mientras que otros buscarán seguir la pista del director de… Es decir, que mientras que los primeros buscan a Clark Gable y Claudete Colbert (Sucedió una noche, 1934), Humphrey Bogart (La calle sin salida, 1937), Spencer Tracy (Capitanes intrépidos, 1937), Bette Davis o la imagen explosiva de una Mae West, azote de censores y ligas morales en todo el mundo, la crítica y los más versados en temas cinematográficos buscan los trabajos firmados por Frank Capra, Charles Chaplin, William Wyler, Alfred Hitchcock o Alexander Korda y los interpretados por los hermanos Marx (Una noche en la ópera, 1935), Marlene Dietrich (El ángel azul, 1930), Jean Gabin (La gran ilusión, 1936), Charles Laughton (La vida privada de Enrique VIII, 1933) o Imperio Argentina (Nobleza baturra, 1935; Morena clara, 1936), por citar algunos. Y tenemos que admitir que ambas posturas no tendrían porque ser antagónicas; es más, fueron necesarias para la supervivencia del propio cine. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, pág 83-95, 2011. 85 Es decir, que la potente industria hollywoodiense, ayudada por los exhibidores de todo el mundo, confirma su habilidad para adentrarse en los rincones sociales más diversos y someter los gustos y pasiones de unos y las fobias y filias de otros a sus encantos cinematográficos. Va conociendo con puntualidad los gustos y demandas del público en general para abordar todo tipo de historias, pero siempre pensando en cómo llegarán y serán recibidas en cada país. En este sentido, las cinematografías europeas tienen que luchar en su propio territorio para convencer al espectador y, sobre todo, que el exhibidor respalde el estreno de sus películas. Hay un momento fundamental para entender el cambio generacional y los intereses que mueven a la industria cinematográfica estadounidense de cara al público occidental. Podemos situarnos en 1939, año en el que estrenan dos películas especiales dentro del conjunto de producción de los grandes Estudios de Hollywood. Nos referimos a Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming¸ producida por David O. Selznick, y La diligencia, de John Ford, producida por Walter Wanger Productions para la United Artists. Podemos decir que Victor Fleming firmó ese mismo año otra notable película, El mago de Oz, con una espléndida Judy Garland, y que Ford fue el responsable de otras dos películas para la Fox, Young Mr. Lincoln y Corazones indomables, ambas interpretadas por Henry Fonda. Sobre los preparativos y el rodaje de Lo que el viento se llevó se ha escrito de todo, porque fue una producción para la que no se encontraba la actriz adecuada (todas las grandes actrices de Hollywood querían ser Scarlett, papel que acabó en manos de la británica Viven Leigh) o el actor apropiado (desde Gary Cooper y Errol Flynn hasta Clark Gable). Este asunto propició que prácticamente las publicaciones cinematográficas de todo el mundo dedicaran páginas y más páginas a la película, continuando posteriormente con los detalles del rodaje. Sabemos puntualmente el elevado coste de producción de la misma y de cómo no se reparó en nada que impidiera hacer una gran obra. Los resultados los conocemos: 8 Oscar de la Academia, récord de taquilla y una de las películas más vistas de toda la producción estadounidense . Sobre el rodaje de La diligencia sabemos que costó muchísimo menos, que el protagonista resultó ser un mediocre actor hasta la fecha, John Wayne, que tuvo menos problemas de rodaje, que descubrió para el cine un escenario prodigiosos, Monument Valley, y que sólo obtuvo 2 Oscar de la Academia, uno de ellos para el actor secundario Thomas Mitchell, en el papel de doctor, quien sorprendentemente no fue valorado en el papel de padre de Scarlett O’Hara, que también interpretó en ese año . Esto es Hollywood en una fecha determinada. Y como esta hay muchas y también otros tantos acontecimientos singulares a lo largo de la historia del cine durante el siglo XX. Lo que debemos destacar, y que es lo que nos interesa especialmente en esta ocasión, es la respuesta que dan los espectadores de la época a ambas películas. El éxito de Lo que el viento se llevó oscureció, sin duda, la repercusión de La diligencia. Durante muchos años Rhett Butler pudo con Ringo Kid, aunque John Wayne consiguió despuntar lo suficiente como para consolidarse como una de las estrellas del firmamento cinematográfico, algo que no necesitaba Clark Gable. La película de Ford tendrá que esperar bastantes años para que una nueva generación de espectadores, especialmente de críticos cinematográficos, y gracias a la recuperación de una copia de la película, consagraran su película como una de las obras más importantes del cine, superando a la espectacular Lo que el viento se llevó, aunque no exista posibilidad de comparar ambas aportaciones. Los comentarios críticos se adentran en aspectos creativamente relevantes, mucho más allá de aquéllos que se centran en lo espectacular, en la mitología de Hollywood y en una campaña publicitaria notable. No obstante, pasadas varias décadas, cuando a los nuevos espectadores les invitas a ver estas películas –salvo aquellos que lo tengan que hacer por profesión, vocación o determinado interés en mejorar sus conocimientos cinematográficos- las rechazan, abandonan su visionado en menos que pasan un par de secuencias. Sus opiniones y comentarios son muy diversos y, hasta cierto punto, comprensibles: hablamos de una generación que entiende el cine desde otra perspectiva y lo vive bajo otra constante de consumo. El debate de la mirada: propaganda, cultura y entretenimiento. Si la mirada del espectador trasciende el espectáculo en sí mismo y consiFotograma de Lo que el viento se llevó 86 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n° 1, p. 83-95, 2011. gue atribuirle a la película una serie de valores sociales, culturales, políticos, religiosos y morales, está situando el producto de consumo en un nivel diferente al inicialmente contemplado. Tanto en la época de producción como en las revisiones que se hacen de un conjunto de películas años más tarde, se extraen inevitablemente una serie de ideas que están presentes en las historias que se cuentan. La sociedad encuentra en el cine una proyección que muchas veces no querría tener. El ideario político de un determinado país también encuentra acomodo en su producción propia. Si tiene capacidad suficiente como para que se distribuya por todo el mundo, el poder de seducción puede multiplicarse, aunque también provocará reacciones en contra. La cultura se transmite a base de argumentos conservadores, renovadores, transgresores y radicales. La convivencia generacional generará modas y estilos que se pueden irradiar en todas direcciones. Los valores confesionales y morales también se arraigan en el colectivo de espectadores más allá de su nacionalidad y clase social. Desde esta perspectiva, la mirada del espectador se fragmenta lentamente y una misma generación entenderá el cine desde su combatividad ideológica o desde una posición más distante, basada en el mero entretenimiento. Y esto sucede porque desde la producción se establecen unas posturas que tienen que ver con la identidad nacional, la defensa de unos valores políticos y el ejercicio misionero de quienes los propagan. La película para unos se convierte en arma propagandística, para otros en soporte artístico y para muchos otros en vehículo de entretenimiento. Congeniar estas tres posturas es difícil, y cuando lo hacen dos de ellas provocan reacciones que también tienen que ver con la actitud de quien contempla una determinada proyección. Algunos ejemplos aclaran cómo se enfrenta el espectador a dichas películas. El gran dictador (1940), de Charles Chaplin, fue prohibido en muchos países hasta la muerte de Mussolini y de Hitler. En España se estrenó en 1976; es decir dos generaciones no pudieron ver la película en su momento. Ser o no ser (1942), de Ernst Lubitsch, la entenderán mucho mejor espectadores de los cincuenta, cuando se analizan los detalles que aporta un guión tan bien escrito. El maestro Lubitsch será, sin duda, uno de los directores menos valorados por el espectador normal, quizás porque no comprenden el alcance de sus trabajos, mientras que será uno de los creadores más grandes que ha dado el cine tanto para compañeros de profesión como para críticos y estudiosos (aunque no todas sus películas son un desecho de virtudes). Sobre Ciudadano Kane (1941), de Orson Welles, se ha escrito mucho. Aquí queremos resaltar que su rodaje no estuvo exento de problemas, detal- Fotograma de Ciudadano Kane les que llegaron a los espectadores cinematográficos de la época, sobre todo aquello que destacaba el enfrentamiento entre el joven recién llegado al cine y el magnate de la prensa William Randolph Hearst. Las numerosas nominaciones al Oscar se concretaron en uno, al mejor guión original. La industria –atosigada por Hearst- le dio la espalda e impidió que el público pudiera ver la obra realmente, pues pasó al olvido rápidamente. Es redescubierta a finales de la década de 1950 por los críticos franceses de “Cahiers du Cinéma” y a partir de entonces, lentamente, se va convirtiendo en otro objeto de culto, en este caso para el espectador especializado. Casablanca (1942), de Michael Curtiz, se convierte en un éxito extraordinario, en objeto de culto a partir de su estreno, pero nadie sabe los problemas habidos para conseguir el guión definitivo, combinar un elenco de actores tan sugerente como el definitivo (Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid y Claude Raims, especialmente). Aquí se unen las valoraciones que hacen tanto el público normal como los especialistas, que no tienen porque estar siempre enfrentadas. En cualquier caso, la comunicación, la información, el documento social que puede encerrar una película tiene una dimensión cultural cuando se demanda una alternativa a lo socialmente establecido. Al margen de la distribución comercial de todas las películas, los intermediarios –distribuidor y exhibidor- imponen unos criterios que conducen a que grupos, al margen de lo considerado puramente negocio, establezcan otras normas que, desde la mirada del receptor, se consolidan como apuestas culturales. Grupos sociales y políticos que encuentran en los cine-clubs un espacio idóneo para desarrollar sus actividades y plasmar sus inquietudes formativas; fórmula alternativa con la que lentamente va conectando un elevado número de personas que rechazan convencionalismos. Esta dimensión cultural es necesaria, pero no tiene en el tiempo las salidas que garanticen su supervivencia Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, pág 83-95, 2011. 87 porque, seamos claros, la cultura cinematográfica se difunde en tanto sea rentable para quien sostiene su empresa con dichos productos; de no ser así, la idea del patrocinio, el mecenazgo y del apoyo incondicional desaparecerá lamentablemente. La dimensión cultural del cine no es o no tiene porque ser la dominante. La alternativa exige una financiación que no condicione las actividades que el grupo promotor realice en el tiempo. Así cumplieron sus objetivos el Cineclub Español que pone en marcha Ernesto Giménez Caballero al amparo de la revista madrileña “La Gaceta Literaria” en 1928. Los catalanes continúan sus pasos al año siguiente y el francés Jean Vigo promoverá en Niza en 1930 el cineclub “Los amigos del cine”. La tendencia inicial de estos dos centros culturales son exhibir películas artísticas (por ejemplo, Tartufo, 1926) y políticas (cine soviético, fundamentalmente). A partir de estos primeros núcleos culturales cinematográficos por todo el mundo se desarrollan fórmulas más o menos similares que tienden, básicamente, a entender el cine como algo más que mero entretenimiento. Este movimiento conectará en el tiempo con el grupo de jóvenes que desde la crítica pretenden cambiar la manera de hacer cine en sus respectivos países. Será a lo largo de los primeros años de la década de 1950 cuando el interés cultural por el cine modifique los hábitos de consumo y una nueva generación de espectadores demande un “necesario” cambio en las estructuras creativas cinematográficas. Puede servir de motor la aparición de la revista ya mencionada “Les Cahiers du Cinéma” fundada en 1951 por André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze y Joseph-Marie Lo Duca, que es fruto del interés de varios miembros de dos cineclubs parisinos (Objectif 49 y Quartier Latin) de los que formaban parte Robert Bresson, Jean Cocteau y otros. Es decir, unieron sus intereses notables teóricos, maestros de la experimentación y jóvenes críticos como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette y Claude Chabrol para apostar por un nuevo cine. Un cine distinto que aprovechó los recursos disponibles para ese grupo de jóvenes, recursos que apostaban por la economía de medios porque no tenían financiación suficiente, porque de haberla tenido, como señaló en cierta ocasión Truffaut, hubiesen hecho cine de otra forma. Los resultados de lo acontecido a lo largo de las décadas de 1940 y 1950 ya es historia, pero desde el punto de vista de la recepción hay que señalar que coincide en el tiempo con un cambio en la actitud de los profesionales de Hollywood, sobre todo de los actores, quienes deciden intervenir muy directamente en las películas que participaban, puesto que estaban comprobando que la rentabilidad de las mismas se quedaba en los Estudios. Es así como surgen películas más económicas e interesantes a nivel creativo que son el punto de partida de una revolución interna de la industria. ¿Un espectador dividido? 88 Sin duda los nuevos aires que se respiran en todo el mundo dejan muy claras ciertas cuestiones. La primera, y fundamental, que los actores han sido durante las décadas de 1940 y 1950 los motores indiscutibles de la industria, y para los espectadores referentes básicos de su interés por el cine. En sus labios siempre estaban, entre otros, Olivia de Havilland, Glenn Ford, Robert Taylor, Jane Wyman, Dana Andrews, Rita Hayworth, Esther Williams, Katharine Hepburn o de europeos como Anna Magnani, Alida Valli, James Mason, Trevor Howard, Alec Guinness, Amparo Rivelles, Alfredo Mayo, Luis Peña o Fernando Rey. Su mirada, indudablemente, está centrada en los protagonistas y las historias que interpretan, además de seguir sus pasos por el cada vez más proceloso mundo de las revistas dedicadas al mundo del celuloide. No obstante, también se sabe que más allá de la intervención censora de muchos gobiernos, la industria continuó abriéndose camino en las salas de todo el mundo. Que muchas polémicas domésticas apenas llegaron al gran público. Y que en el imaginario de todos los espectadores que contemplaron ciertas películas quedan huellas imborrables como la que Ingrid Bergman (actriz que dará mucho que hablar cuando se separa en 1949 del Dr. Setter Lindstrom para irse con Roberto Rossellini) dice en Casablanca al pianista del café Rick: “Tócala otra vez, Sam”, o cuando escuchamos al final de la película la frase “Este puede ser el principio de una gran amistad”. A la hora de elegir otros ejemplos nos podemos quedar con los momentos en que Gilda Mundson Farell interpreta el “Put the blame on mame” o “Amado mío” (Gilda, 1946) –seguro que muchos espectadores recuerdan más la bofetada que da Johnny Farrell (Glenn Ford) a Gilda, mito indiscutible de todos los jóvenes de la época-. O cuando Silvana Mangano emerge del campo de arroz en Arroz amargo (1949) o bailaba el “bugui, bugui”, o cuando hizo popular en Ana (1951) aquello de “tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven bailar…”, el tema del negro zumbón en la danza “el bayón”. ¡Cuántos espectadores vieron la película varias veces entrando en la sala sólo en el momento en el que interpreta el baile! Y también, cómo podemos olvidar en Con faldas y a lo loco (1959) la frase “Nadie es perfecto” con la que contesta el millonario Osgood Fielding III (Joe E. Brown) a ‘Josephine’/’Junior’ (Tony Curtis) cuando, quitándose éste la peluca, le descubre que era hombre y no mujer como pensaba. Por último, quiero pensar que serán pocos los españoles que no recuerden aquel famoso estribillo del tema titulado “Coplillas de las divisas” con letra de José Antonio Ochaita y Xandro Valerio, y música del maestro Juan Solano que dice: “Americanos,/vienen a España/guapos y sanos,/viva el tronío/de ese gran pueblo/con poderío, Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n° 1, p. 83-95, 2011. Olé Virginia/y Michigan/y viva Terza que no está mal./Os recibimos,/americanos con alegría/Olé mi mare,/ olé mi suegra y/ olé mi tía” (¡Bienvenido Mister Marshall!, 1952). Era un momento brillante del cine estadounidense, italiano o español, y cada una de esas películas despertaba el interés del público por algo diferente. Así era una buena parte del cine de aquellos años, recordado por muchos e ignorado por bastantes más de los que creemos. Se establecía un debate del que apenas se hacían eco las revistas de la época y que pronto saltan a la calle debido a determinadas circunstancias que tienen que ver con la formación cinematográfica del nuevo espectador, con la llegada e implantación de la televisión, por los cambios sociales, culturales, políticos y económicos que se aprecian en muchos países y que dejarán su huella en el concepto de un nuevo cine que si bien tendrá su público dejará por el camino al colectivo más numeroso que, con el tiempo, decidirá el futuro del negocio cinematográfico. Hablamos de un periodo que comprende las décadas de 1950 y 1960, etapa que el cine estadounidense refleja de una manera especial a la hora de abordar la ruptura familiar, una juventud a la que le sobran problemas, el inconformismo manifiesto, la rebeldía como acicate. Los nuevos héroes y mitos van surcando las pantallas del mundo (Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley, los Beatles, Jane Fonda, Brigitte Bardot…), nuevos dramas que se alejan del conservadurismo y trastocan la esencia y realidad social de la época. Se confunden los valores, la tradición está fuera de lugar; el sexo, las drogas, “haz el amor y no la guerra” o “la imaginación al poder” son reclamos publicitarios de una generación que está harta no sabe muy bien de qué, quizás de sus propias confusiones. La responsabilidad moral de la sociedad estaba en entredicho y una nueva cultura afloraba en todo el mundo occidental: la de una generación situada entre Rebelde sin causa (1955) y Buscando mi destino (1969). El cine de hoy. De la cultura audiovisual a la multimedia. El espectador indeciso. La movilidad, los nuevos hábitos de consumo, la disponibilidad de otros medios de entretenimiento como la televisión se presentan como alternativas en la vida del ciudadano de los sesenta, alternativas que el espectador asiduo a la sala de cine tiene que valorar y hacer frente, evaluando el interés que pueden tener para él las nuevas producciones que llegan a las pantallas. Sin duda le parecieron curiosas e interesantes las películas en pantallas de grandes dimensiones, aquello que decidieron llamar Cinerama, CinemaScope, Vistavisión, ToddAO, 3-D…, pero no dejaron de ser iniciativas que buscaban el gran espectáculo audiovisual como reclamo ante los contenidos en blanco y negro que aparecían en los televisores de los hogares del mundo. Aquellos espectadores que ya habían cumplido su medio siglo de vida se encontraban en la disyuntiva de seguir fieles a las nuevas películas que llegaban de todo el mundo, aprovechar algunos títulos que les pudieran ser interesantes dentro de su línea o, por el contrario, dejar paso a los jóvenes espectadores y refugiarse en otras alternativas. En el conjunto de espectadores podemos decir que la mayoría mostraron un cierto rechazo a buena parte de las historias que llegaban a la pantalla; o bien no las entendían, o las consideraban poco atractivas para ellos. Sería porque estaban surgiendo nuevos actores, muy jóvenes, y las historias tenían más que ver con la realidad cotidiana, el enfrentamiento generacional u otros temas más polémicos. Los jóvenes sí estaban por la labor: apostaban por estas nuevas producciones y, es más, pedían que se siguiera por ese camino. El resultado inicial es que se aprecia una pérdida de espectadores mayores que no va a repercutir notablemente en la taquilla porque el aumento del precio de la entrada camufla la situación. El espectador indeciso, pues, pasa el testigo al arrogante, quien con una postura manifiestamente agitadora decide hacer caso a los testimonios que le llegan desde determinados púlpitos de la crítica cinematográfica -así como desde otras áreas que encuentran en el cine un altavoz para salir de sus guetos, pasando a otro pero de mayor popularidad- y define quién es director –autor- y a quién hay que venerar, qué película es realmente aconsejable y cuáles deben ser ignoradas para siempre. El meollo de la cuestión está en la apuesta intelectual, en la reflexión filosófica en la que nadan muy a gusto numerosos colectivos de los cuales se alimentarán en las décadas siguientes otros grupos que ante el prurito de pronunciar frases magistrales y hablar de la esencia del ser humano, del vacío interior, de la lucha ideológica mediante pronunciamientos notablemente confusos, se retroalimentan durante un largo periodo que les catapultará hacia finales del siglo XX con fuerza y notoriedad, aunque su supervivencia resulte un handicap y se deje notar en sus aportaciones. El nuevo espectador, la nueva oferta. Superada la convulsión social de la década de 1960, el mundo occidental se orienta hacia una nueva etapa en la Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, pág 83-95, 2011. 89 que el espectador cinematográfico comienza a verse absorbido por una nueva cultura, la audiovisual. Y debemos asumir que el espectador adulto, la generación de postguerra, no va a ser la que sostenga el día a día de las nuevas producciones. Son los jóvenes quienes, especialmente, van al cine; eso sí, con el dinero que les dan sus padres. Así pues, iniciada la década de 1970 el cine mundial tiene que producir para un espectador que exige nuevas historias y quiere, básicamente, entretenerse, y al mismo tiempo seguir conservando a los mayores de 25 años que todavía encuentran temas de interés en la pantalla. La calidad del cine europeo se sostiene en la oferta plural que se hace desde un cine muy personal, ese cine de autor tan aireado por los jóvenes críticos. En el cine estadounidense, el cambio generacional también se tiene que producir en el grupo de directores de cine. Más allá del cine artesanal, cine de Estudio, las puertas se abren a iniciativas que tienen que ver con la cultura de la imagen, la cultura aprehendida a base de leer cómics de todo tipo, de ver las series de televisión, escuchar mucha música, ver películas en los autocines, trabajar con equipos domésticos y apostar por bajos costes. Se reconocerá años después de su estreno el primer trabajo de Steven Spielberg, El diablo sobre ruedas (1972), y también el de George Lucas, American Graffiti (1973). Se aplaude El padrino (1972), la apuesta del contestatario Francis Ford Coppola. Son la antesala de un nuevo cine –un nuevo Hollywood- que se convertirá en una máquina de hacer dinero y descubrirá un nuevo espectador que se dejará arrastrar incondicionalmente por un amplio abanico de historias que poco o nada tienen que ver con la realidad social, al menos en apariencia, pero que alcanzan la dimensión de entretenimiento necesaria para convertirse en reclamo a la hora de asistir a la sala de cine. Lo sorprendente de esta situación no deja de ser una paradoja por cuanto estos nuevos directores estadounidenses miran una y otra vez a Europa y quieren aprehender lo que estaban haciendo los directores jóvenes. En Hollywood, precisamente, muchos jóvenes se delataban diciendo que eran más estadounidenses que el vecino, pues demostraban en su manera de abordar las historias un fondo cultural europeo evidente. Es decir que en la cocina se encontraban, junto con los Spielberg, Lucas y Coppola, Warren Beatty, Dennis Hopper, Peter Fonda, Jack Nicholson, Peter Bogdanovich, Martin Scorsese, Brian de Palma, Paul Schrader, Julie Christie, Candice Bergen, Ali MacGraw, Cybill Shepherd, Carrie Fisher y entre ellos realizaban una serie de proyectos que atendían la demanda artística de un determinado sector de público. Es decir, ya se hablaba en este periodo –y se continuará mencionando estos nombres en las décadas siguientes- de un grupo que no significaba nada para los espectadores mayores. Por mucho que los jóvenes alabaran su obra, los más curtidos en la sala de cine entendían que aquello no iba con ellos. Quizás, también, influidos por las informaciones que decían que en Hollywood corría sin límites la droga, el sexo y la contracultura. La ruptura total llegará cuando Tiburón (1975), se convierte en una película de alto coste y alcanza en su es- Fotograma de Tiburón. 90 treno una taquilla jamás soñada. A partir de ese momento la apuesta por el cine espectáculo es total. Se cambia la fórmula del lanzamiento: se apuesta por un estreno masivo, intensivo (en este caso fueron más de 400 salas) y se utiliza la televisión para hacer publicidad; es decir, se revoluciona el mundo del cine apostando por otro modelo de distribución aplicando nuevas estrategias de marketing. Los espectadores se reencuentran con un tipo de cine que intenta batir récords de taquilla con cada nuevo título. El Box Office (la lista de las más taquilleras) se convertirá, definitivamente, en la herramienta de trabajo. El siguiente paso se dará con La guerra de las galaxias (1977), de George Lucas, otro blockbuster, y punto de referencia para la producción posterior, en la que tendrá mucho que ver la tecnología informática, la visualidad de las imágenes y el nuevo concepto del cine espectacular, sobre todo, por la parafernalia audiovisual que enPoéticas Visuais, Bauru, v. 2, n° 1, p. 83-95, 2011. vuelve cada vez más a las películas que se producen. No obstante, estos y otros éxitos no dan estabilidad en la exhibición, pues la ruptura en el consumo se produce radicalmente. Por más que se quiera establecer un criterio a la hora de cuantificar el número de espectadores que acuden a una sala de cine, está claro que la huída de los mayores comienza a tener un perfil muy sospechoso y preocupante. Hollywood tardará poco en abandonarlos y decantarse por el público infantil y juvenil. Los de mediana edad tendrán sus películas, aunque se piensa en ellos para que vean también los trabajos destinados a los jóvenes. La nueva oferta sólo despierta interés en aquellos que valoran especialmente el entretenimiento en su sentido más amplio (postura que, por otro lado, no es en absoluto novedosa, dado que en otras épocas también se consideraba el cine como entretenimiento). Aunque esta actitud no será nunca negativa para el Estudio cinematográfico que apuesta por este tipo de producciones, porque trata de invertir y rentabilizar la inversión. La discusión vuelve a surgir cuando un grupo de espectadores –que se considera adulto, preocupado por temas más profundos, ignorantes al mismo tiempo de lo que sucede a su alrededor- desprecia a aquel que consume estas películas. El debate se extiende por las publicaciones especializadas –reacias siempre a lo evidente- y se proyecta en numerosos Festivales cinematográficos en los que dan cabida, circunstancialmente, a los títulos presentes en el Box Office –porque no les queda más remedio para sobrevivir y contar con publicidad- y apuestan lentamente por premiar a otros muchos que jamás van a alcanzar el éxito esperado y no porque el galardón no le sirva para darse a conocer, sino porque el distribuidor de turno tendrá problemas para estrenar dicha película y mantenerla en cartel el tiempo necesario para hacerla rentable. Ya sabemos que el mercado es una cosa y la respuesta del público a ciertas películas, otro. Cinéfilos, espectadores, clientes y consumidores. El término cinéfilo surge cuando se produce un estado de ánimo especial hacia el cine por parte del espectador, una actitud refrendada por el estudio y conocimiento del cine, mostrando una pasión sin freno, causando una honda impresión en aquellos que escuchan los comentarios y opiniones sobre una película. La cinefilia reúne en torno a esa pasión a un grupo indeterminado de personas que tienen una preocupación especial por la trayectoria de un director o actor, que buscan lugares recónditos de la mitología cinematográfica para sorprender a propios y extraños. Este término vino a establecer esa diferenciación entre los espectadores de todo el mundo, aunque quizás esté más extendido en Europa que en el resto de países, porque esa vocación por la cultura cinematográfica se da, especialmente, en el viejo continente. Los cinéfilos tuvieron sus centros de acogida en los cine-clubs y en las salas alternativas y en versión original desde el momento en que algunos exhibidores asumieron el riesgo de apostar por esta nueva vía. No obstante, y como hemos apuntado anteriormente, la apuesta inicial se ha difuminado lentamente hasta comprobar como hoy dichos entornos están en decadencia, y apenas llegan a mostrar el esplendor que tuvieron en los sesenta. Para este espectador ha surgido una serie de empresas –distribuidores y exhibidores- que desde siempre se quejan de que las películas que tienen en sus listas y pantallas son difíciles de conseguir y de mantener atendiendo al número de espectadores que acuden a las salas. Vaya, que dicen que no es un negocio rentable, que su esfuerzo empresarial no se ve compensado. En realidad, no pueden dejar de ver como el vecino, con otro tipo de producto, consigue mayor afluencia de espectadores semanalmente. Cuando se apuesta por un tipo de negocio has que defenderlo como sea. En la consolidación de la cultura cinematográfica, del espíritu cinéfilo, tiene mucho que ver la aparición de los magnetoscopios en la década de 1980, artilugio doméstico que permitirá “poseer” las imágenes que sólo estaban en alguna filmoteca. A partir de este momento en los domicilios de muchos amantes del cine comenzarán a ocupar espacio las cintas con las grabaciones correspondientes de las películas que se emiten en los canales nacionales de televisión y aquellos otros que programan espacios especializados. Un poco más tarde surgen los videoclubs como filmotecas al “alcance de todos”, pues las productoras comienzan a comercializar en el mercado sus películas clásicas y modernas. La pasión se afianza, y de los análisis improvisados que se hacían a la salida de la sala tras el visionado de una película, ahora se profundiza en el estudio de la obra que se quiere valorar y se redactan textos “profundos” que permitirán redescubrir los “valores” de una película y, especialmente, comprender el sentido de la crítica y la reflexión cinematográfica realizada en las décadas anteriores. La pasión es posesión. ¿De la verdad? Posiblemente muchos de los cinéfilos se convirtieron en ideólogos cinematográficos y se consideraron unos privilegiados a la hora de poder diseccionar las secuencias de muchas películas. Su mirada generacional estaba por encima de la anterior, eso sin tener presente que la que le iba a seguir tendría otras muchas facilidades para contrastar sus opiniones. Al espectador mortal, aquel que no tiene especial interés en profundizar en el valor de la imagen cinematográfica –pero que es el que, en definitiva, sostiene con su continuidad la industria del cine-, le preocupa vivir las novedades, dejarse atrapar por la promoción y la publicidad que rodea el lanzamiento de una película. Con el Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, pág 83-95, 2011. 91 control que existe del medio por parte de la industria estadounidense, cada vez es más importante el despliegue que se hace para conseguir que un nuevo estreno llegue con fuerza a todos los rincones del planeta. Desde el momento que se unifican los referentes publicitarios se inicia la apuesta por el mercado global, que se verá reforzado no tanto por los nuevos soportes como por los espacios existentes en televisión. La cadena de servicios se establece en medios y espacios especializados, en la campaña y el lanzamiento de la película, acción que tendrá su recompensa con el estreno mundial del filme. Los flujos sociales en sus intereses cinematográficos comienzan a percibirse en función de una estrategia de marketing que afectará a todo el mercado y que, atendiendo a sus éxitos, será aplicada por todas las empresas del sector en cada uno de los países. Si nos fijamos en los lanzamientos cinematográficos de los primeros años Fotograma de La guerra de las galaxias episodio IV 92 del siglo XXI resulta imposible no dejarse atrapar por toda la campaña de marketing que se ha diseñado para convencer a propios y extraños que deben ir a ver las entregas de Harry Potter, OO7, Matrix, La guerra de las galaxias, El señor de los anillos, Piratas del Caribe o películas como Gladiator, Spider-Man, Buscando a Nemo, Shrek… y en España las producciones de Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y Santiago Segura. Además, la implantación de Internet y la consolidación de las redes sociales están recreando un imaginario que se enraíza en el plano cotidiano devorando sin piedad a propios y extraños. Conviene recordar en este sentido el nuevo paisaje humano cinematográfico en el que la estrella pasa a ser “celebrities” y cómo el espectador-consumidor –aquí sí que se produce un gran cambio generacional- se impregna de unos códigos de conducta que transforman radicalmente su vida sin darse cuenta de lo efímero que resulta su mundo. Un universo que se crea de la nada y que sitúa en altísimos pedestales a jóvenes que son utilizados por la maquinaria del marketing audiovisual –Estudios cinematográficos, sellos discográficos, editoriales, etc.- para generar un irrefrenable consumo de productos que llenan las arcas de los productores más avispados. Las estrellas del Hollywood más reciente –Brad Pitt, Angelina Jolie, George Clooney, Johnny Depp, etc.- se ven obligadas a dejar paso o convivir a regañadientes con un nuevo actor, surgido de la nada, desconocido por su trayectoria profesional, que es descubierto y alcanza inmediatamente la fama. El cine, la pantalla cinematográfica, puede ser una ventana importante del negocio, pero lo más revolucionario surge en el seno de la Red en donde los perfiles creados en Facebook o Twitter se convierten en las grandes plataformas en donde navegan sin descanso los fans de las estrellas adolescentes y jóvenes admirados. Al igual que hemos comentado en otros momentos, ahora toca hablar de Robert Pattinson, Kristen Stewart o Taylor Lautner (actores de la saga Crepúsculo), Hannah Montana, o de cantantes como Taylor Swift, los Jonas Brothers o Justin Bieber; las ventas de sus películas, libros, discos, las promociones y giras en las que participan se convierten en todo un espectáculo al que llegan multitud de jóvenes que se saben con minuciosidad y detalle cualquier aspecto de su vida: que beben, que visten, que perfumen usan, cómo se peinan, las letras de sus canciones… Son los nuevos ídolos de la nueva hornada de espectadores y consumidores del universo audiovisual, adolescentes que son capaces de dedicar muchas horas de su vida a “profundizar” en la vida de un desconocido que, según ellos, les da sentido a su existencia. Sin duda, a tenor de lo dicho, el espacio social se ha transformado lentamente –aunque existan momentos más acelerados-, dejando ya para la historia los grandes coliseos, las salas de referencia de una ciudad, para dar entrada a un nuevo escenario que irá convirtiendo al espectador en un consumidor y cliente, al que hay que convencer con locales mejor equipados, un buen ambiente y confort, además de proporcionarle todo aquello que Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n° 1, p. 83-95, 2011. le permita “disfrutar” de la película aunque para ello tenga que llevarse a la butaca un saco de palomitas y litros del refresco más popular. Lejos queda el hall del cine como lugar de encuentro y charla entre el complemento y la película. También queda muy atrás la simpatía de los empleados del cine que buscaban siempre al espectador para darle todo tipo de facilidades. [Se recuerda, a modo de ejemplo, en algunas ciudades de España el trato que dispensaban los empleados de ciertas salas que en días de lluvia acompañaban al espectador hasta el taxi o vehículo particular con un paraguas o, en su caso, como le dejaban uno que tenían en el guardarropa sabiendo de antemano que sería devuelto a su lugar al día siguiente.] Recordamos estar viendo una película en alguna sala de cine y apenas poder escuchar el diálogo de la misma debido al ruido que producían los demás espectadores al comer pipas durante la proyección. Sin duda esto molestaba a más de uno, que tomaba la decisión de no volver a dicha sala. Pero, con los años, nada ha cambiado especialmente, pues ahora, en el arranque del siglo XXI, tenemos que soportar la misma actitud en numerosas salas fomentada por el empresario que proporciona a los espectadores todo aquello que le pueda interesar para pasar más relajadamente las dos horas que dura la película. [No descubrimos nada cuando decimos que realmente para una inmensa mayoría de empresarios de sala el negocio está en todos los “complementos” que el espectador puede comprar en el hall del cine; la facturación de una sala depende, especialmente de la cantidad de productos que se consumen.] El placer de ir al cine ha ido cambiando al tiempo que se fue transformando el perfil del espectador que asiste a la sala de exhibición. La mirada generacional ha definido una época y un estilo de cine, y la industria se fue adaptando a las demandas existentes en cada momento y a las condiciones socio-culturales, políticas y económicas que existían y existen en cada país. El espectador digital. La era interactiva. Desde los primeros años de la década de 1980 la sociedad mundial cambia apresuradamente. Ahora, con la perspectiva del tiempo que nos sitúa en 2011, podemos afirmar que se ha avanzado tanto en el mundo del entretenimiento, del consumo, que nadie se ha dado cuenta que la transformación producida ha sido la más notable de las habidas a lo largo del siglo XX. Más allá de los cambios socio-políticos que tuvieron lugar en estas décadas, sin duda el ciudadano de a pie se ha visto desbordado por la aparición e implantación de una serie de recursos que han modificado su estilo de vida. Una casa con varios televisores no se podía entender hace veinte años; hoy es norma habitual (del blanco y negro hemos pasado al color, de la emisión en analógico a la Televisión Digital). Del transistor hemos pasado al MP3, dejando a un lado el radiocasete, el walkman, el discman y el CD. Muchos ni recuerdan el magnetoscopio 2000, el Beta o el VHS, porque todos han desaparecido en beneficio del DVD, aunque ya peligra su existencia ante la aparición de dos nuevos formatos en alta definición, el Blu-ray y el HD-DVD, que vuelven a dividir el mercado. El salto ya es, sin duda, cualitativo. La electrónica de consumo parece llegar para facilitar el desarrollo social, la convivencia, pero también el control social. Transforma los hábitos y costumbres de una sociedad tradicional que avanza hacia la modernización de su espacio vital. Lo que no se intuye en los primeros años de la década de 1980 es que ese ciudadano pasará a ser esclavo de la tecnología, con una dependencia espoleada por los fabricantes de equipos quienes, al conocer la envergadura del mercado, se afanan año tras año por romper barreras y establecer modelos de consumo ininterrumpidamente, de manera que el ciudadano de a pie comprenda que no le queda otra alternativa que seguir al paso la revolución con el fin de no quedarse fuera de juego. Pero la batalla no acaba aquí. La revolución tecnológica se dará en un futuro inmediato cuando la dependencia de Internet sea total, absoluta –que para muchos ciudadanos del mundo ya lo es-. Hoy mientras trabajamos delante de la pantalla podemos estar conectados a una emisora de radio, escuchar música o información en directo, podemos consultar un diario digital, ver un canal de televisión y establecer un vínculo con el mundo inimaginable (en la década de 1970 nadie dio importancia a dos jóvenes que estaban poniendo las bases de dos empresas informáticas llamadas Microsoft y Apple). Nos sentimos favorecidos, en muchos casos privilegiados, aunque si ponemos lo pies en el suelo también podemos comprender el grado de dependencia que asumimos en nuestra sociedad. ¿Realmente es necesario todo esto? Que pasa con la relación social, la dimensión humana, el descanso… este es un debate abierto que excede estas líneas. El espectador digital abandona espacios de convivencia para refugiarse en la cueva de la que ya habló Platón (véase su habitación o su domicilio) y, desde esa atalaya contempla al mundo no con las restricciones que supone el agujero original, sino a través de un cable que se convierte en el cordón umbilical que, supuestamente, le une a los demás. El espectador digital se relaciona y consume a través de la Red y cuando tiene que abandonar su cueva busca fórmulas para seguir en el mismo estado emocional: lleva el móvil, se aísla del mundo escuchando música, juega con la consola o instala en su automóvil su DVD portátil. Es más, la Red inalámbrica mantiene vivo el interés por la dependencia y esas supuestas facilidades de conexión refuerzan el aislamiento colectivo. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, pág 83-95, 2011. 93 El consumo y el entretenimiento del espectador digital se están convirtiendo en una adicción. Las nuevas enfermedades sociales surgen con los webadictos, los videoyonquis, los blogadictos y otras patologías que nos llevan a decir que el aislamiento social no es nada positivo y que genera deficiencias emocionales que un ciudadano intenta suplir, por ejemplo, convirtiéndose en protagonista de su propio producto (véanse muchos de los contenidos volcados en YouTube). Esto no significa que la tecnología sea negativa; está claro que bien utilizada ofrece alternativas muy valiosas. Se dice que el futuro ya es ayer. La realidad social, el consumismo más desaforado, está consolidando una sociedad efímera, en la que lo que realice el individuo apenas tiene el valor que se le puede otorgar en es momento. En este contexto, el espectador digital está perdiendo parte de las facultades que le han hecho grande; el estudio, la reflexión, la conversación, la serenidad, los sentimientos, las emociones… buena parte de su vida. Pensando en el futuro. Quizás en este acercamiento a las miradas que el espectador ha tenido sobre le cine subyace, en el fondo, un planteamiento derivado de la edad del gramófono, de la radio, de la televisión, del ordenador, de los videojuegos y del móvil. Ahora que se habla mucho de portabilidad, al referirse a aquellos clientes que se pasan de una compañía telefónica a otra, debemos asumir que en otros momentos a lo largo del siglo XX el espectador cinematográfico también se vio influenciado por los modelos de entretenimiento que se iban imponiendo se la sociedad de cada momento. Su “portabilidad” –el paso de un medio a otro y su disfrute complementario- se producía de una manera pausada, no era tan visceral como en la actualidad. Es más, ahora el cine lo tenemos en casa y no sólo por comprarnos un home cinema, sino porque disponemos de proyectores LCD -que favorecen el que nos olvidemos del televisor convencional y hasta de los nuevos modelos de pantallas planas LCD y plasma- que permiten proyectar directamente todo sobre una pantalla colocada en la pared de nuestro salón. Para apreciar la calidad sonora y de imagen de una producción cualquiera ya no tenemos que desplazarnos a la sala de cine, porque disponemos de tecnología de vanguardia sorprendente. Como síntesis de lo apuntado, el disco y la radio ayudaron a crear y consolidar un estrellato en el mundo de la música, pero también ayudó a establecer espacios de convivencia a partir de los programas y seriales radiofónicos tan fundamentales para el ciudadano a lo largo de varias décadas. La televisión aprovechó el flujo existente y combinó iniciativas que ayudaron a la estabilidad momentánea de los tres medios, aunque en los primeros años de la década de 1960 ya se comenzaba a percibir un cambio en la conducta social y en su respuesta ante lo que ofrecían radio, cine y televisión, siendo éste último el medio que lentamente se iba a imponer definiendo unas pautas sociales que se irían posteriormente modificando en función de otros medios que apuntaban, básicamente, a una actitud asentada en un nuevo estilo de vida basado en la supuesta “calidad” (comodidad) que proporcionan todos y cada uno de los equipos que se engloban en la electrónica de consumo. Los flujos económicos, la estabilidad social, la libertad de acceso a la información y la comunicación, el despliegue de recursos que favorecen las telecomunicación a todos los niveles han cambiado el perfil del ciudadano espectador-consumidor, convirtiéndolo en un activo productor-creador, pilar fundamental en la nueva Sociedad del Conocimiento (y del consumo) la cual no existiría –y lo mismo los grupos mediáticos- sin su ingenua participación activa en todos los mecanismos que le han dado un protagonismo que le convierte en el rey del mundo. Si nos creemos protagonistas y no revisamos a fondo la manipulación que ejercen los poderes políticos, económicos, tecnológicos y culturales cada día de nuestra vida, acabaremos sosteniendo una Sociedad del Consumo en la que no existirán límites para nuestra demanda. El futuro, sin ser alarmistas, puede estar vacío de conocimiento y ser abundante en riqueza efímera. Las generaciones venideras, sin duda, tendrán otros temas de qué preocuparse y muchos de los que aquí hemos planteado habrán pasado al olvido o apenas los recordarán. El mundo virtual quizás se haya convertido para entonces en una realidad en la que el individuo tendrá todo lo que necesite sin necesitar el contacto con su semejante. Su universo será otro, su mirada tendrá otra dimensión. Ya no será cinematográfica, posiblemente. American Graffiti (American Graffiti, 1973), de George Lucas. Ana (Anna, 1951), de Alberto Lattuada. Arroz amargo (Riso amaro, 1949), de Giusseppe de Santis. Buscando a Nemo (Finding Nemo, 2003), de Andrew Stanton. Cabiria (Cabirira, 1914), de Giovanni Pastrone. Calle sin salida, La (Dead End, 1937), de William Wyler. Capitanes intrépidos (Captains Courageous, 1937), de Victor Fleming. Casablanca (Casablanca, 1942), de Michael Curtiz. Ciudadano Kane (Ciudadano Kane, 1941), de Orson Welles. Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, 1959), de Billy Wilder. Corazones indomables (193), de John Ford. Crepúsculo (Twilight, 2008), de Catherine Hardwicke. Diablo sobre ruedas, El (Duel, 1972), de Steven Spielberg. Diligencia, La (Stagecoach, 1939), de John Ford. Easy Rider. Buscando mi destino (Easy Rider, 1969), de Dennis Hopper. Gilda (Gilda, 1946), de Charles Vidor. Gladiator (Gladiator, 2000), de Ridley Scott. Gran dictador, El (The Great Dictator, 1940), de Charles Chaplin. Gran ilusión, La (La grande illusion, 1936), de Jean Renoir. Guerra de las galaxias, La (Star Wars, 1977), de George Lucas. Joven Lincoln, El (Young Mr. Lincoln, 1939), de John Ford. Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind, 1939), de Victor Fleming. Mago de Oz, El (The Wizard of Oz, 1939), de Victor Fleming. Matrix (The Matrix, 1999), de Andy y Lana Wachowski. Morena clara (1936), de Florián Rey. Nacimiento de una nación, El (The Birth of a Nation, 1915), de David Wark Griffith. Nobleza baturra (1935), de Florián Rey. Padrino, El (The Godfather, 1972), de Francis Ford Coppola. Piratas del Caribe- La maldición de la perla (Pirates of the Caribbean-The Curse of the Black Pearl, 2003), de Gore Verbinski. Rebelde sin causa (Rebel Without a Cause, 1955), de Nicholas Ray. Señor de los anillos: La comunidad del anillo, El (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001), de Peter Jackson. Ser o no ser (To Be or Not To Be, 1942), de Ernst Lubitsch. Shrek (Shrek, 2001), de Andrew Adamson y Vicky Jenson. Spider-Man (Spider-Man, 2002), de Sam Raimi. Sucedió una noche (It Happened One Night, 1934), de Frank Capra. Tartufo (Tartüff, 1926), de F. W. Murnau. Tiburón (Jaws, 1975), de Steven Spielberg. Una noche en la ópera (A Night at the Opera, 1935), de Sam Wood. Vida privada de Enrique VIII, La (The Private Life of Henry VIII, 1933), de Alexander Korda Recebido em: 17 de Maio de 2011 Aprovado para publicação em 15 de Junho de 2011 Películas citadas ¡Bienvenido Mister Marshall! (1952), de Luis G. Berlanga. 94 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n° 1, p. 83-95, 2011. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, pág 83-95, 2011. 95 A MÚSICA E AS VIAGENS The music and the travels EDSON LEITE Professor Associado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) e do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte (PGEHA) da Universidade de São Paulo (USP). Diretor da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo O fenômeno de viagens não é novo na história da humanidade, desde que as primeiras sociedades foram criadas, o homem sempre viajou. A política e a economia geraram, ou não, muitas viagens, mas foi a arte que em muitos momentos inspiraram os homens a buscarem por outras pessias e lugares. Viajar sempre implica uma busca. Pode ser a busca por felicidade, emoções, o desconhecido, um encontro com um amigo, o novo ou velho, a contemplação da beleza ou até mesmo do terror, como nos cenarioss de vampiros na Transilvânia. Palavras-Chave: Viagem, Busca, Edson Leite The phenomenon of travels is not new in the history of humanity, since the first societies were created men always traveled. The politics and economy led to, or not, many travels, but it was art that in many moments inspired mankind to search for other people and places. To travel always implies in a search. It may be a search for happiness, emotions, the unknown, an encounter with a friend, the new or the old, the contemplation of the beauty, or even of the horror, like those who search for sceneries of a Transylvania habituated by vampires Keywords: Travel, Search, Edson Leite O fenômeno das viagens não é novo na história da humanidade, desde que se formaram as primeiras sociedades o homem sempre viajou. A política e a economia possibilitaram, ou não, muitas viagens, mas foi a arte que em muitos momentos inspirou o ser humano a buscar outros povos e lugares. Viajar implica sempre numa busca. Pode ser uma busca por alegrias, por emoções, pelo desconhecido, pelo encontro com o amigo, pela procura do novo ou pelo encontro com o velho, pela contemplação do belo ou até mesmo do horror, como acontece com quem busca cenários de uma Transilvânia habitada por vampiros. A busca, na viagem, pode ser até mesmo uma busca por felicidade. Já por volta de 800 A.C. surgiram na Grécia os jogos olímpicos. Os romanos construíram numerosas estradas durante seu domínio, o que facilitava os deslocamentos dos viajantes. Durante a Idade Média cresceram as viagens por motivações diversas, como a ida de Marco Polo à China, a de muçulmanos à Meca, a de Cristóvão Colombo em busca de novas terras. Os viajantes, naqueles tempos, desafiavam toda a sorte de perigos em busca de aventuras ou pela simples curiosidade. Krippendorf comenta que: “a sociedade humana, outrora tão sedentária, pôs-se em movimento. Hoje, uma mobilidade frenética tomou conta da maioria dos habitantes das nações industriais. Aproveita-se de todas as oportunidades para viajar” (Krippendorf, 2000, p. 13). O lazer é um fenômeno moderno surgido com a artificialização do tempo de trabalho, artificialização típica do modelo de produção fabril desenvolvido a partir da Revolução Industrial, “o tempo fora-do-trabalho é, evidentemente, tão antigo quanto o próprio trabalho, porém o lazer possui traços específicos, característicos da civilização nascida da Revolução Industrial” (Dumazedier, 1999, p. 26). A globalização, os novos meios de transporte – especialmente os aéreos –, unindo distâncias, possibilitando encontros de cultura, aproximaram civilizações, e os homens gostaram dessa crescente possibilidade. Longe ou perto, por meio rodoviário, aéreo, náutico, ferroviário, o ser humano aproveita cada vez mais seu tempo livre de lazer para viajar e obter ganhos de prazer em recreações fora de casa. Nos dias atuais, o turismo, as viagens e as possíveis atividades de lazer têm servido como tema para letras de canções. Ouvimos canções sobre lugares – próximos ou distantes, conhecidos ou não – sobre uma rede balançando a sombra de uma árvore, sobre um lugar distante onde o mundo é melhor, mais alegre e feliz. Em todo o mundo, as pessoas tocam e ouvem música. Os gêneros musicais são tantos quantos os povos e os lugares. A música desempenha uma função significativa na vida das pessoas. Ela está presente nos ofícios religiosos, como entretenimento, como meio de comunicação, é um atrativo significativo no turismo e um dos itens essenciais nos momentos de lazer. Urry explica que: (...) os lugares são escolhidos para ser contemplados porque existe uma expectativa, sobretudo através dos devaneios e da fantasia, em relação a prazeres intensos, seja em escala diferente, seja envolvendo sentidos diferentes daqueles com que habitualmente nos deparamos. Tal expectativa é construída e mantida por uma variedade de práticas não-turísticas, tais como o cinema, a televisão, a literatura, as revistas, os discos e os vídeos, que constroem e reforçam o olhar. (Urry, 2001, p. 18) 96 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 96-106, 2011. A música age sobre o ser humano influindo no funcionamento dos órgãos e nos sentidos: “a música afeta o corpo de duas maneiras distintas: diretamente, como o efeito do som sobre as células e os órgãos, e indiretamente, agindo sobre as emoções, que, depois, por seu turno, influenciam numerosos processos corporais” (Tame, 1993, p. 147). Muitas são as pessoas que viajam motivadas por uma música ou por um músico que viveu num determinado lugar, como é o caso da casa de Elvis Presley, que se transformou num santuário para seus fãs, ou no passeio quase obrigatório pela casa de Mozart, em Viena, e a compra dos bombons que trazem sua figura, ou do famoso licor de chocolate que traz o nome Mozart estampado. Bombons Mozart: um atrativo a mais para Viena Algumas cidades atraem viajantes exatamente por uma atração musical especial, ou por um conjunto delas. É o caso da cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, que abriga no mês de julho um festival de inverno para a música erudita. É o caso, também, do famoso Festival de Salzburg, na Áustria. Pessoas do mundo inteiro viajam para a Broadway, nos Estados Unidos, para assistir aos seus Musicais. Segundo Krippendorf: (...) a possibilidade de sair, viajar reveste-se de uma grande importância. Afinal, o cotidiano só será suportável se pudermos escapar do mesmo, sem o que perdermos o equilíbrio e adoeceremos. O lazer e, sobretudo as viagens pintam manchas coloridas na tela cinzenta da nossa existência. Elas devem reconstituir, recriar o homem, curar e sustentar o corpo e a alma, proporcionar uma fonte de forças vitais e trazer um sentido à vida. (Krippendorf, 2000, p. 36) VIAGENS DISTANTES As grandes catedrais góticas e medievais eram símbolos e orientadores dos caminhos. Suas grandes torres serviam de sinalização aos viajantes, tal como as grandes antenas de hoje em dia, instaladas no alto dos arranha-céus. Nas catedrais, se fazia a música do canto gregoriano, da polifonia de grandes mestres, do órgão, das missas para coro e orquestra, dos sinos colocados na parte exterior das igrejas para chamar os fiéis, rechaçar os maus espíritos, dissipar as tormentas, afastar o raio e as tempestades. Por vezes, essa música era até mesmo representada na pedra, viam-se esculpidos coros de anjos, anjos músicos, santos e profetas tocando algum instrumento. O viajante recebia através da arquitetura, da música, das pinturas e da fala do pregador, uma impressão da grandeza do criador. Cada palácio, nesse tempo, tinha seus músicos, compositores, instrumentistas e os meninos cantores. Alguns deles eram disputadíssimos, cabe lembrar que nessa época as mulheres não podiam se apresentar publicamente e que os meninos eram, portanto, os únicos capazes de alcançar as notas mais agudas. Nobres e bispos chegavam a mandar sequestrá-los para que fizessem parte do coro de sua corte. Muitas vezes, compravam-nos dos pais, já que o trabalho na corte ou na igreja era intenso e requeria bastante tempo de preparação e dedicação integral. Antes de atingir a puberdade, muitos meninos eram castrados a fim de preservar sua voz de soprano ou contralto. No início do século XX, embora já em declínio a prática da castração, ainda podiam ser encontrados alguns castrati no Coro da Capela Sistina. Menestréis e trovadores viajavam levando a música e as notícias. Acompanhando seu canto com o alaúde, estes músicos – poetas itinerantes – favoreciam o entendimento e a compreensão entre pessoas de diferentes culturas. No período da Quaresma e do Advento, quando a música profana era proibida pela Igreja, eles aproveitavam para ensinar sua arte a cortesãos e aos jovens discípulos. Apesar das normas rígidas da igreja, em cada taverna, o povo em seus momentos de lazer e mesmo de libertinagem cantava e tocava canções que geralmente eram dançadas e contavam histórias mais “apimentadas”, muitas Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 96-106, 2011. 97 delas sobre viagens exóticas, a paraísos distantes. Aberto o século XVII, a música alemã se precipita sobre Johann Sebastian Bach (1685-1750). Como afirmou Mário de Andrade, “a personalidade de Bach é mesmo tão fascinante que, por momentos, a gente se deixa levar por esse esplendor genialíssimo e meio que concebe que a polifonia não tem senão essa razão de ser: produzir a obra de Bach” (Andrade, 1980, p. 91). Homem dedicado à música e à igreja, Bach viajou pouco, mas percorreu duzentas e cinquenta milhas a pé, de Arnstadt à Lübeck, para ouvir os célebres concertos noturnos que Dietrich Buxtehude (1637-1707) – o mais famoso compositor e organista de seu tempo – dirigia durante os cinco domingos do Advento. Buxtehude, já idoso, ofereceu a Bach a possibilidade de sucedê-lo no cargo de organista da Igreja de Santa Maria. Bach, lisonjeado, teve que declinar da proposta, pois o cargo incluía, conforme o costume, o casamento dele com a filha – segundo consta desprovida de encantos – do velho mestre. A história não acaba aí. Menestréis e Trovadores Na volta a sua cidade, Bach teve que enfrentar o Conselho Municipal, pois havia recebido licença para ausentar-se por quatro semanas, mas como relata Marcel: imaginação do público e alimentando o desejo de viajar até mundos exóticos, cheios de sabores, odores, enfim, de toda uma diversidade cultural. Como exemplo de óperas que acontecem em países distantes, podemos citar: • A ópera Carmen, do francês Georges Bizet (1838-1875), que se passa em Sevilha, na Espanha. • A ópera Fosca, de Carlos Gomes (1836-1896), que se passa no Litoral da Ístria, na Croácia e em Veneza, na Itália. • A ópera Madame Butterfly, do compositor italiano Giacomo Puccini (1858-1924), que se passa em Nagasaki, no Japão. Interessante é o caso do compositor italiano Giuseppe Verdi (1813-1901), um dos mais profícuos e respeitados compositores de todos os tempos, ele escreveu um número surpreendente de óperas e vejamos as viagens que ele imaginou no quadro a seguir: Cartaz promocional da Ópera de Três Vinténs, de Kurt Weill, apresentada em Brasília em 2009. Quadro 1: Ambientação das óperas de Giuseppe Verdi (...) haviam se passado quatro meses! Podemos imaginar o descontentamento do Consistório. As coisas se deterioram ainda mais depressa porque, no intervalo, Johann Sebastian subverteu seu estilo. Valendo-se do que ouviu em Lübeck, ele improvisa livremente entre as estrofes, introduz em seus acompanhamentos contrapontos imprevisíveis, modula com tanta audácia que a Congregação perde a cabeça. (Marcel, 1990, p. 33) Seu castigo foi ficar alguns dias na cadeia. Mas estava feliz, sua viagem havia tido um êxito maior: ele havia estado com Buxtehude. A música de Bach tem muito do que ele aprendeu com a obra do velho mestre. Um exemplo: a Toccata e Fuga em ré menor. AS “VIAGENS” E A ÓPERA Johann Sebastian Bach *Eisenach 21/03/1685 +Leipzig 28/07/1750 98 Como relata Tame: “Os grandes compositores do passado haviam composto pensando na elevação espiritual dos seus semelhantes. (...) O ouvinte teve sua atenção atraída pela ‘nova música’ em níveis que não eram espirituais, senão apenas mentais, emocio- nais, e, é claro, até físicos” (Tame, 1993, p. 83). Na ópera, a história – quase sempre um drama – contada através da música, incentiva a imaginação dos libretistas e dos compositores e os faz optar por caminhos distantes, por países pouco conhecidos, provocando a Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 96-106, 2011. ÓPERA AMBIENTAÇÃO Rei por um dia Nabuco Os Lombardos Ernani Os Dois Foscari Joana d’Arc Átila Macbeth O Corsário A Batalha de Legnano Luisa Miller Rigoletto O Trovador La Traviatta As Vésperas Sicilianas Aroldo Simon Boccanegra Um Baile de Máscaras A Força do Destino Don Carlos Aída Otelo Falstaff Bretanha Jerusalém e Babilônia Milão/ Antioquia/ Jerusalém Espanha Veneza França Itália Escócia Ilha do Egeu e Corona Como e Milão Tirol Mântua Biscaia e Aragão Paris Sicília Inglaterra e Escócia Gênova e arredores Boston* Espanha e Itália França e Espanha Mênfis e Tebas Porto Cipriota Windsor Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 96-106, 2011. 99 As óperas de Verdi continuam até hoje sendo as mais representadas do repertório internacional. Carpeaux recorda que “a repercussão da arte de Verdi transformou novamente Milão em grande centro musical. Casas editoras como Ricordi e Sonzogno dominavam o ‘mercado’ operístico. Companhias italianas percorreram o mundo inteiro” (Carpeaux, 1977, p. 235). Verdi, nascido na pequena aldeia de Le Roncole, filho de um estalajadeiro, tendo tido apenas educação rudimentar, mais que qualquer outro compositor soube inspirar os dramas musicais por todo o globo terrestre. VIAGENS FASCINANTES Muitos compositores buscaram sua inspiração em viagens realizadas ou apenas imaginadas, que serviram para fascinar a audiência. Exemplos interessantes: • Maurice Ravel (1875-1937), compositor francês, que com seu famoso Bolero evoca a Espanha. • Antonín Dvorack (1841-1904), compositor tcheco, que com a Sinfonia Novo Mundo evoca os Estados Unidos e a música do jazz. • Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), compositor vienense, que evoca em uma de suas sonatas para piano o oriente com sua famosa Marcha Turca. • Heitor Villa-Lobos (1887-1959), que com suas Bachianas Brasileiras presta uma homenagem à grande tradição musical germânica, representada por um de seus expoentes máximos: Bach. Analisando estas “viagens” através de uma perspectiva política podemos compreender os compositores como promotores do entendimento internacional, da boa vontade e da paz. Essa perspectiva reconhece a importância destas “viagens” como meio para o estabelecimento e a melhoria das relações políticas com outros países, como meio que favorece os contatos que possibilitam o entendimento entre povos e culturas. VIAGENS PARA ALÉM DESTE MUNDO Geralmente, as viagens que os músicos empreenderam ou sonharam estão restritas ao mapa mundi. Entretanto, alguns desses seres dotados de uma imaginação que transcende os limites do possível e do palpável, empreenderam viagens para além do mundo possível, ao menos em suas épocas. Gustav Holst (1874-1934), compositor britânico de ascendência sueca, empreendeu uma viagem para além da gravidade da Terra. Em Os Planetas, suíte para orquestra em sete movimentos, Holst retrata a natureza astrológica de cada um dos planetas do sistema solar: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Alguns compositores viajam dentro do universo de seus próprios países e nos informam pelo texto – nem sempre compreendido pelos ouvintes – e, principalmente, pelas características rítmicas, melódicas e harmônicas um pouco de suas culturas, de suas vivências, enfim, da vida de seu povo. Os exemplos são muitos, citamos, a seguir, alguns deles: • Franz Schubert (1797-1828), no ciclo Viagem de Inverno (Die Winterreise – 1827). Depois de rejeitado pela mulher que amava, o jovem abandona o lar para vagar pelos gélidos e desolados campos invernais, refletindo sobre seu infortúnio, seu amor perdido e seu futuro. • Zoltán Kodaly (1882-1967) e Béla Bartók (1881-1945), ambos compositores húngaros, e Igor Stravinsky (1882-1971), compositor russo, foram compositores contemporâneos de Villa-Lobos que, como Villa, podem ser considerados nacionalistas. Viajaram por seus países recolhendo canções, ritmos, observando os sons da natureza, características modais das escalas utilizadas pela música étnica e depois as transformaram em obras eruditas que revelaram ao mundo um pouco deste universo até então restrito. • Antonio Carlos Gomes (1836-1896), nascido em Campinas, filho de um mestre de banda e compositor com quem aprendeu a tocar diversos instrumentos e que protegido pelo Imperador Pedro II ganhou uma bolsa para estudar na Itália. Seu primeiro – e talvez maior – sucesso foi a ópera Il Guarany, estreada no Teatro La Scala, em 1870, baseado no livro de José de Alencar e, além do estilo grandioso da ópera, suas canções, entre as quais a delicada Quem sabe?, demonstram seu apego à Pátria. • Villa-Lobos, nascido no Rio de Janeiro, filho de um funcionário da Biblioteca Nacional, com seu Trenzinho Caipira, com suas Cirandas, com seus Choros, com sua Floresta Amazônica, com o seu Mandu Çarará. • Francisco Mignone (1897- 1986), nascido em São Paulo, com suas Valsas de Esquina, com sua Congada, ou com a ópera O contratador de diamantes. • Frutuoso Viana (1896-1976), nascido em Minas Gerais, com sua Dança de Negros, que resgata a influência do escravo negro nos sons e na cultura do Brasil. Marte, aquele que traz a guerra; Vênus, aquela que traz a paz; Mercúrio, o mensageiro alado; Júpiter, aquele que traz a alegria; Saturno, aquele que traz a velhice; Urano, o feiticeiro; Netuno, o místico. Esta música de outro mundo apaga-se aos poucos, vai sumindo progressivamente depois que um coral – que canta sons sem palavras – se junta à orquestra. Claude Debussy (1862-1918), compositor francês, contempla o lazer e o descanso em seu poema sinfônico Prèlude à l’Après-Midi d’un Faune, inspirado em Mallarmé. Esta obra descreve um fauno dormitando ao sol quente da tarde e seus sonhos eróticos a respeito de ninfas. Mozart, o menino prodígio que desde criança viajava constantemente por toda a Europa, em sua ópera A Flauta Mágica (Die Zauberflöte), de 1791 com forte inspiração maçônica, viaja até o reino da Rainha da Noite. Com forte caracterização psicológica, esta ópera nos transporta para uma síntese de todo o universo da música. 100 VIAGENS PELA PÁTRIA Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 96-106, 2011. Heitor Villa-Lobos *Rio de Janeiro 06/03/1887 +Rio de Janeiro 17/11/1959 Outro exemplo, digno de destaque é o de Frédéric Chopin (1810-1849), compositor e pianista polonês que viajando em tournée pela Europa, recebeu a notícia de que os russos haviam ocupado Varsóvia. Instalou-se em Paris e nunca retornou a Polônia. Carpeaux conclui que “a simpatia geral da Europa toda, hostil ao czarismo russo, para com os refugiados poloneses, essa ‘polonofilia’ dos anos de 1830 facilitou a entrada de Chopin para o mundo ocidental” (Carpeaux, 1977, p. 173). Chopin, ficou famoso como virtuose romântico que sofria de tuberculose e suas peças “polonesas” (Poloneses) serviram de influência para os futuros compositores nacionalistas. Chopin morreu aos 39 anos, seu corpo foi enterrado em Paris, mas seu coração, em uma urna de prata, fez a viagem de regresso para Polônia, onde permaneceu para sempre. Os hinos e canções patrióticos nos remetem a nossa terra de nascimento, ou àquelas terras que de alguma forma fazem ou fizeram parte de nossa história pessoal, como a terra dos ancestrais, a terra que visitamos ou que sonhamos visitar. Citamos, a seguir, alguns exemplos interessantes, mas recordamos que praticamente todos os povos costumam ter uma ligação muito especial com seus hinos e canções patrióticas: Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 96-106, 2011. 101 • A Marselhesa (La Marseillaise, 1792) de Rouget de Lisle, foi composta na época da Revolução Francesa e tornou-se o hino nacional francês. • O Hino do Imperador (1797), hino nacional austríaco, capaz de ser favoravelmente comparado ao hino britânico (God Save the King), musicado por Haydn e que passou a ser o hino nacional alemão, Deutschland über Alles, depois da anexação da Áustria pelo Reich hitleriano (Isaacs; Martin, 1985, p. 173). VIAGENS DE ESTRANGEIROS PELO BRASIL Os músicos brasileiros no período colonial recebiam orientação de mestres portugueses, de músicos locais que haviam recebido lições de mestres portugueses, de algum viajante europeu ou, então, iam para Portugal desenvolver seus talentos. Os músicos portugueses, por sua vez, viajavam para a Alemanha, considerada a terra dos maiores mestres da música. Podemos, então, afirmar que nossa tradição musical vem dos mestres alemães e misturou-se aos sabores da música do índio, do negro, dos vários estrangeiros que estiveram pelo Brasil – como os holandeses no Nordeste e os espanhóis mais ao sul. Entre os estrangeiros que visitaram nossa terra e que depois transformaram em música suas impressões cabe destacar: • Louis Moreau Gottschalk (1828-1869), compositor e pianista norteamericano que passou alguns anos de sua vida na América do Sul, realizando numerosos concertos no Brasil e que compôs a Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro (1869), que se tornou a peça de resistência de inúmeros pianistas brasileiros, especialmente depois de imortalizada pela grande pianista Guiomar Novaes. • Darius Milhaud (1892-1974), compositor francês que viveu no Brasil como membro do corpo diplomático e que compôs Saudades do Brasil (1921-22), duas suítes para piano, onde usa os nomes de bairros do Rio de Janeiro, uma recordação de sua estada nesta cidade. Em sua obra, Milhaud utiliza, também, fragmentos de O corta jaca, da compositora carioca Chiquinha Gonzaga (1847-1935), uma das primeiras mulheres musicistas brasileiras. VIAGENS PELO MUNDO DO JAZZ VIAGENS PELO FOLCLORE DO BRASIL O folclore integra a vida cotidiana e é feito por pessoas comuns. As canções folclóricas, transmitidas de geração para geração, normalmente não escritas, sempre foram alvo de atenção dos viajantes e, em muitos casos, buscado pelos músicos e musicólogos como fonte de conhecimento antropológico e de inspiração para obras mais nacionalistas. No Brasil, a busca pelo folclore, especialmente na música, provocou muitas viagens pelos recantos muitas vezes longínquos e de difícil acesso. Mário de Andrade (1893-1945), que compôs uma única canção – A viola quebrada – pesquisou a fundo as tradições musicais do Brasil. Viajou por todo o país e escreveu livros falando da música de feitiçaria no Brasil, de música e medicina, de danças dramáticas no Brasil etc. Heitor Villa-Lobos foi outro artista interessado em conhecer seu país e a música de seu país. Quando jovem, vendeu uma biblioteca que herdou do pai e viajou por todo o Brasil. Conta a lenda que sua mãe, após um longo período sem notícias do filho, chegou a mandar rezar uma missa por sua alma, considerando que ele estivesse morto. Ela estava enganada, algum tempo depois, Villa-Lobos chega em casa são e salvo, cheio de novas histórias, melodias, ritmos e entusiasmo pelo país. Ainda sobre Villa-Lobos, conta-se que na França, quando já aclamado pela crítica e despertando o interesse da imprensa – afinal era um músico do longínquo e pouco conhecido Brasil –, Villa-Lobos deu uma entrevista em que contava como quase foi Mário de Andrade devorado por tribos canibais no interior da selva. *São Paulo 9/10/1893 Histórias que ele inventava, que aumentavam seu +São Paulo 25/02/1945 marketing pessoal e que ajudavam a reforçar estereótipos que ainda hoje existem com relação ao nosso país. O mundo inteiro reconhece em Villa-Lobos a figura do grande gênio musical brasileiro que, de certa maneira, sinfonizou o nosso folclore e incorporou em suas obras alguns elementos bem característicos do Brasil como os cantos de tribos indígenas, os ritmos com forte influência da cultura negra africana, as melodias com o sabor da melancolia da herança portuguesa etc. Tame relata que: (...) por volta de 1835, negros se reuniam em Nova Orleãs para cantar e praticar atos de vodu, incluindo o sacrifício sangrento de animais. Musicólogos e historiadores não têm dúvidas de que os ritmos de tambores da África foram transportados para a América e ali transmitidos e traduzidos no estilo de música que veio a ser conhecido como jazz. Visto que o jazz e o blues foram os pais do rock and roll, isso também significa que existe uma linha de descendência direta entre as cerimônias do vodu africano, através do jazz, e do rock and roll e todas as outras formas de música de rock hoje existentes (Tame, 1993, p. 205). O jazz é familiar aos americanos desde a infância e constitui parte do folclore norte-americano. Segundo Carpeaux (1977), o compositor George Gershwin (1898-1937) afirmava que o jazz era o verdadeiro folclore americano, que não pode ser procurado na música rudimentar indígena. Gershwin empregou os instrumentos e os ritmos do jazz em sua Rhapsody in Blue, de 1924, atingindo grande sucesso mundial. O jazz ganhou as salas de concerto e trouxe novos ares à improvisação e liberdade composicional. Permitiu a elevação da manifestação dos oprimidos e teve seu desdobramento em manifestações como o rock and roll e a música punk. Incorporou timbres de vozes e instrumentos pouco valorizados no passado elevando-os à categoria de sucessos mundiais, às vezes provocando a liberação dos instintos dos jovens, às vezes a disseminação do american way of life. 102 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 96-106, 2011. VIAGENS PELO UNIVERSO DA MÚSICA POPULAR A música popular também nos traz lembranças de muitas viagens, e é apoiada, quase sempre, pela letra, com texto simples, curto – tal como a própria música –, mas capaz de provocar poderosas emoções e transportar com mais velocidade, para mais distante e com mais eficiência que qualquer outro meio de transporte, para uma grande viagem, especialmente quando ela chega a ser veiculada massivamente e a integrar filmes, videoclipes, novelas etc. São milhares os exemplos de canções do universo popular que nos remetem imediatamente a uma ambientação característica de um outro país. Entre os exemplos, apenas para elucidar o fato, recordamos os seguintes títulos: • Sukiaki (Japão); • Hava naguila (Israel); • Don’t cry for me Argentina; • Arrivederti Roma. E a marca brasileira? Basta um toque de berimbau para nos sentirmos ambientados no Brasil. Entre o universo infindável de canções brasileiras, podemos lembrar a título de exemplo os seguintes títulos: • Ronda, de Paulo Vanzolini; • Maringá, de Joubert de Carvalho; Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 96-106, 2011. 103 • • • • • • • Asa Branca, de Luiz Gonzaga O que é que a baiana tem e a genial interprete Carmem Miranda; Cidade Maravilhosa, de André Filho; Valsa de uma Cidade, de Ismael Netto e Antonio Maria; Moro num país tropical, de Wilson Simonal; Garota de Ipanema, de Tom Jobin e Vinícius de Morais; Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. New York, New York Canção tema do filme de Martin Scorsese, interpretada por Liza Minnelli. CONCLUINDO PELAS VIAGENS E A MÚSICA DE SUA CIDADE No século XXI a música está em toda a parte, é ouvida com atenção e quase venerada em grandes salas de concerto e espetáculos, é escolhida livremente e sem qualquer reverência pelas facilidades da reprodutibilidade técnica, presentes nas casas, no trabalho, no carro, nos computadores pessoais e é usada como recurso de convencimento, muitas vezes subliminar, nas propagandas de rádio, TV, cinema etc. Segundo Tame: Pouca gente no mundo moderno deixa de ouvir certo número de horas de música por dia. Na verdade, a maior parte dela não é sequer ‘ouvida’; apesar disso, até a música de fundo, de que a nossa mente consciente não toma conhecimento, nos afeta do mesmo modo o ritmo cardíaco e as emoções. (Tame, 1993, p. 28) 104 Tom Jobim *Rio de Janeiro 25/01/1927 +Nova Iorque 08/12/1994 e valorização do patrimônio musical de um espaço geográfico podem ser um contributo aos atrativos turísticos de uma região, podem ser a marca e o orgulho de uma comunidade, podem inspirar sentimentos de cidadania e melhoria na qualidade de vida de um povo. Podem nos fazer valorizar pequenas coisas como um pássaro, um pequeno sabiá, como na canção de Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda que diz: “vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar um sabiá.” Viagens possíveis, imaginárias, descritivas, completamente fantasiosas... Milton Nascimento pode nos levar por um caminho em sua canção Encontros e desencontros e Chico Buarque para outro em Paratodos, quando diz em seus versos: “O meu pai era paulista/ meu avô pernambucano/ o meu bisavô, mineiro/ meu tataravô, baiano/ meu maestro soberano/ foi Antonio Brasileiro” e, ainda, Ary Barroso pode nos fazer pensar no lirismo de nossa terra quando diz na Aquarela do Brasil: “Deixa cantar de novo o trovador, à merencória luz da lua, toda a canção do meu amor. Oi, esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro.” A música em suas diversas manifestações – do erudito ao popular e ao folclórico – apresenta e estimula o universo das viagens, utilizando recursos próprios de sua linguagem que evoca, sobretudo, o sentido humano da audição para provocar a sensação de pertencimento, que pode conduzir à noção de identidade e pertencimento do ser humano e de seu grupo. Neste século, carregado de facilidades de deslocamento, de meios potentes de informação e de pragmatismo constante, os intérpretes são alguns dos viajantes que estão sempre em movimento. Sua busca principal, além de aumentarem suas riquezas pessoais, é a de levar sons e emoções para o público. Magdalena Tagliaferro (1894-1986), brasileira, uma das maiores pianistas que o mundo conheceu costumava relatar ao ser interpelada sobre suas viagens: “Não me perguntem em quais países já toquei, perguntem em quais ainda não toquei” (Leite, 2001, p. 74). Ela costumava contar nos dedos de uma mão quais eram esses países. Hoje em dia, com as facilidades de locomoção e divulgação, grandes artistas, orquestras inteiras, bandas de música pop, viajam por todo o mundo o tempo todo. Ao menos uma vez por ano podemos acompanhar os pianistas Nelson Freire, Martha Argerich, os maestros Kurt Mazur e Zubin Mehta, algum dos três tenores, viajando pelos céus em direção ao Brasil, bem como os mega-stars da música popular. Cantando em prosa e verso, os músicos fazem o marketing de um lugar e podem estimular o lazer e a motivação para as viagens. O mesmo acontece com as melodias e harmonias de obras características de um determinado país ou região. Talvez um trabalho importante a ser desenvolvido seja o de preparar o roteiro musical de cada cidade brasileira. As letras das músicas podem ser um excelente material para trabalhar com alunos em sala de aula. Talvez na música popular esteja o campo em que mais se pensa o que é ser de algum lugar. A conscientização Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 96-106, 2011. Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 96-106, 2011. 105 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANDRADE, Mário de. Pequena história da música. 9. ed. São Paulo: Martins, 1980. CARPEAUX, Otto Maria. Uma nova história da música. 4. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Alhambra, 1977. DUMAZEDIER, Joffre. Sociologia empírica do lazer. São Paulo: Perspectiva, 1999. ISAACS, Alan; MARTIN, Elizabeth. Dicionário de música. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do turismo: para uma nova compreensão do lazer e das viagens. São Paulo: Aleph, 2000. LEITE, Édson. Magdalena Tagliaferro: testemunha de seu tempo. São Paulo: Annablume; FAPESP, 2001. MARCEL, Luc-André. Bach. São Paulo: Martins Fontes, 1990. TAME, David. O poder oculto da música. 9. ed. São Paulo: Cultrix, 1993. TRANCHEFORT, François-René (Org.). Guia da música sinfônica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. URRY, John. O olhar do turista: lazer e viagens nas sociedades contemporâneas. 3. ed. São Paulo: SESC; Studio Nobel, 2001. Recebido em: 20 de Agosto de 2011 106 Aprovado para publicação em 17 de Novembro de 2011 Poéticas Visuais, Bauru, v. 2, n. 1, p. 96-106, 2011.