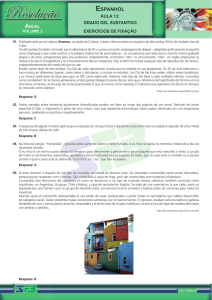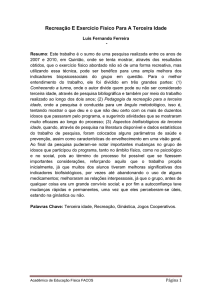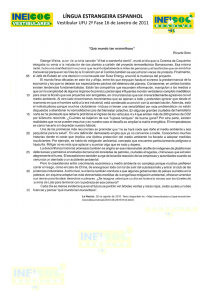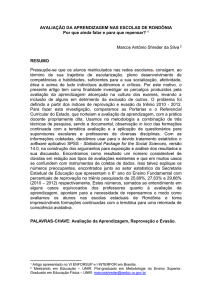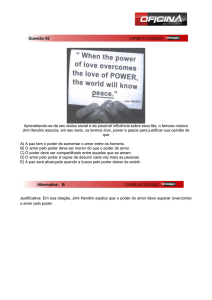revista
Anuncio

Revista USCS Direito REVISTA Universidade Municipal de São Caetano do Sul - Ano X - n. 17 - jul./dez. 2009 - ISSN 1518-594X Arbitraje de inversión y America Latina Francisco González de Cossío Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? Taís Nader Marta e Henata Mariana de Oliveira Mazzoni O desacordo moral razoável na sociedade plural do estado democrático de direito Joana Teixeira de Mello Freitas Ano X - n. 17 - jul./dez. 2009 Desconsideração da pessoa jurídica: uma análise sob três perspectivas Zilda Mara Consalter e Vinicius Dalazoana A relação entre dignidade humana e interesse público Zuenir de Oliveira Neves Contratos internacionais de seguro marítimo de mercadorias: uma análise comparativa entre a legislação brasileira e a inglesa José Carlos de Carvalho Filho El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos Dora García Fernández Ius cogens Eber Betanzos Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia Dora Elvira García Conceito de minorias e discriminação Jamile Coelho Moreno A nova pirâmide jurídica: a prisão do depositário infiel vista pelo STF Carlos João Eduardo Senger e Wallace C. Dias Exegese sobre a “relativização” da coisa julgada: o que há por trás desta tendência? José Nadim de Lazari e Gelson Amaro de Souza A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade Thiago Felipe S. Avanci RESENHA Da estrutura à função: novos estudos da teoria do direito João Otávio Benevides Demasi xcapadireito17.pmd 1 7/4/2010, 12:18 A Ratio do tipo Penal Ambiental e os Fundamentos da Constituição da República... REVISTA Antonio Celso Baeta Minhoto Coordenador Editorial ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 I II Revista USCS – Direito – ano X - n. 16 – jan./jun. 2009 Revista USCS Direito Uma publicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul Ano X – n. 17 - jul./dez. 2009 Reitor Silvio Augusto Minciotti Nilson Tadeu Reis Campos Silva (UEM, Maringá, Brasil) Pró-Reitores José Turíbio de Oliveira (Graduação) Pedro Correia Gonçalves (Universidade Católica de Lisboa, Lisboa, Portugal) Eduardo de Camargo Oliva (Pós-Graduação e Pesquisa) Sérgio Tibiriçá Amaral (UNITOLEDO, Presidente Prudente, Brasil) Joaquim Celso Freire Silva (Extensão) Marcos Sidnei Bassi (Administrativo e Financeiro) Denis Donaire (Educação à Distância) Coordenador Editorial Antonio Celso Baeta Minhoto Conselho Editorial Alessandro Arthur Ramozzi Chiarottino (USCS, São Caetano do Sul, Brasil) Antonio Celso Baeta Minhoto (USCS, São Caetano do Sul, Brasil) Tercio Sampaio Ferraz Junior (USP, São Paulo, Brasil) Vander Ferreira de Andrade (USCS, São Caetano do Sul, Brasil) Conselho Técnico Professores do Curso de Direito Coordenador do Curso de Direito Vander Ferreira de Andrade Gestor da Comissão de Publicações Acadêmicas Marcos Antonio Gaspar Dora García Fernández (Universidade Anahuac, México) Jornalista Responsável Roberto Elísio dos Santos MTb 15.637 Emílio Suñe Llinás (Universidade Complutense de Madri, Espanha) Revisão Páginas & Letras Editora e Gráfica José Maria Trepat Cases (USP, São Paulo, Brasil) José Reinaldo de Lima Lopes (USP, São Paulo, Brasil) Juan Pablo Pampillo Baliño (Escuela Libre de Derecho, México) Miguel Reale Junior (USP, São Paulo, Brasil) Produção e Impressão Gráfica Páginas & Letras Editora e Gráfica Ltda. Tiragem 500 exemplares Revista USCS Direito Av. Goiás, 3.400 São Caetano do Sul - SP - Brasil Tel. (11) 4239-3259 Fax: (11) 4239-3216 E-mail: [email protected] A USCS, em suas revistas, respeita a liberdade intelectual dos autores, publica integralmente os originais que lhe são entregues, sem, com isso, concordar, necessariamente, com as opiniões expressas. A Ratio do tipo Penal Ambiental e os Fundamentos da Constituição da República... III NOTA DA COORDENAÇÃO EDITORIAL A presente edição da Revista de Direito da Universidade Municipal de São Caetano do Sul será a última na modalidade impressa. Buscando um alinhamento com as práticas e os procedimentos mais atuais, a Coordenação, num trabalho conjunto envolvendo a gestão do curso e a Reitoria da Universidade, decidiu por bem veicular a revista em foco exclusivamente por meio eletrônico. Na próxima chamada de artigos (call of papers), procurar-se-á inserir as informações necessárias para que os autores e o público em geral possam acessar o endereço eletrônico da revista e, assim, viabilizar a submissão de seus artigos. A linha editorial foi mantida, havendo sempre uma atenção especial com a interdisciplinaridade e também com a transdisciplinaridade, o que, de acordo com esta Coordenação Editorial, enriquece as pesquisas dentro do universo jurídico e possibilita um debate mais extenso no âmbito do Direito que, sabidamente, enfrenta desafios contemporâneos cada vez mais amplos e profundos. Outro aspecto a ser mantido, uma característica da revista, é a busca pela divulgação de pesquisas de todas as partes do Brasil e também do exterior. Visões diferenciadas, muitas vezes acerca de um mesmo tema ou de temas semelhantes, conduzem a um tratamento igualmente mais abrangente dos assuntos estudados, o que parece ser um interessante benefício do ponto de vista científico. Para este número, com expressiva contribuição de vários autores, brasileiros e estrangeiros, constata-se a abordagem de muitos temas de interesse permanente para a área do Direito. Arbitragem, assassinos em série, dignidade humana e biodiversidade são algumas das questões abordadas nesta edição. Espera-se que os leitores aproveitem as reflexões de alto nível proporcionadas pelos artigos dos colaboradores aqui presentes, a quem se oferta um especial agradecimento. Coordenação Editorial IV Revista USCS – Direito – ano X - n. 16 – jan./jun. 2009 V A Ratio do tipo Penal Ambiental e os Fundamentos da Constituição da República... SUMÁRIO 1. Arbitraje de inversión y America Latina Investment arbitration and Latin America Francisco González de Cossío ........................................................... 7 2. Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? Serial killers: a legal or psychological matter? Taís Nader Marta e Henata Mariana de Oliveira Mazzoni .................... 21 3. O desacordo moral razoável na sociedade plural do estado democrático de direito The moral reasonable disagreement in plural society of the democratic state Joana Teixeira de Mello Freitas .......................................................... 39 4. Desconsideração da pessoa jurídica: uma análise sob três perspectivas Disregard of legal entity: an analysis under three perspectives Zilda Mara Consalter e Vinicius Dalazoana ........................................ 53 5. A relação entre dignidade humana e interesse público The relationship between human dignity and public interest Zuenir de Oliveira Neves ..................................................................... 67 6. Contratos internacionais de seguro marítimo de mercadorias: uma análise comparativa entre a legislação brasileira e a inglesa International marine insurance contracts of goods: a comparative analysis between english and brazilian legislation José Carlos de Carvalho Filho ............................................................ 77 7. El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos The human embryo or nasciturus as subject of rights Dora García Fernández ....................................................................... 91 8. Ius cogens Ius cogens Eber Betanzos ................................................................................... 109 VI Revista USCS – Direito – ano X - n. 16 – jan./jun. 2009 9. Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia Overpassing minimum moral principles in human rights: exclusion and justice Dora Elvira García ............................................................................. 117 10. Conceito de minorias e discriminação Concept of minorities and discrimination Concepto de las minorías y la discriminación Jamile Coelho Moreno ....................................................................... 141 11. A nova pirâmide jurídica: a prisão do depositário infiel vista pelo STF The new juridical pyramid: the unfaithful trustee prison on the STF view Carlos João Eduardo Senger e Wallace C. Dias ............................... 157 12. Exegese sobre a “relativização” da coisa julgada: o que há por trás desta tendência? Exegesis about the “relativization” of res judicata: what’s behind this tendency? José Nadim de Lazari e Gelson Amaro de Souza ............................. 171 13. A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade The environmental legal reserve as a tool on effective protection of biodiversity Thiago Felipe S. Avanci .................................................................... 187 RESENHA Da estrutura à função: novos estudos da teoria do direito From structure to function: new studies of the theory of law João Otávio Benevides Demasi ........................................................ 211 7 Arbitraje de inversión y America Latina 1 Arbitraje de inversión y America Latina Investment arbitration and Latin America FRANCISCO GONZÁLEZ DE COSSÍO GONZÁLEZ COSSÍO ABOGADOS, S.C. (www.gdca.com.mx) Árbitro y abogado en casos nacionales e internacionales. Profesor de Arbitraje, Arbitraje de Inversión y Arbitraje Deportivo, Universidad Iberoamericana y Escuela Libre de Derecho. Anterior Coordinador del Comité de Arbitraje de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Representante alterno de México ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Miembro del INSTITUTO MEXICANO DEL ARBITRAJE, LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION, INTERNATIONAL ARBITRATION INSTITUTE y el Comité de Arbitraje y Solución de Controversias del Artículo 2022 del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.Árbitro del Tribunal Arbitral du Sport, Lausanne, Suiza. E-mail para correspondência: [email protected]. DE ABSTRACT From a corner of international law hails a discipline which has historically caused mischief: international investment law. The last few decades have witnessed an interesting development: the channeling of disputes stemming there from through a private dispute resolution mechanism: arbitration. Albeit successful in other realms, its luck in Latin American is still an open question. And as history would have it, the (incipient) Latin American flavor is becoming a matter of concern. This paper comments on it, providing insight as to the right course of action and the implications of failing to follow it. Keywords: arbitration, international law, investment disputes. 8 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 1. INTRODUCCIÓN1 El humano produce muchas cosas. Produce arte. Produce música. Produce cultura. Produce historia. Produce inventos y objetos para satisfacer sus necesidades. En general, produce bienes y, lamentablemente, también males. Una de sus producciones más importantes son las ideas. El motivo es doble; uno filosófico y uno práctico. Primero, al hacerlo, responde a sus inquietudes más profundas. Segundo, busca soluciones a problemas que enfrenta. La importancia de esta producción no debe subestimarse. Las ideas han mostrado ser las fuerzas más importantes de la historia de la humanidad. El arbitraje de inversión es una idea –y del género práctico. Busca resolver los problemas derivados del flujo internacional de activos, los cuales han mostrado ser serios. Sin embargo, la idea tiene detractores. No sólo eso, tiene implicaciones importantes para América Latina. A continuación se tratarán. 2. EL ARBITRAJE COMO MÉTODO PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DE INVERSIÓN A. ¿Porqué el arbitraje? No es claro que el arbitraje sea la solución apropiada para resolver los problemas que derivan de la inversión internacional. Tres motivos vienen a la mente. Primero, constituye un acto de delegación en manos de particulares de la solución de problemas que involucran a soberanos. Segundo, por su historia. El fenómeno ha propiciado explotación, intervenciones, uso de la fuerza, presión diplomática y política. Y la historia quiere repetirse. Tercero, los temas ventilados tienen implicaciones públicas. Al ventilar la legalidad de actos de entes públicos se afecta una sociedad. Ante ello, la utilización de un mecanismo in natura privado levanta cejas. No debe. El motivo es triple: 1. La ausencia de una alternativa; 2. Es un contrapeso jurídico –no político– de actos gubernamentales; 3. Su ausencia resultaría en: a) Impunidad; b) Escenarios perder-perder; y c) Presión política y diplomática. Explicaré porqué. 1 Esta nota se nutre de GONZÁLEZ DE COSSÍO, F. Arbitraje de Inversión, Ed. Porrúa, México, D.F., 2009. Arbitraje de inversión y America Latina 9 B. Ausencia de alternativa La plausibilidad de la disciplina obedece al counterfactual. Sin la misma, existe un universo importante de problemas que no encontrarían una solución jurídica, sino política. Y la historia muestra que las soluciones políticas han tendido a ser desafortunadas, en ocasiones bélicas. Pero inclusive sin llegar a extremos, en ausencia de un cause jurídico, la única opción sería intervencionismo, presiones diplomáticas y menos flujos internacionales.2 Un resultado en el que todos pierden. Existe cierto paralelismo entre el derecho humanitario internacional y el derecho de la inversión. No sólo porque ambos son excepciones en que otorgan derecho de acción internacional a entes privados,3 sino por que ambos encuentran su raison d’être en una (lamentable) circunstancia: el uso incorrecto del poder público. Por ello, el arbitraje es un contrapeso internacional al poder. Sin el mismo no existirían desincentivos contra cierto tipo de conducta que la historia muestra que tiende a suceder. Su ausencia dejaría un vacío: cierto tipo de delitos internacionales quedarían impunes. Es cierto que éstas preocupaciones no carecen de respuesta. Podría por ejemplo citarse la disponibilidad de una reclamación ante la Corte Internacional de Justicia. A su vez, la política y presión internacional ofrecen una alternativa realpolitik. Sin embargo, son insuficientes. El recurso ante la Corte Internacional de Justicia requiere de consentimiento, el cual el Estado anfitrión puede simplemente negar –¡y sin reproche alguno! Y la alternativa fáctica (diplomacia) tiende a no ser adecuada. Sea por que el inversionista carezca de la suficiente influencia con su Estado como para persuadirlo de llevarla acabo,4 o no se realice con la forma, energía o diligencia que el inversionista hubiera preferido. O por que se a efectuada por motivos distintos a los méritos del caso. Es decir, con la finalidad de lograr otros fines. Y ello sin olvidar que, si bien el Estado de origen podría bajo derecho internacional consuetudinario enderezar una reclamación internacional, lo cierto es que no tienen que hacerlo.5 Luego entonces, por técnica jurídica, es necesario que sea el interesado quien pueda recurrir. 2 Admito que el nexo régimen de inversión-existencia de la inversión aún es discutido por economistas. Tradicionalmente, bajo derecho internacional sólo los Estados y organismos internacionales tienen derecho de acción. Las personas (físicas o morales) son destinatarios del mismo, como lo son los mares, espacio aéreo, el territorio, ríos, etcétera. 4 Los motivos de ello pueden ser diversos. Por ejemplo, mientras que los grupos de interés grandes tendrán fácil acceso, los pequeños no. A su vez, el Estado cuya nacionalidad comparte el inversionista puede ser renuente a querer friccionar su relación con el Estado receptor de la inversión. Etcétera. 5 Lo que es más, en ocasiones se han presentado reclamaciones internacionales por motivos que en verdad distan de tener en mente a la víctima de los actos recurridos. 3 10 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 C. Beneficios accesorios Existen además beneficios colaterales. Uno importante es la gradual mejora del trato in genere que las autoridades dan no sólo a inversionistas extranjeros, sino a la población en general.6 El motivo no sólo es la creciente existencia de inversión extranjera en diversas ramas, sino que es más fácil adoptar a nivel nacional prácticas profilácticas que siempre eliminen responsabilidad, que selectivamente tratar mejor a entidades con inversión foránea. Entendido lo anterior se observa cómo el derecho y arbitraje de inversión tiene una función ex ante, no sólo ex post. Y no debe menospreciarse, pues puede ser importante. La experiencia muestra que, sensibilizados de las implicaciones internacionales que cierta conducta gubernamental (estatal o municipal) puede tener, las autoridades proceden con más cuidado. Como resultado, la disciplina se constituye en un auténtico contrapeso de la utilización abusiva del poder público.7 Existen también beneficios desde la perspectiva estatal. Los Estados no sólo son importadores de capital; también exportan. Por ende, la disciplina es recíproca: obliga y protege. Obliga al Estado en tanto es destinatario de capital extranjero; y lo protege en tanto que es emisor del mismo. 3. EXPERIENCIA DE AMÉRICA LATINA CON EL ARBITRAJE DE INVERSIÓN A. El pasado: Doctrinas Calvo, Drago y Cárdenas Los problemas de inversión extranjera no son nuevos. Un episodio mexicano puede refrescar la memoria. Cuando en 1862 Juárez suspendió pagos de deuda extranjera, propició la furia de España, Francia e Inglaterra, cristalizando el Tratado de Londres, que propició la intervención de 1863. Dirk Raat lo describe así:8 Con las arcas vacías, Juárez se vio obligado a decretar una suspensión de pagos de deuda extranjera por dos año. … mientras tanto, España, Francia e Inglaterra 6 Lo que un experto ha denominado un “compliance pull”. (JAN PAULSSON. Enclaves of Justice, Transnational Dispute Management, June 2007, p. 12.) En sus palabras “…in Mexico … in the wake of NAFTA we are told that officials have developed the salutary instinct of avoiding conduct which might be criticized in an international forum: a direct case of compliance pull to the benefit not only of foreigners, but –perhaps more importantly– also to the benefit of local citizens. …”. 7 Lo anterior no debe propiciar la idea que los beneficios son sólo del lado del inversionista; y mucho menos que el Estado siempre es el ‘malo de la película’. La experiencia internacional muestra frecuentes instancias de abuso del inversionista. 8 DIRK RAAT, William, Mexico, from Independence to Revolution, 1810-1910, University of Nebraska, 1982, p. 146-148. Arbitraje de inversión y America Latina 11 acordaron “darle una lección a México”. Mediante el Tratado de Londres se comprometieron a intervenir para proteger sus intereses. En enero de 1863 el primer despacho desembarcó en Veracruz … bajo el comando del General Juan Prim. … El país fue ocupado por fuerzas extranjeras … [With the coffers empty, Juárez was forced to decree a two-year suspension of payments on foreign debts. … Meanwhile, Spain, France and England had agreed to “teach Mexico a lesson” by the Treaty of London undertook to intervene to project their interests. In January 1863 the first detachments landed at Veracruz … under the command of General Juan Prim. … The country was occupied with foreign forces …] Este tipo de actos se repitieron en países diversos de América latina. Ello produjo un choque no sólo de fuerzas, sino de ideas. Mientras que los extranjeros defendía que su inversión debía contar con un trato congruente con un estándar externo establecido por el derecho internacional, los Estados latinoamericanos insistían que sus propias leyes y constituciones, al garantizar tratamiento igualitario a los inversionistas extranjeros, satisfacían los requisitos del derecho internacional. Tres ideas brotaron la Doctrina Calvo, la Doctrina Drago y la Doctrina Cárdenas. América Latina dio tres respuestas al debate ideológico indicado. A continuación se resumirán. 1. Doctrina Calvo La Doctrina Calvo, que lleva el nombre de su padre, Carlos Calvo, Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina,9 se fundamenta en dos principios:10 (a) los Estados soberanos, estando libres y siendo independientes e iguales entre sí, gozan del derecho a estar libres de toda interferencia por parte de otros Estados, sea diplomática o por la fuerza; y (b) los extranjeros no pueden ser titulares de más derechos, privilegios o prerrogativas que aquéllos concedidos a nacionales, por lo que no pueden accionarse más que en tribunales y autoridades locales.11 De esta doctrina se derivó el instrumento que la implementa: la Cláusula Calvo, definida como “la renuncia voluntaria por un contratante particular a recurrir a la protección diplomática de su gobierno en cualquier causa 9 En su libro Le Droit International (Vol. 6, 5ª edición, 1885, p. 231), en donde dice que los extranjeros que se establezcan en un país cuentan con los mismos derechos de protección que los nacionales, pero no pueden solicitar protección adicional. 10 SHEA, DONALD R. The Calvo Clause, A Problem of Inter-American and International Law and Diplomacy, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1955, p. 19. 11 En Le droit international théorique et pratique, quinta edición, París, 1986. Citado por Shea, op. cit. p. 18. 12 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 relacionada con su contrato”. La Cláusula Calvo encontró eco en la legislación (constitucional y secundaria) en diversos países latinoamericanos. En el caso mexicano fue acogida en el artículo 2712 y vasta legislación secundaria.13 2. Doctrina Drago La Doctrina Drago lleva el nombre de su padre, el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago, quien, mediante nota dirigida el 29 de diciembre de 1902 al plenipotenciario argentino en Estados Unidos, Martín García Merou, condena la intervención anglo-italo-germana en Venezuela para el cobro de ciertas deudas contractuales y públicas no satisfechas, que dio origen a un bloqueo pacífico, hundimiento de una escuadra venezolana, bombardeo de puertos y otras medidas violentas.14 En su carta dice: …el cobro similar de los empréstitos supone la ocupación territorial; significa la supresión, o subordinación, de los gobiernos locales en los países a que se extiende […] contrariando visiblemente los principios […] proclamados por las naciones de América y muy particularmente la Doctrina Monroe, con tantos celos sostenida en tanto tiempo por Estado Unidos… El principio defendido: la deuda pública no justifica intervención armada.15 3. Doctrina Cárdenas El presidente mexicano Lázaro Cárdenas, en un discurso pronunciado el 10 de septiembre de 1938, formuló una doctrina jurídica que guarda relación con estos problemas, y que algunos sostienen que es una teoría jurídica más profunda 12 Fracción I del Artículo 27 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que dice “Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de fallar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud de lo mismo.” 13 Artículo 2º de la Ley Orgánica de la Fracción I del artículo 27 de la Constitución y artículos 2º y 4º de su Reglamento; artículo 3º de la abrogada Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y artículo 31 de su Reglamento; artículo 33 de la abrogada Ley de Nacionalidad y Naturalización; artículo 12 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; en la Ley de Instituciones de Fianzas; Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; y artículo 6º de la Ley de Pesca. 14 Dicha doctrina fue expuesta también ante el Congreso Panamericano y las Conferencias de la Haya en 1917. 15 QUEZADA, Ernesto. La Doctrina Drago, su esencia y concepto amplio y claro, Buenos Aires, 1919, p. 4. Arbitraje de inversión y America Latina 13 escrupulosa que la Calvo y la Drago.16 En su esencia, niega la extraterritorialidad de la ciudadanía y nacionalidad buscando simplemente suprimir de origen todas las controversias jurídicas y políticas que derivan de antaño precisamente por el efecto extraterritorial de uno y otro de ambos estatutos personales. Asevera que la ciudadanía y la nacionalidad son estatutos que deben ser territoriales, deben de carecer de extraterritorialidad. La persona (física o moral) que emigra a suelo extraño debe contar con las facilidades y garantías necesarias para adquirir el estatuto de la nacionalidad local, en absoluta similitud e igualdad con los derechos y obligaciones de los nacionales del país hospitalario.17 B. El presente En el presente, existen varios factores que acentúan la importancia del arbitraje de inversión en América Latina. 1. El marco legal El arbitraje en América Latina tiene un presente importante. Como lo hace ver van den Berg:18 En el arbitraje de inversión latinoamericano los números son impresionantes: de los más de 2,600 tratados bilaterales que existen actualmente, aproximadamente el 20% incluyen a un país de la región. Adicionalmente, diversos países han concluido o se encuentran negociando Tratados de Libre Comercio con capítulos sobre inversión (ej., el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA, por sus iniciales en inglés); Chile y Estados Unidos; Colombia y Estados Unidos). El ámbito interamericano muestra una rica pluralidad de instrumentos que aluden al arbitraje de inversión. Los resultados empiezan a verse. Mientras que Argentina tiene 48 casos, México tiene 18, Ecuador 14 y Venezuela 9. A su vez, Bolivia, Perú, Costa Rica y Chile están involucrados en ello.19 2. El Nacionalismo y el arbitraje de inversión Una de las cosas más importantes que hace una ideología es proveer un sentimiento de quienes somos, para luego darnos orgullo de ello. Al hacerlo se 16 MENDOZA, Salvador. La Doctrina de Cárdenas, antecedentes y comentarios, Ediciones Botas, México, 1939, p. 29. 17 Ibid, p. 43. 18 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. Arbitraje de Inversión, Ed. Porrúa, México, D.F., 2009, p. vii. 19 Ver: www. unctad.org / iia-dbcases. 14 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 responde una pregunta fundamental de la teoría política: porqué debemos optar por convivir –y cómo– en lugar vivir aislados. Como dice Finlayson:20 Las ideologías no solo son maneras de pensar sobre el mundo sino maneras de estar en él. Nos dan una sensación de lo que está sucediendo, organizan nuestras percepciones de ciertas cosas y nos orientan en ciertos sentidos [Ideologies are not just ways of thinking about the world but ways of being within it. They give us a sense of what is going on, organise our perceptions of certain things and orient us in certain directions.] El nacionalismo es una ideología.21 Desafortunadamente, la respuesta del nacionalismo es hostil hacia ‘los otros’ (quienes no son parte de ‘nosotros’). Además, es exclusionista. El nacionalismo es una ideología que obedece a factores sociales que rebasan esta nota. Lo relevante a mencionar es que el nacionalismo ha brotado en América Latina. Y ello ha tocado al arbitraje de inversión. Respetuoso de los motivos de la ideología, deseo hacer notar sus consecuencias, centrándome en dos: económicas y sociológicas. a) Efectos económicos del aislacionismo El efecto económico de optar por autarquía es el siguiente: 1. Oferta: oportunidades perdidas del lado de la oferta; 2. Demanda: oportunidades perdidas del lado de la demanda; 3. Estado: menos crecimiento económico; 4. Consumidor: menos opciones, menor diversidad de productos, menos libertad. Explicaré porqué. Aunque la autarquía financiera es una opción, visualicemos los resultados de prohibir el fenómeno. Suponiendo que fuera posible insular a cada país evitando flujos internacionales de capital, el resultado sería que algunos países tendrían más capital del que necesitan, mientras que otros tendrían menos.22 Ello arrojaría un doble resultado. 20 FINLAYSON, Alan. Nationalism, en ECCLESHALL, Robert. Political Ideologies, Routledge, London, p. 103. Kedourie define al nacionalismo como: “A doctrine invented in Europe at the beginning of the nineteenth century … the doctrine holds that humanity is naturally divided into nations, that nations are known by certain characteristics which can be ascertained, and that the only legitimate type of government is national self-government”. (KEDOURIE, Elie. Nationalism, Hutchinson, London, 1960, p. 12.) 22 Esta primer premisa es incuestionable. 21 Arbitraje de inversión y America Latina 15 Los países superavitarios enfrentarían un retorno decreciente de su capital, y los países con capital insuficiente mostrarían oportunidades de negocio perdidas. Esto último fomentaría apetito de capital, reflejando retornos crecientes a los ingresos marginales de inversión, los cuales, en nuestra hipótesis, estarían indisponibles. Es decir, mientras que a unos les sobrará a otros les faltará. Cuando algo sobra, su precio baja. Cuando algo escasea, su precio sube. Por ende, en un mundo ausente de intercambio de flujos internacionales se observará el (lamentable) escenario de oportunidades perdidas en ambos bandos: tanto la oferta como la demanda. Un escenario en el que nadie gana. Entendida esta realidad se percibe porqué conviene que ambos grupos de países23 comercien con capital: ambos estarán en mejores circunstancias si el capital puede moverse de un lado a otro. Así no se ‘desperdician’ oportunidades de negocio. Por ello, aunque existan dificultades, la solución no puede (no debe) ser erradicar el fenómeno. Lo anterior desde una perspectiva macro. Pero la perspectiva micro puede ser aún más persuasiva. Los beneficios del fenómeno son defendibles desde dos perspectivas: libertad y bienestar. Desde una perspectiva de libertad, es preferible que los individuos puedan mover su capital como les plazca. Desde la perspectiva de bienestar, es mejor tener opciones que carecer de las mismas. Si algo logra el comercio es que amplía oportunidades. Cuando las barreras caen, la gente de ambos lados de las fronteras incrementa su bienestar al encontrar más oportunidades para consumir diferentes tipos de productos (tanto en calidad como en precio).24 Pueden decidir consumir productos que no han producido pagándolos con el superávit generado por los productos que han producido y que no desean consumir, si creen que ello les favorece. De no ser el caso, simplemente no lo hacen. De nuevo, más opciones. La misma lógica aplica a las finanzas internacionales. De la misma manera en que una economía puede consumir únicamente lo que produce, puede invertir únicamente lo que ahorra. Ni más; ni menos. El comercio en capital permite que los países separen su ahorro de sus opciones de inversión. Pueden invertir más de lo que ahorran mediante préstamos del extranjero, o pueden invertir menos de lo que ahorran prestando la diferencia (su superávit). Los cambios en el precio del capital asegurarán que la oferta y demanda global se conjugue eficientemente 23 24 Deficitarios y superavitarios. El parangón con el comercio en bienes y servicios es no sólo obligado sino conveniente puesto que en esencia lo que está ocurriendo es justamente eso: se está comerciando con un bien. Mientras que en el caso de comercio de bienes y servicios es un producto o servicio, en el caso de inversión foránea es capital. 16 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 como ocurre con los precios de los productos importados y exportados, llevando a un desarrollo global. A un equilibrio óptimo. Debo admitir que hay quien asevera que no se ha demostrado una correlación entre la existencia de tratados y arbitraje de inversión y el fomento de la inversión.25 El argumento merece dos respuestas. Primero, dado lo reciente del fenómeno, aún no se genera información suficiente para conclusivamente demostrar el nexo.26 Segundo, dicho argumento empírico adolece de algo: no hay contra qué compararlo. No sabemos cuánta inversión hemos perdido por el simple hecho de que no nos hemos adherido al CIADI. Y en cambio, el argumento conceptual tiene fuerza: la comunidad internacional es sofisticada. Al momento de hacer el estudio de la viabilidad de una inversión, dentro del elemento “riesgo” factora el riesgo político, el cual es reducido mediante la disponibilidad de arbitraje de inversión. En caso de que el argumento conceptual no persuadiera al escéptico, recurriría a un empírico: las instancias de conducta estratégica por inversionistas para obtener protección de tratados.27 b) Efectos sociales del nacionalismo Un ejemplo histórico ilustra el impacto de optar por una respuesta nacionalista. El error más grave en materia de relaciones internacionales que un Presidente Estadounidense ha cometido fue la firma de la Smoot-Hawley Tariff Act de junio de 1930 que elevó los aranceles de Estados Unidos en forma importante.28 El efecto que tuvo fue nada menos que desastrozo. Invitó retorsión de economías extranjeras llevando, lo que de otra manera hubiera sido un declive económico normal, a una depresión mundial. La reducción drástica en el comercio internacional y la actividad economía redujo la influencia de los moderados frente a los nacionalistas en Japón y pavimentó la victoria de los Nazis en Alemania en 1932. Japón invadió China en 1931, estableciendo el clima que llevó a la Segunda Guerra Mundial.29 Como lo explica un experto:30 25 Además, existen jurisdicciones que reciben inversión sin haber ratificado siquiera un sólo tratado de inversión (v.gr., Brasil). 26 Aunque han existido algunos. El autor tiene conocimiento de cuatro, que arrojan resultados contradictorios o no conclusivos. 27 Las cuales describo genéricamente por razones de confidencialidad. 28 Esta legislación fue promulgada por motivos nacionalistas y proteccionistas. 29 JACKSON, John H., WILLIAM J. Davey y Alan O. SYKES, Jr., Legal Problems of International Economic Relations, Third Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn. 1995, pgs. 4 y 38. 30 COOPER, Richard N. Trade Policy and Foreign Policy, U.S. Trade Policies in a Changing World Economy, Robert Stern Ed., The Massachussets Institute of Tecnology, 1987, pgs. 291-292. (“Valuable lessons were learned from the Smoot-Hawley tariff experience by the foreign policy community: the threat of tariff retaliation is not always merely a bluff; tariffs do influence trade flows negatively; a decline in trade can depress national economies; economic depression provides fertile ground for Arbitraje de inversión y America Latina 17 La experiencia de los aranceles Smoot-Hawley enseñó lecciones importantes a la comunidad política internacional: la amenaza de retorsión arancelaria no siempre es vacua; los aranceles influyen negativamente sobre los flujos de comercio; una reducción de comercio puede deprimir economías nacionales; una depresión genera tierra fértil para (pseudo) soluciones políticas radicales; y los radicales políticos con frecuencia buscan aventuras (militares) para distraer la atención de sus fracasos en la economía nacional. Las semillas de la Segunda Guerra Mundial, tanto en el Lejano Oriente como en Europa, fueron sembradas con la firma de los aranceles Smoot-Hawley. En un discurso el (entonces) Director de la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado de Estados Unidos (Director of the Office of Economic Affaires of the Department of State) Harry Hawkins expuso:31 Hemos aprendido que, cuando un país es hambreado económicamente, su gente está más que dispuesta a seguir al primer dictador que surja y les prometa a todos empleos. Los conflictos comerciales invitan no-cooperación, sospecha, amargura. Las naciones que son enemigos económicos son improbables a permanecer como amigos por mucho tiempo. Si deseamos seguir la (aguda) advertencia del gran historiador Jorge Santayana32 y evitar revivir las historia, debemos entender que el comercio internacional, y su fenómeno de moda – la Globalización – es positiva tanto por razones económicas como sociales.33 3. Rechazos incipientes Un resultado observable en la región al fenómeno del arbitraje de inversión es la denuncia del Convenio CIADI por Argentina, Bolivia y Ecuador. a) Argentina Argentina es actualmente parte de 48 demandas de arbitraje de inversión. Los montos son impactantes, como también lo son sus consecuencias (de prosperar). politically radical nostrums; and political radicals often seek foreign (military) adventures to distract domestic attention away from their domestic economic failures. The seeds of World War II, in both Far East and in Europe, were sown by Hoover’s signing of the Smoot-Hawley tariff.”) 31 U.S. Department of State, Commercial Policy Series 74, pg. 3 (Pub. No. 2104, 1944). (“We’ve seen that when a country gets starved out economically, its people are all too ready to follow the first dictator who may rise up and promise them all jobs. Trade conflict breeds noncooperation, suspicion, bitterness. Nations which are economic enemies are not likely to remain political friends for long.”) 32 Conocido por su lema: “quien desconoce la historia está condenado a revivirla”. 33 Al respecto, ver GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. Estado de Derecho: Un Enfoque Económico, Ed. Porrúa, 2009, p. 82 et seq. 18 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 El origen de las demandas son las medidas que Argentina tomó en 2002 para enfrentar su crisis financiera. Mucho podría decirse al respecto. Si bien no es el lugar (ni el momento, pues muchas reclamaciones están en curso) para pronunciarse sobre la rectitud de las demandas y laudos que a la fecha existen, es válido decir que la adhesión al CIADI no es la fuente del problema, sino una solución. De no existir la opción CIADI, el resultado sería frustración, probablemente impunidad, presión política y diplomática internacional, aún más pérdida de inversión y bienestar, y ostracismo internacional. La aseveración no presupone responsabilidad. El autor no es quien para emitir una opinión sobre ello (para eso están los árbitros). Pero no dejo de ver el beneficio de que “alguien” pueda imparcialmente pasar juicio sobre ello. Y por ello aplaudo el que exista el mecanismo. La opción sería la ley de la selva.34 b) Bolivia Bolivia denunció el Convenio CIADI el 2 de mayo de 2007 dejando de ser parte el 3 noviembre de 2007. Sus motivos oficiales son que considera que el CIADI favorece a los inversionistas sobre los Estados anfitriones, que la función del Banco Mundial hace incompatible el que administre arbitrajes, la confidencialidad, los árbitros (que pueden también actuar como abogados de parte), el contenido que se la ha dado a ciertas disciplinas y que “no hay caso alguno en que el Banco Mundial haya sancionado a inversionistas por no cumplir con sus contratos”. c) Ecuador El 12 de junio de 2009 el poder legislativo de la República de Ecuador votó a favor de denunciar el Convenio CIADI, del cual era parte desde febrero de 2001. Los motivos esgrimidos son dos. Primero, para cumplir con la (recientemente creada) prohibición contenida en el artículo 422 de su Constitución que dice “no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas 34 Además, existe un lado positivo. Como bien dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y las crisis internacionales no son una excepción: generan conocimiento. Son fuentes de Derecho. Casos distintos pueden ser citados en apoyo de la aseveración. En el caso Argentino, los casos han versado sobre temas otrora abiertos e importantes. Por ejemplo, los (controvertidos) requisitos de jurisdicción, las cláusulas paraguas, el agotamiento de recursos locales (incluyendo los polémicos “fork in the road”), la diferenciación entre reclamaciones contractuales e internacionales, el alcance de las cláusulas de nación más favorecida, el contenido de trato mínimo, trato justo y equitativo, plena protección y seguridad, medidas equivalentes a expropiación, la responsabilidad internacional del Estado, el estado de emergencia, medidas de salvaguarda, estado de necesidad y sus consecuencias internacionales. Y esto podría ser la punta del iceberg. Arbitraje de inversión y America Latina 19 privadas…”. Segundo, para “defender la soberanía de Ecuador, el manejo de sus relaciones económicas con otros estados o empresas de otras nacionalidades”. Los intercambios en la Asamblea Nacional al ventilar la conveniencia de denunciar35 incluyeron preocupación por los montos por los que había sido demandada. Ya desde octubre de 2007 había indicado que no aceptaría que la jurisdicción del CIADI abarcara controversias relativas al manejo de sus recursos naturales no renovables, entendiéndose por tales (pero no limitados a) recursos mineros e hidrocarburos. Irónicamente, Ecuador –si bien demandado con frecuencia– había sido victorioso en la mayoría de los casos.36 El paso guarda consistencia con retórica nacionalista observable durante elecciones recientes. e) Canadá Pero no todo es rechazo. Canadá es un ejemplo alternativo que debe seguirse. El motivo es su trasfondo: la estructura constitucional de Canadá hace que la adhesión a un convenio internacional de tal envergadura tenga implicaciones locales importantes. Dado que Canadá está compuesto por provincias y territorios independientes, ello fue difícil, tanto jurídica como políticamente.37 Implicó casi 20 años de negociaciones entre el gobierno federal, provincias y territorios.38 Como resultado, el 15 de diciembre de 2006 Canadá se convirtió en el signatario 155 del Convenio CIADI. C. El futuro del arbitraje de inversión George Bernard Shaw quien solía decir: ‘nunca pronostiques, y mucho menos sobre el futuro’.39 Desobedeceré su sugerencia. El arbitraje de inversión ha llegado para quedarse. Y ello es plausible. A continuación fundamento ambas aseveraciones. Es de preverse que el éxito del arbitraje de inversión continúe no sólo en el futuro inmediato, sino el mediato. El motivo es doble: la infraestructura jurídica mundial existente y el corpus de casos y literatura. A la fecha, existen más de 2680 tratados de inversión, y los Estados siguen negociando y celebrándolos. A su vez, el CIADI nunca ha sido más exitoso.40 35 Es al legislativo ecuatoriano a quien le corresponde denunciar bajo el artículo 419 de su Constitución. Además que la denuncia ocurrió semanas después de una importante y publicitada victoria en una demanda por más de dos mil millones de dólares. 37 Inter alia, dicho acto conlleva la necesidad de emitir una ley uniforme que facilite la aplicación y armonice las leyes canadienses en concordancia con dicha convención. 38 La complejidad se magnificó dado que el Convenio CIADI carece de cláusula federal. 39 La cita no es textual. 40 De hecho, podría decirse que es víctima de su propio éxito. 36 20 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Existen casi 300 laudos de arbitraje de inversión. Y la mayoría de ellos es de la última década. Ello hace de esta materia el área más dinámica del derecho internacional. Además, constituye una rica masa crítica de conocimiento sobre la materia. Y la literatura juega un papel importante. Se observa que cada laudo es disectado y comentado por expertos en todas las esquinas del planeta–a veces en forma ardua.41 Ello propicia una dialéctica mundial que enorgullecería a Georg Hegel, y que ha tenido como resultado la creación de una verdadera ciencia especializada. Por lo anterior, es predecible que el derecho y arbitraje de inversión no sólo permanezca con nosotros, sino que se acentúe tanto en volumen como contenido. Si el pronóstico es acertado, todos saldremos ganando. REFERENCIAS COOPER, Richard N. Trade policy and foreign policy. In: STERN, Robert M. (Ed.). US trade policies in a changing world economy. Cambridge, MA: The Massachussets Institute of Tecnology – MIT Press, 1987. DIRK RAAT, William. Mexico, from independence to revolution, 1810-1910. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1982. ECCLESHALL, Robert; GEOGHEGAN, Vincent; LLOYD, Moya; MACKENZIE, Iain & WILFORD, Rick. Political ideologies: an introduction. 2. ed. London: Routledge, 1994. GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. Arbitraje de inversión. México, DF: Porrúa, 2009. ______. Estado de Derecho: un enfoque económico. México, DF: Porrúa, 2007. JACKSON, John H.; DAVEY, William J. & SYKES JR., Alan O. Legal problems of international economic relations. St. Paul, MN: West Publishing Co., 1995. KEDOURIE, Elie. Nationalism. London: Hutchinson, 1960. MENDOZA, Salvador. La doctrina de Cárdenas: texto, antecedentes y comentarios. 1. ed. Ciudad de México: Botas, 1939. PAULSSON, Jan. Enclaves of Justice. Transnational Dispute Management, v. 4, n. 5, September, 2007. QUEZADA, Ernesto. La doctrina Drago, su esencia y concepto amplio y claro. Revista de la Universidad de Buenos Aires, tomo XLIII, p. 355 y siguientes, Buenos Aires, 1919. SHEA, Donald R. The Calvo Clause, a problem of inter-american and international law and diplomacy. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1955. 41 Expertos de diferentes jurisdicciones son tan prestos a aplaudir como a criticar laudos que distan de reflejar los paradigmas más aceptados sobre la materia. 21 Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? 2 Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? Serial killers: a legal or psychological matter? TAÍS NADER MARTA Advogada; professora universitária; bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru – Instituição Toledo de Ensino – FDB/ITE; especialista em Direito Processual e em Direito Constitucional, pela Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul. Atualmente, cursa pós-graduação stricto sensu (Mestrado em Direito), tendo como linha de pesquisa “Sistema Constitucional de Garantias”, sob a coordenação do Livre-Docente Luiz Alberto David de Araujo, no Centro de Pós-Graduação da Instituição Toledo de Ensino – ITE, em Bauru. E-mail para correspondência: [email protected]. HENATA MARIANA DE OLIVEIRA MAZZONI Professora universitária; bacharel em Psicologia e Direito, pela Universidade do Sagrado Coração – USC, de Bauru. E-mail para correspondência: [email protected]. RESUMO A pessoa nasce ou se torna criminosa? Nasce ou se torna um serial killer, em razão do meio em que vive e de seus traumas de infância? Isso é um mistério na psiquiatria, e os estudiosos, em geral, ainda não conseguiram resolvê-lo nem entrar num consenso sobre ele. Entretanto, não pode ser aceita a simplista explicação de que o indivíduo nasceu assim e, não tendo pedido para nascer assim, não tem culpa e, portanto, deve ser desculpado e absolvido quando comete crimes cruéis. Palavras-chave: assassinos seriais, loucura, crueldade, psicóticos, psicopatas. ABSTRACT Can a person be born or become a criminal? Born or become a serial killer because of the environment they live and their childhood trauma? This is a mystery in psychiatry and scholars generally have failed to resolve or come to a consensus. However, it can be accepted the simplistic explanation that the individual was born that way, and not having asked to be born, would not fault and therefore should be excused and acquitted when committing vicious crimes. Keywords: serial killers, madness, cruelty, psychotic, psychopaths. 22 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 1. INTRODUÇÃO O crime é um fato tão antigo quanto o ser humano, e sempre impressionou a humanidade. Dos crimes contra a pessoa, o homicídio é um dos que se apresenta de maneira mais preocupante perante os indivíduos. Dentre todos os milhões de casos de crimes horrendos cometidos através dos séculos, existem aqueles que parecem ter vida própria. Apesar da passagem dos anos, eles continuam a manter seu fascínio sobre a imaginação coletiva e a despertar o medo atávico de todos. Por alguma razão, cada um desses casos – e as histórias que os acompanham – toca em algo nas profundezas da condição humana, talvez devido às personalidades envolvidas, à insensatez da corrupção criminal, ao persistente incômodo da dúvida sobre uma justiça que não se fez ou ao desapontamento de se saber que ninguém foi considerado culpado. De qualquer forma, os casos permanecem como mistério e deixam todos perplexos, ferindo fundo os indivíduos em suas considerações sobre eles próprios como seres humanos e sobre suas relações sociais (DOUGLAS & OLSHAKER, 2000). Existem muitos aspectos a ser analisados sobre tal tema, dentre eles a dúvida que surge: seriam os serial killers portadores de psicose, sofrendo com delírios e alucinações, ou seriam delinquentes vaidosos buscando o crime como satisfação de prazer, sofrendo então de uma psicopatia? E mais: em um ou outro caso, qual o melhor tratamento (punição) a ser dado pelo Direito? No centro do mundo misterioso e instigante do homicida serial, será encontrada a agressividade hostil, destrutiva e sádica, que se alimenta de profundos sentimentos ambivalentes, mórbidos, obsessivos, cujo alvo, no final das contas, é o próprio absoluto. Suas raízes remontam ao amor primitivo da criança, no qual estão fundidos impulsos destrutivos; remontam à época primordial em que imperava o que Freud chamou de sentimento oceânico, pelo qual a criança se sente fundida, misturada no universo e com ele identificada, numa experiência primária de onipotência narcisística. Portanto, o alvo das fantasias, das necessidades e da hostilidade destrutiva do homicida serial é o próprio absoluto. Um absoluto jamais alcançado e jamais alcançável, porque sempre procurado e perseguido por vias profundamente equivocadas e mórbidas (SÁ, 1999). Ademais, nos delinquentes, a vaidade se reveste de caracteres mórbidos, nitidamente antissociais. A vaidade mórbida assoma, pois, em todas as partes. Característica predominante na psicologia delituosa, tanto no crime individual como nas multidões delinquentes. Quando, num país qualquer, ocorrem delitos de grande repercussão, analisados pela imprensa e comentados pelo público, cria-se uma atmosfera criminógena apropriada para tentar a vaidade dos predispostos. De acordo Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? 23 com Lombroso, “a vaidade profissional é maior nos delinquentes do que nos cômicos, nos literatos, nos médicos e nas mulheres elegantes” (INGENIEROS, 2003). Se a luta contra o delito vier a consistir numa organização racional dos meios preventivos, que impeçam os atos antissociais dos delinquentes, estas noções de psicologia terão utilidade em função da polícia e da justiça. A ciência criminológica começa a exercer influência sobre a evolução do Direito Penal. Ocorre que as razões para que indivíduos cometam esses crimes continuam a fascinar mais do que muitos outros, até porque assiste-se a uma sucessão interminável de assassinos e predadores sexuais que, embora possam ter algum grau de doença mental – já que não se pode, de modo deliberado, tirar outras vidas de maneira brutal e ser mentalmente saudável –, ainda assim, podem ser penalmente responsáveis, já que o fato de eventualmente possuírem alguma doença mental não significa que não saibam diferenciar o certo do errado, ou que sejam necessariamente incapazes de adequar seu comportamento e suas fantasias às regras sociais. Mas é possível também que haja alguns criminosos tão fora de si a ponto de não saberem que o que estão fazendo é errado, ou os que tendem a ter alucinações ou ilusões, mas esses tipos são fáceis de ser identificados, pois demonstram ser tão desorganizados e loucos que, em geral, são apanhados em pouco tempo. O presente artigo se propõe, por meio de uma apreciação crítica, a analisar quem são, como devem ser julgados, punidos e tratados os serial killers, além de apresentar aspectos psicológicos a eles relacionados. 2. SERIAL KILLERS Os assassinos em série (serial killers) constituem um capítulo à parte na criminologia e uma dificuldade para a psiquiatria, uma vez que não se encaixam em nenhuma linha específica do pensamento. Esses casos desafiam a psiquiatria e acabam virando um duelo entre promotoria e defesa sobre a dúvida de ser o criminoso louco, meio louco, normal, anormal etc. Do ponto de vista criminológico, quando um assassino reincide em seus crimes com um mínimo de três ocasiões e com um certo intervalo de tempo entre cada um, é conhecido como assassino em série. A diferença do assassino em massa, que mata várias pessoas de uma só vez e sem se preocupar pela identidade destas, e o assassino em série é que este elege cuidadosamente suas vítimas, selecionando, na maioria das vezes, pessoas do mesmo tipo e com características semelhantes. Aliás, o ponto mais importante para o diagnóstico de um assassino em série é um padrão geralmente bem definido no modo como ele lida com seu crime. Com frequência, eles matam seguindo um determinado padrão, seja através de uma determinada seleção da vítima, seja de um grupo social 24 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 com características definidas, como prostitutas, homossexuais, policiais etc., por exemplo. As análises dos perfis de personalidade estabelecem, como estereótipo dos assassinos em série (evidentemente aceitando-se muitas exceções), homens jovens, de raça branca, que atacam preferentemente as mulheres, sendo que seu primeiro crime foi cometido antes dos 30 anos. Alguns sofreram uma infância traumática, devido a maus-tratos físicos ou psíquicos, motivo pelo qual têm tendência a isolar-se da sociedade e/ou vingar-se dela (BALLONE, 2003). Como no resto do mundo, a maioria dos assassinos em série no Brasil é constituída de homens brancos, que têm entre 20 e 30 anos, vieram de famílias desestruturadas, sofreram maus-tratos ou foram molestados quando crianças. A psicóloga clínica e forense Maria Adelaide Caires (apud CASOY, 2004: 18) apontou – ao analisar os “casos brasileiros” – alguns pontos comuns entre eles: “[...] infância negligenciada, violência sexual precoce, inabilidade escolar, sem norte, sem “casa” e sem um agente disciplinador”. Pesquisas indicam que cerca de 82% dos assassinos seriais sofreram abusos físicos, sexuais, emocionais ou foram negligenciados e abandonados quando crianças. Segundo Ilana Casoy, “é raro um (assassino serial) que não tenha uma história de abuso ou negligência dos pais. Isso não significa que toda criança que tenha sofrido algum tipo de abuso seja um matador em potencial”. Quando crianças, geralmente, os assassinos em série tiveram um relacionamento interpessoal problemático, tenso e difícil. Segundo a referida escritora, a chamada “terrível tríade” parece estar presente na infância de todo serial killer. Os elementos que compõem esta tríade são os seguintes: enurese noturna (urinar na cama) em idade avançada, destruição de propriedade alheia e crueldade com animais e outras crianças menores (CASOY, 2002). Estas frustrações, ainda segundo análises de estereótipos, introduzem os assassinos em série num mundo imaginário, melhor que seu real, onde ele revive os abusos sofridos, identificando-se, desta vez, com o agressor. Por esta razão, sua forma de matar pode se caracterizar pelo contacto direto com a vítima: utiliza armas brancas, estrangula ou golpeia, quase nunca usa arma de fogo. Seus crimes obedecem a uma espécie de ritual onde se misturam fantasias pessoais com a morte. A análise do desenvolvimento da personalidade desses assassinos seriais geralmente denuncia alguma anormalidade importante. Atos violentos contra animais, por exemplo, têm sido reconhecidos como indicadores de uma psicopatologia que não se limita a estas criaturas. Segundo o cientista humanitário Albert Schweitzer (apud BALLONE, 2003), “quem quer que tenha se acostumado a desvalorizar qualquer forma de vida corre o risco de considerar que vidas humanas também não têm importância”. Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? 25 Além disso, muitos homicidas seriais têm inteligência privilegiada (Ed Kemper1, por exemplo, é gênio com QI superior a 140), o que se mostra paradoxal, porquanto, ao mesmo tempo em que eram inteligentes, tiveram fraco desempenho nas escolas, onde mais da metade deles não conseguiram sequer concluir o ciclo escolar, obtendo notas medíocres (BONFIM, 2004). De acordo com Casoy (2002: 16), “[...] serial killers são indivíduos que cometem uma série de homicídios durante algum período de tempo, com pelo menos alguns dias de intervalo entre eles”. A vítima representa na verdade, na maioria das vezes, um objeto de fantasia no qual o criminoso exercita seu poder e seu domínio. Também alguns serial killers cometem seus crimes motivados por ódio às mulheres, desejo de controle, dominação e vinganças reais ou algumas vezes imaginárias (CASOY, 2002). O desejo de controle e poder sobre a vítima vem, em grande parte, explicado pela violência e pelos abusos que a maioria desses indivíduos sofreu em sua infância. Quanto à sua forma de atuar, os assassinos em série se dividem em organizados e desorganizados. Organizados são aqueles mais astutos, que preparam os crimes minuciosamente, sem deixar pistas que os identifiquem. Os desorganizados, mais impulsivos e menos calculistas, atuam sem se preocupar com eventuais erros cometidos. 2.1. Serial killers organizados São pessoas solitárias por se sentirem superiores e julgarem que ninguém pode ser suficientemente bom para eles. São muitas vezes casados e socialmente competentes, conseguindo – em muitos casos – bons empregos por parecerem confiáveis e aparentarem saber mais do que na realidade sabem. Para eles, o crime é um jogo: acompanham a perícia e os trabalhos da polícia; costumam observar de maneira atenta os noticiários e retornar ao local onde mataram. Ademais, costumam planejar o crime de maneira cuidadosa e carregar o material necessário para cumprir suas fantasias e, ao interagirem com a vítima, gratificam-se com o estupro e a tortura. Deixam poucas evidências no local do crime, escondem ou queimam o corpo da vítima e levam um pertence da mesma como lembrança (CASOY, 2004). 1 De acordo com Newton (2005: 227), confinado em Vacaville, esse assassino serial norte-americano – que matava estudantes e admitiu que depois cortou em tiras a carne de pelo menos duas vítimas para cozinhá-las em uma panela de macarrão e devorar isso como uma forma de possuir sua presa – se uniu a um grupo de internos voluntários para gravar livros para cegos e completou mais livros que qualquer outro prisioneiro, com cerca de cinco mil horas de gravação feitas por ele. 26 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 2.2. Serial killers desorganizados Também são seres solitários, mas tal característica decorre do fato de serem estranhos, esquisitos. A característica de desorganização é uma marca: são desorganizados com a casa, com o carro, com a aparência, com o trabalho, com o estilo de vida etc. São introvertidos e não possuem condição de planejar um crime de maneira eficiente. Casoy (2004) ainda descreveu as seguintes características: [...] De forma geral agem por impulso e perto de casa, usando as armas ou os instrumentos encontrados no local da ação. É comum manterem um diário com anotações sobre suas atividades e vítimas, trocam de emprego frequentemente e tentam fazer carreira militar ou similar, mas não passam no teste. É raro manter [sic] qualquer contato com a vítima antes do crime, agem de forma furiosa, gratificam-se com estupro ou mutilação post mortem e, nesse grupo, é comum encontrarmos canibais e necrófilos. Têm mínimo interesse no noticiário sobre seus crimes e deixam muitas evidências no local em que mataram (CASOY, 2004: 23). 3. ASSASSINOS EM SÉRIE: PSICÓTICOS OU PSICOPATAS? A questão que se coloca, quando se fala em assassinos em série, é se seriam eles responsáveis por seus atos, ou seja, se cometeriam os crimes devido a um transtorno metal (psicose) ou por simples maldade, gosto pelo sofrimento alheio, desejo em transgredir as regras, sendo, então, nesse caso, portadores do transtorno de personalidade antissocial – TPA (também conhecidos como sociopatas ou psicopatas). Sobre esta questão, Ballone (2005) explicou que: [...] podemos dizer que o assassino em série psicótico atuaria em consequência de seus delírios e sem crítica do que está fazendo, enquanto o tipo assassino em série psicopata atuaria de acordo com sua crueldade e maldade. O psicopata tem juízo crítico de seus atos e é muito mais perigoso, devido à sua capacidade de fingir emoções e se apresentar extremamente sedutor, consegue sempre enganar suas vítimas. Evidencia-se, então, que o assassino em série tanto pode ser classificado como psicótico quanto como psicopata, sendo que, de acordo com a legislação brasileira, teria ele, em decorrência de ser considerado responsável ou não por seus atos, diferentes penalidades. O indivíduo psicótico tem como características principais alucinações e delírios. Alucinações são experiências de percepções que não têm fundamento na realidade. A Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? 27 pessoa ouve, vê, sente ou cheira coisas que, na realidade, não existem. A mais comum das alucinações é a auditiva, por meio da qual a pessoa ouve vozes que se referem ao seu comportamento, criticando ou dando ordens. É importante destacar que, para os indivíduos que experimentam alucinações, estas parecem ser reais, sendo a pessoa incapaz de distinguir o que é alucinação e o que é real (HOLMES, 1997). As alucinações estão relacionadas com os sentidos, as percepções. Já os delírios são processos do pensamento do indivíduo. Em relação ao delírio, a pessoa possui crenças que são mantidas, apesar de evidências em contrário, ou seja, fazem parte apenas do pensamento do indivíduo. Dentre os delírios mais comuns, destacam-se os seguintes: delírios de perseguição, nos quais o indivíduo pensa que há pessoas espionando-o, conspirando contra ou querendo prejudicá-lo; delírios de referência, onde objetos, acontecimentos ou pessoas são percebidos como apresentando algum significado especial para a pessoa, dirigidos especificamente a ela; e delírios de identidade, onde os indivíduos acreditam ser outra pessoa. As pessoas normais também, por vezes, mantêm alguma crença que não tem base na realidade; contudo, as crenças delirantes são mais bizarras e mais resistentes a evidências contrárias do que as distorções que tais pessoas vivenciam em seu cotidiano (HOLMES, 1997) É evidente que o assassino em série não é uma pessoa normal. Mas não significa que ele não tenha consciência do que faz. Os assassinos em série, em sua maioria, são diagnosticados como portadores do transtorno de personalidade antissocial e, muito embora possam não ter domínio para controlar seus impulsos, sabem muito bem distinguir o que é certo e errado, tanto que se preocupam em não ser apanhados (BALLONE, 2005). Sobre a diferença entre o criminoso portador do transtorno de personalidade antissocial e o portador do transtorno psicótico, este sim sujeito à medida de segurança segundo a legislação brasileira, Kaplan, Sadock & Grebb (1997) consideraram que, em relação aos pacientes com transtorno de personalidade antissocial, em termos de conteúdo mental, estes sempre revelam uma ausência de delírios e outros sinais de pensamentos irracionais, demonstrando, pelo contrário, um aumentado senso de realidade, bem como uma boa inteligência verbal. Geralmente, pessoas com o referido transtorno se apresentam como normais, muitas vezes extremamente simpáticas e cativantes. Contudo, seus históricos irão revelar mentiras, fugas de casa e da escola, brigas, abuso de drogas e atividade ilegais (KAPLAN, SADOCK & GREBB, 1997). Tem-se, com isso, que a pessoa portadora do transtorno de personalidade antissocial, na maioria dos casos, em sua infância e adolescência, apresentava transtorno de conduta. 28 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Pessoas com transtorno de personalidade antissocial têm como característica, bastante acentuada, a ausência de ansiedade, culpa ou remorso. Ao cometer um crime, por mais repugnante que seja aos olhos da sociedade, elas não demonstram qualquer sentimento, a não ser o prazer. Aos olhos das outras pessoas, são tidas como indivíduos “sem coração” (HOLMES, 1994). O psicopata busca constantemente seu próprio prazer (mod.). Ele age como se tudo lhe fosse permitido. Excita-se com o risco e com o proibido. Quando mata, tem como objetivo final humilhar a vítima para reafirmar sua autoridade e realizar sua autoestima. Para ele, o crime é secundário e o que interessa, de fato, é o desejo de dominar, de sentir-se superior. De acordo com Antônio de Pádua Serafim2 (apud CASOY, 2004: 28): [...] São considerados “predadores intraespécies” que usam charme, manipulação, intimidação e violência para controlar os outros e para satisfazer suas próprias necessidades. Em sua falta de confiança e de sentimento pelos outros, eles tomam friamente aquilo que querem, violando as normas sociais sem o menor senso de culpa ou arrependimento. Marcante característica, presente nesse transtorno, é a contrariedade às normas sociais de conduta. Para esses indivíduos (psicopatas), as regras sociais não constituem uma força limitante, e a ideia de um bem comum é meramente uma abstração confusa e inconveniente, pois: [...] o transtorno de personalidade antissocial é caracterizado por atos antissociais e criminosos contínuos, mas não é sinônimo de criminalidade. Em vez disso, trata-se de uma incapacidade de conformar-se às normas sociais que envolvem muitos aspectos do desenvolvimento adolescente e adulto do paciente (KAPLAN, SADOCK & GREBB, 1997: 693). Trata-se de pessoas que buscam enganar e manipular os outros para, desse modo, obter alguma vantagem. Outra característica de pessoas portadoras do transtorno é não aprender com a punição. O indivíduo pode até ser preso, ficar anos na penitenciária, mas não vai aproveitar esse tempo para “refletir” sobre seus atos, se arrepender; muito pelo contrário, muitos vão aproveitar essa tempo para arquitetar seu próximo crime, quando em liberdade. Indivíduos com o transtorno de personalidade antissocial, por não apresentarem determinados sintomas psicológicos, como depressão, delírio, alucinações e 2 Psicólogo clínico e forense. Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? 29 ansiedade, geralmente não recebem o diagnóstico de problema psicológico e não são, portanto, submetidos a tratamento. Como seu comportamento normalmente é ilegal, eles tendem a ser punidos, e não tratados, o que, como se viu, demonstra pouca efetividade uma vez que não aprendem com a punição (HOLMES, 1997). Quanto às explicações há, ainda, apenas hipóteses acerca das causas do transtorno de personalidade antissocial. Para Holmes (1994: 19): É importante reconhecer que nenhuma explicação ou conjunto de evidências pode explicar todos os casos de TPA. Isto sugere que há provavelmente diferentes formas de transtorno e que pode haver mais de uma explicação correta para ele. O comportamento dos indivíduos com transtorno de personalidade antissocial é tradicionalmente explicado como consequência de fatores socais e familiares. Contudo, não podem ser descartadas as descobertas de pesquisas que indicam haver diferenças cerebrais entre psicopatas e pessoas normais (CASOY, 2002). 4. DEFESA POR INSANIDADE USADA POR SERIAL KILLERS Em qualquer caso de homicídio, a primeira responsabilidade dos promotores e dos advogados é a determinação do estado mental do suspeito. Para isso, instaurase o chamado incidente de sanidade mental. O incidente de sanidade mental é instaurado quando existe a suspeita de que o acusado, em qualquer tipo de crime, possa ser doente mental. O processo fica suspenso e o acusado é submetido ao exame, até que se comprove ou se descarte essa possibilidade. No caso de haver um quadro mental que tenha relação direta com o crime cometido, o réu é isento de pena (inimputável) e a medida de segurança é aplicada, por ser o criminoso considerado perigoso. A medida de segurança prevê tempo mínimo de internação (três anos), mas não tempo máximo. A desinternação fica condicionada à cessação de periculosidade, o que pode significar prisão perpétua em alguns casos incuráveis (CASOY, 2004: 267). A eventual insanidade, frequentemente alegada na tentativa de absolver o assassino serial, quase nunca é constatada, realmente, pela psiquiatria, pois o fato de o assassino ser portador de algum transtorno de personalidade ou parafilia não faz dele um alienado mental. Além disso, o transtorno de personalidade antissocial é, por vezes, citado no caso de assassinos condenados com uma alegação de responsabilidade diminuída (SIMS, 2001). Em contrapartida a essas afirmativas citadas por Sims, Cordeiro (2003: 64) acrescentou que: 30 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Tanto Kurt Schneider (1950) como Kraeplin (1896) descreveram as tipologias da personalidade psicopáticas, não considerando o comportamento antissocial na definição de personalidade anormal, considerada apenas em termos estatísticos como um desvio da média geral. Trata-se de personalidades que provocam sofrimento nos outros e em si (geralmente em menor grau) [...] O termo abrange uma variedade de personalidades pervertidas, mas não tem significado para a formulação de uma teoria ou para a pesquisa nem facilita a comunicação clínica e a previsão. Tal conceito é apenas um juízo moral, disfarçado de diagnóstico clínico (BLACKBURN, 1988). Quando capturados, estes indivíduos costumam simular insanidade, alegando múltiplas personalidades, esquizofrenia ou qualquer coisa que os exima de responsabilidades, mas, na realidade, aproximadamente, apenas 5%3 dos assassinos em série podem ser considerados mentalmente doentes no momento de seus crimes (BALLONE, 2003). De acordo com Michael Newton (2005: 105): [...] De fato, as estatísticas mostram que apenas 1% dos delinquentes suspeitos americanos pleiteiam insanidade no julgamento e apenas um, em cada três desses, é finalmente absolvido. Os assassinos seriais, com seu bizarro ornamento de sadismo, necrofilia e similares, parecem idealmente adequados para pleitos de insanidade, mas mesmo aqui a vantagem contra absolvição é extrema. Desde 1900, nos Estados Unidos, apenas 3,6% dos serial killers identificados foram declarados incompetentes para julgamento, ou liberados por insanidade. Socialmente, os assassinos em série têm comportamento acima de qualquer suspeita, ou seja, dissimulam muito bem seu lado criminoso, criando um verdadeiro “verniz social”, como mencionado pela escritora Ilana Casoy. Isso deixa claro que eles têm consciência de que fazem algo contrário às regras sociais, sendo, portanto, difícil aceitar a alegação de inimputabilidade. Também é evidente que, nos assassinos seriais, não existe a ausência de compreensão da gravidade e das consequências de seus atos, isto explicado pela empatia, conforme mencionado pelo psiquiatra forense Brent E. Turvey (apud 3 A título de exemplo, pode ser citado o caso de “Chico Picadinho”. De acordo com Casoy (2004), em seu julgamento, a defesa alegou que o motivo do crime não fora torpe, justificando que Francisco sofria de insanidade mental e seus crimes eram consequências da perturbação do réu. Alegou-se também que aquele era um homicídio simples, sem dolo, pois o motivo da retalhação do corpo da vítima não era sua ocultação, e sim o transe de perturbação mental do momento. A acusação discordou, obviamente. Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? 31 CASOY, 2002). O criminoso sabe que a vítima está humilhada, amedrontada e sofrendo, pois é exatamente este resultado que eles buscam com seus atos. [...] as doenças mentais propriamente ditas (psicoses) não têm sido apontadas como causas muito frequentes de sociopatia. E, nas situações de criminalidade mais graves, essas doenças representariam 5% (STUMPFL, 1936) da sua etiologia. Em contrapartida, em cerca de 80% dos criminosos, têm sido comprovados antecedentes pessoais e familiares de psicopatia (FONSECA, 1997: 517). O sistema legal americano fornece ajuda de custo para indivíduos cujos comportamentos aberrantes tenham sido compelidos por doença mental, dispensando-os da punição como criminosos comuns. O público em geral ficou indignado, nos últimos anos, por casos como aquele do assassino presidencial, John Hinckley, em que os veredictos de “não culpado por insanidade” privaram réus da execução ou prisão e, em vez disso, consignaram-nos a instituições mentais por um prazo indefinido. As pesquisas de opinião pública revelam um consenso de que muitos, ou a maioria dos delinquentes acusados, tentam “admitir culpa e pedir clemência”, com esquemas de falsificação de insanidade, grande número deles deslizando por brechas e cumprindo um “tempo fácil”, antes de ser liberados mais uma vez para a sociedade (NEWTON, 2005). 5. PENA E MEDIDA DE SEGURANÇA O homem nasceu eminentemente livre e apresenta – desde seu aparecimento sobre a Terra – duas dimensões fundamentais, que são a “sociabilidade” e a “politicidade”. Na realidade, são dois aspectos de um único fenômeno. Reforçando tal ideia, Betioli ensinou que: O homem é “sociável” e por isso tende a entrar em contato com seus semelhantes e a formar com eles certas associações estáveis; porém, começando a fazer parte de grupos organizados, ele torna-se um “político”, ou seja, membro de uma “polis”, de uma cidade, de um Estado e, como membro de tal organismo, ele adquire certos direitos e assume certos deveres (BETIOLI, 2000: 18). A origem da pena coincide com o surgimento do Direito Penal em razão da constante necessidade da existência de sanções penais em todas as épocas e em todas as culturas. O homem é obrigado a abrir mão de parcela de sua liberdade para poder usufruir da porção que manteve consigo e para garantir o bem comum. A pena é a consequência jurídica principal que deriva da infração penal. Conforme destacou Julio Fabbrini Mirabete: Nos grupos sociais primitivos, a peste, a seca e outros fenômenos naturais maléficos eram considerados manifestações divinas (totem). Para conter a ira 32 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 dos deuses, criam-se regras de proibição (sociais, religiosas e políticas), conhecidas por tabu, as quais, uma vez desobedecidas, acarretavam determinados castigos. Assim, a infração totêmica – ou a desobediência às regras tabu – deu origem ao que hoje se denomina crime e pena (MIRABETE, 2003: 35). Fazendo uma retrospectiva histórica, pode-se concluir que as penas e os castigos que o Estado impôs àqueles transgressores das normas foram evoluindo em face de um sentido maior de humanização. Cesare Beccaria preconizou – já em 1764 – que as penas desumanas e degradantes do primitivo sistema punitivo cederam seu espaço para outras, com senso mais humanitário, com maior finalidade de recuperação do delinquente: É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo, pois uma boa legislação não é senão a arte de proporcionar aos homens o maior bem-estar possível e preservá-los de todos os sofrimentos que se lhes possam causar, segundo o cálculo dos bens e dos males da vida (BECCARIA, 1997: 27). Desta forma, as penas corporais foram substituídas pelas penas privativas de liberdade, persistindo este objetivo de humanização das penas, ainda nos dias de hoje. A pena não tem uma definição genérica, válida para qualquer lugar e qualquer momento. Consiste em um conceito legal de cada código penal em particular, em que são elencadas sanções, cujas variações refletem as mudanças vividas pelo Estado. Penas e medidas de segurança são formas de reação penal, dirigidas aos delitos praticados no seio da sociedade. Sabe-se que ambas configuram formas de equilíbrio social e, como tal, se destinam à preservação dos bens coletivamente eleitos como relevantes à sociedade. Luiz Flávio Gomes (1990) elucidou que: Até o surgimento do positivismo italiano (século XIX, segunda parte), as penas constituíam a forma básica (senão única) de reação penal; os positivistas italianos (Lombroso, Ferri e Garofalo), no entanto, baseados no naturalismo e no determinismo, criaram e desenvolveram a ideia de que o homem criminoso deve ser tratado por meio de medidas até que alcance a cura. Duas, portanto, as fundamentais características das medidas de segurança então idealizadas: elas devem ocupar o lugar da pena que tem por fundamento a culpabilidade (os positivistas negavam a culpabilidade e, assim, preconizavam a abolição da pena) e, ademais, devem durar o tempo necessário para a cura (tempo indeterminado). Se a história do Direito Penal terminasse aí, diríamos que o único sistema de reação penal teria sido o monista, que consiste na contemplação positiva de uma consequência única ao delito: pena, baseada na culpabilidade, conforme os clássicos, ou medida de segurança, baseada na periculosidade, segundo os Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? 33 positivistas italianos. Ocorre que, desde o projeto de Código Penal suíço, elaborado por Karl Stoos em 1893, ambas as formas de reação penal passaram a ser previstas conjuntamente nos Códigos Penais de incontáveis nações: aí está a origem do denominado sistema dualista ou dualismo (ou, ainda, doble via), que significava a previsão em conjunto das duas modalidades de sanção penal: pena e medida de segurança (GOMES, 1990: 257). René Ariel Dotti explicou que: A pena pressupõe a culpabilidade; a medida de segurança pressupõe a periculosidade. A pena tem seus limites mínimo e máximo predeterminados (CP, arts. 53, 54, 55, 58 e 75); a medida de segurança tem um prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, porém o máximo da duração é indeterminado, perdurando a sua aplicação enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade (CP, art. 97, §1º); pena exige a individualização, atendendo às condições pessoais do agente e às circunstâncias do fato (CP, arts. 59 e 60); a medida de segurança é generalizada à situação de periculosidade do agente, limitando-se a duas únicas espécies: internação e tratamento ambulatorial – CP, art. 96 (DOTTI, 1986: 621). Na mesma intenção, expôs Luiz Flávio Gomes (1990) que: Penas e medidas de segurança, conceitualmente, distinguem-se porque: 1. a pena tem natureza retributivo-preventiva enquanto as medidas são só preventivas; 2. a pena baseia-se na culpabilidade, enquanto a medida, na periculosidade; 3. a pena aplica-se aos imputáveis e semi-imputáveis – as medidas não se aplicam aos imputáveis; 4. a pena é proporcional à infração – a proporcionalidade das medidas está na periculosidade; 5. a pena é fixa enquanto a medida é indeterminada; 6. a pena está voltada para o passado (crimeculpabilidade-retribuição), enquanto as medidas miram para o futuro (curaprevenção) (GOMES, 1990: 258). Desta maneira, percebe-se, dos ensinamentos acima transcritos, que, no plano didático-teórico, existem substanciais diferenças entre penas e medidas de segurança. 5.1. Psicopatia no Código Penal O Código Penal brasileiro – em seu artigo 26 – estabelece que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se o indivíduo for incluso no caput do referido artigo, será considerado inimputável. O mesmo artigo 26, em seu parágrafo único, estabelece a possibilidade de semi- 34 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 imputabilidade quando o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Sobre o sistema adotado no Brasil, conforme a regra do artigo 26 e parágrafos do Código Penal, Edilson Mougenot Bonfim (2004) esclareceu que: Os diferentes sistemas punitivos para casos onde se discute a imputabilidade penal (capacidade do agente de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento – ou seja, a responsabilidade penal) são os seguintes: aqueles onde as ações criminosas são imputadas ou inimputadas aos acusados, ensejando uma total irresponsabilidade criminal. E aqueles onde se aceita a chamada “região fronteiriça”, prevendo-se a semiimputabilidade, uma forma de responsabilidade penal diminuída, que permite a atenuação da pena ou a substituição da pena por uma medida de segurança consistente em tratamento médico (BONFIM, 2004: 31). Sempre que houver dúvida sobre a capacidade de imputação jurídica de um acusado, o juiz nomeia um perito para a realização de laudo. A perícia verificará o grau de entendimento e autodeterminação do agente à época dos fatos.4 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS Loucura e maldade (que é uma opção humana) não são sinônimos e não podem ser assim considerados ao julgar-se um serial killer. A confusão muitas vezes verifica-se na prática porque ocorreu uma vulgarização do conceito de loucura. O que é louco? Quem é louco? “Você é louco” tornou-se expressão comum, mas, para realizar julgamentos, é preciso fazê-lo com critérios científicos, amparados na ciência. As defesas dos assassinos seriais normalmente pleiteiam a medida de segurança para seus clientes porque assim surgirá, todo ano, a possibilidade de sua soltura, já que a lei manda, em eventos como esses – caso se aplique a medida de segurança –, que se faça anualmente um exame de cessação de periculosidade. 4 Sobre referido exame, a Dra. Maria Adelaide de Freitas Caires ponderou que, na atividade psicológica, envolvendo questões judiciais, o campo relacional ocorre em meio a uma interposição de fatores que, em maior ou menor grau, comprometem a disponibilidade do examinando para a avaliação. É comum ele chegar imbuído de desconfiança e, na sua grande maioria, não só chega com uma “tese” já bem articulada para provar sua inocência ou sua sanidade, como cônscio das prerrogativas legais de sua defesa (mentir/omitir informações). Além desses fatores, ele pode estar preocupado com a repercussão judicial, da qual em geral tem ciência, que o resultado do exame pode suscitar: algumas de seu interesse; outras contrárias a ele. (CAIRES, 2003: 128). Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? 35 Ora, os serial killers possuem boa conversa, são convincentes e, em um desses exames, podem facilmente convencer um psiquiatra de que estão recuperados e conseguir um laudo favorável à sua soltura, até porque, se instalada a dúvida no caso concreto, esta poderá ser resolvida a seu favor. Portanto, como se vê, é um discurso falacioso dizer que a medida de segurança configura a prisão perpétua. A tendência contemporânea mundial é no sentido da plena responsabilização dos assassinos seriais, e isso é o correto do ponto de vista geral e social, uma vez que tal atitude resguarda a sociedade da presença perigosa de tais criminosos, colocando-os no cárcere, e do ponto de vista individual, tendo em vista que, ao permanecerem presos, não irão fazer mal aos outros nem a si próprios. Contudo, sabe-se que esses criminosos seriais, portadores do transtorno de personalidade antissocial, não aprendem com a punição, ou seja, de nada resolveria deixá-los por anos no cárcere, sem oferecer nenhum tratamento psicossocial, pois, como a experiência mostra, quando colocados novamente em liberdade voltam a transgredir. Não pode ser aceita a simplista explicação de que o indivíduo nasceu assim e, não tendo pedido para nascer, não teria culpa e, portanto, deveria ser desculpado e absolvido. Até porque esse “determinismo biológico” é muito perigoso, pois poderia igualmente retirar o livre-arbítrio e a responsabilidade de diversos criminosos. Se assim fosse, ninguém mais seria responsabilizado por nada. Entretanto, sabe-se que o homem é um ser pensante e com vontade, capaz de realizar escolhas e deliberações; portanto, tendo opções para agir, deve responsabilizar-se pelas escolhas. O Direito Penal funda-se na responsabilidade individual, e esta não pode ser cientificamente negada. Até porque ainda não existem tratamentos comprovados nem remédios que façam efeito para psicopatas. Agora, cabe à ciência começar a desvendá-los. 36 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 REFERÊNCIAS BALLONE, Geraldo José. Personalidade criminosa. In: PsiqWeb, 2002. Disponível em: <http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=185>. Acesso em: 14 de agosto de 2006. ______. Criminologia. In: PsiqWeb, 2005. Disponível em: <http://www.psiqweb. med.br//site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=22>. Acesso em: 1º de setembro de 2009. BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Flório de Angelis. Bauru: Edipro, 1997. BETIOLI, Antônio Bento. Introdução ao direito: lições de propedêutica jurídica. 7. ed. São Paulo: Letras & Letras, 2000. BONFIM, Edilson Mougenot. O julgamento de um serial killer (o caso do maníaco do parque). São Paulo: Malheiros, 2004. CAIRES, Maria Adelaide de F. Psicologia jurídica: implicações conceituais e aplicações práticas. São Paulo: Vetor, 2003. CASOY, Ilana. Serial killer – louco ou cruel? 2. ed. São Paulo: WVC, 2002. ______. Serial killers made in Brasil. 2. ed. São Paulo: Arx, 2004. CORDEIRO, José Carlos Dias. Psiquiatria forense: a pessoa como sujeito ético em Medicina e em Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. DOUGLAS, John & OLSHAKER, Mark. Mentes criminosas e crimes assustadores. 3. ed. São Paulo: Ediouro, 2002. DOTTI, René Ariel. Penas e medidas de segurança no Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1986. DSM-IV-TRTM – AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. FIORELLI, José O. Psicologia aplicada ao Direito. São Paulo: LTr, 2006. FONSECA, António Fernandes da. Psiquiatria e Psicopatologia. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio & GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. GOMES, Luiz Flávio. Duração das medidas de segurança. Revista de Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, n. 5, p. 1524, São Paulo, janeiro-março, 1990. Assassinos em série: uma questão legal ou psicológica? 37 ______. Medidas de segurança e seus limites. Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 1, n. 2, p. 66, São Paulo, abril-junho, 1993. HOLMES, David S. Psicologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. INGENIEROS, José. A vaidade criminal e a piedade homicida. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: LZN, 2003. KAPLAN, Harold I.; SADOCK, Benjamin J. & GREBB, Jack A. Compêndio de Psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 7. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Vol. 1. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2003. NEWTON, Michael. A enciclopédia do serial killer. São Paulo: Madras, 2005. SÁ, Alvino Augusto de. Homicidas seriais. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 7, n. 27, São Paulo, julho-setembro, 1999 SIMS, Andrew. Sintomas da mente: introdução à psicopatologia descritiva. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 38 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Anotações O desacordo moral razoável na sociedade plural do estado democrático de direito 39 3 O desacordo moral razoável na sociedade plural do estado democrático de direito The moral reasonable disagreement in plural society of the democratic state JOANA TEIXEIRA DE MELLO FREITAS Advogada; pós-graduada em Direito Constitucional, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG. E-mail para correspondência: [email protected]. RESUMO O desacordo moral razoável, termo cravado pela filosofia, constitui-se perante a ausência de consenso sobre uma questão polêmica cujos argumentos antagônicos são, ambos, originados de uma conclusão racional. O presente trabalho demonstra o significado da existência do desacordo moral razoável em uma sociedade plural de um Estado democrático. Palavras-chave: desacordo moral razoável, Estado democrático de direito, pluralismo. ABSTRACT The moral reasonable disagreement is a term used by the liberal political theory that consists in the non consensus before a question which contradictory arguments are, both, originated from a reasonable conclusion. This article shows the meaning of the existence of reasonable disagreement in a plural society of a Democratic State. Keywords : moral reasonable disagreement, democratic state, plural society. 40 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 1. INTRODUÇÃO O Supremo Tribunal Federal, recentemente, foi incumbido de responder a uma questão um tanto polêmica que levantou diversas vozes na sociedade brasileira. A questão envolve uma série de argumentos a favor e outros contra a interrupção da gestação de feto anencefálico. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 54, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, discute a possibilidade, diante da ordem constitucional brasileira, da interrupção da gestação nos casos de fetos anencefálicos. O mérito ainda não foi julgado, mas, em decisão de sua liminar, em 1º de julho de 2004, o Ministro Relator Marco Aurélio de Mello deferiu o pedido, aceitando os argumentos da Confederação de que a gestação seria uma tortura psicológica para a genitora. Entretanto, levada ao crivo do plenário, tal decisão não persistiu. Em outubro do mesmo ano, a liminar foi cassada pelo Plenário do STF, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Carlos Brito, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. A anencefalia é a má-formação fetal congênita em que o feto não apresenta hemisférios cerebrais ou o córtex, nem nunca apresentará. Trata-se de anomalia que resulta na inexistência de consciência, qualquer forma de cognição, vida social, comunicação e emotividade. Restam, apenas, parcialmente, algumas funções inferiores do sistema nervoso central, como a respiração, as funções vasomotoras e a medula espinhal. Mesmo assim, a expectativa de sobrevida, nesses casos, é de, no máximo, algumas horas após o parto. Essa gravidez é considerada uma gravidez de risco em que a própria saúde da gestante fica potencialmente perigosa, devido ao alto número de abortos espontâneos desses fetos. Aproximadamente, 65% dos fetos anencefálicos morrem quando ainda no útero da mãe1. A medicina não apresenta nenhuma solução ou qualquer tipo de intervenção que possa reverter o diagnóstico, e o exame que detecta tal anomalia é considerado praticamente infalível. Diante deste quadro, a ADPF n. 54 traz à tona duas posições opostas, construídas sobre fundamentos razoáveis. Por um lado, a posição a favor da interrupção de tal gravidez traz diversos argumentos, dentre eles a inexistência de vida humana, já que não há a formação completa do sistema nervoso; a dignidade da mãe, que passa por situação análoga à tortura; e outros que não cabe a esse 1 DINIZ, Ribeiro apud BARROSO, Luiz Roberto. Gestação de fetos anencefálicos e pesquisas com células-tronco: dois temas acerca da vida e da dignidade na Constituição. In: NOVELINO, Marcelo (Org.). Leituras complementares de Direito Constitucional: direitos humanos e direitos fundamentais. Salvador: Jus Podivm, 2008. p. 177. O desacordo moral razoável na sociedade plural do estado democrático de direito 41 artigo explanar. A posição contrária, avessa à interrupção da gravidez no caso de feto anencefálico, apresenta, também, seus argumentos. Seu principal fundamento é a defesa do direito à vida do feto, que não deixa de ser um potencial de vida humana, uma vez que a vida não se dá apenas com a formação saudável do sistema nervoso central, mas com a fecundação. Luiz Roberto Barroso, então, posicionando-se na questão, em artigo de sua autoria, apontou que tal polêmica se insere no que a filosofia chama de desacordo moral razoável. Não discorrendo muito sobre o assunto, o autor ensinou que “o desacordo moral razoável é aquele que tem lugar diante da ausência de consenso entre posições racionalmente defensáveis”2. Neste ponto, surge o interesse deste trabalho. O que se pretende é esclarecer a questão do desacordo moral razoável e a posição do Estado democrático de direito diante de questões polêmicas que sejam entendidas como tal. Já que a pluralidade é característica ontológica de um Estado democrático, seu posicionamento diante de questões que não são acolhidas por um consenso deve ser de respeito e tolerância ou de imposição para assegurar o bem comum? Para tentar responder a essa pergunta, foram trazidos a exame alguns casos considerados por se caracterizarem como desacordos morais razoáveis que aconteceram no País e no Direito comparado, além dos ensinamentos doutrinários sobre o assunto. Entretanto, antes de se chegar a esse ponto, cumpre destacar que as questões consideradas como desacordos morais razoáveis que serão tratadas nesse trabalho não são questões que versam sobre a escolha de políticas públicas, como formação da vontade do Estado (ideia de justiça, de políticas sociais, dentre outras). O que se abordará são questões mais próximas ao indivíduo, que dizem respeito a uma esfera mais íntima, ligada, mesmo, às suas concepções morais. É isso que será visto adiante. 2. O DESACORDO MORAL RAZOÁVEL Em uma sociedade democrática moderna, segundo explicado por John Rawls3, em seu livro O liberalismo político, é comum a existência de um pluralismo de ideias religiosas, filosóficas e morais que são incompatíveis entre si. Essas ideias, apesar de incompatíveis, não perdem seu caráter de ser razoáveis. Isso porque surgem de procedimentos que expressam princípios e concepções requeridos pela razão prática. 2 3 Ibid., p. 180. RAWLS, John. El liberalismo político. Barcelona: Crítica, 2006, passim. 42 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 A origem do desacordo moral vem sendo discutida há muitos séculos. David Hume4, no século XVIII, argumentava que somente em condições de escassez moderada é que os conflitos morais surgem, demandando uma justa solução. Onde haja abundância, de modo que todos tenham o suficiente para satisfazer seus desejos, a justiça se tornaria uma cerimônia inútil. Conflitos morais que demandam soluções justas simplesmente não iriam surgir. Hume sugeriu que extrema escassez também eliminaria o desacordo moral. A razão é que, presumivelmente, os conflitos sobre os bens em situação tão desesperante seriam resolvidos pela força. Gutmann & Thompson5 acrescentaram a esse argumento a incompatibilidade de valores e o entendimento incompleto como causas originárias do desacordo moral razoável. Jeremy Waldron6, ao explicar a teoria de Rawls, distinguiu dois modelos de desacordo, um ligado a princípios políticos e outro ligado a um desacordo filosófico sobre o bem em uma sociedade pluralista. Este último, o desacordo moral razoável, inclui desacordos entre argumentos religiosos e, também, entre concepções seculares sobre o bem, como o hedonismo, o asceticismo, o intelectualismo e vários argumentos éticos de autodesenvolvimento e de autorrealização. Assim, por exemplo, um católico liberalista pode concordar mais com o marxista cético do que com seu colega católico conservador sobre questões que envolvam o bem comum. Pode-se perceber, então, que as questões morais envolvidas em um desacordo moral estão ligadas a diversas esferas de um indivíduo. Marilena Chauí7 apontou como elementos do senso moral de cada um a consciência de si, definindo seus próprios valores e sua própria conduta, e a percepção do outro, respeitando os valores do próximo e tolerando a sua conduta. Os desacordos ligados a princípios políticos, por sua vez, demandam critérios de maior legitimidade. Como vinculam a coletividade, requerem ser justificáveis ao máximo para que todos se submetam àquela decisão. Gutmann & Thompson8 (2000) apontaram três características de argumentos morais importantes nas decisões políticas: reciprocidade – devem ser usadas razões compartilhadas ou que poderiam ser compartilhadas pelos cidadãos; publicidade – discussões em arenas e fóruns públicos; e responsabilidade. 4 HUME, David apud GUTMANN, Amy & THOMPSON, Dennis. Democracy and disagreement. Cambridge: Harvard University Press, 2000. p. 21. 5 Ibid., p. 22. 6 WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. New York: Oxford University Press, 2004. p. 149-150. 7 CHAUÍ, Marilena apud BARROSO, Luiz Roberto. Op. cit., p. 181. 8 GUTMANN, Amy & THOMPSON, Dennis. Op. cit., passim. O desacordo moral razoável na sociedade plural do estado democrático de direito 43 Na busca dessa legitimidade, Rawls9, Gutmann & Thompson10 e Waldron11 defenderam, cada um à sua maneira e com seus argumentos, apesar de próximos, a deliberação democrática como ponto legítimo de tomada de decisões e questionaram os meios institucionais adotados, na atualidade, para tanto, como a decisão tomada pela maioria ou o controle judicial, o judicial review. Gutmann & Thompson12 chegaram a afirmar que os princípios deliberativos podem injetar coerência moral e racionalidade no processo democrático. Ao encorajar um senso de propósito moral coletivo, a democracia deliberativa pode expressar uma concepção de bem comum mais completa possível em uma sociedade moralmente pluralista. Ademais, a deliberação pode clarear a natureza do conflito moral, ajudando a distinguir entre o moral, o amoral e o imoral, e entre compatível, os valores incompatíveis. Dessa forma, comparado a outros métodos de fazer decisões, a democracia deliberativa aumenta as chances de se chegar a políticas justificáveis. Entretanto, não é este o foco do presente trabalho. Pretende-se abordar o desacordo moral razoável, desacordo entre concepções morais, filosóficas e, até, religiosas dos indivíduos da coletividade; questões mais próximas ao indivíduo. Quando esse desacordo é enfrentado pelo Estado democrático, interessa saber se ele deve decidir em favor de uma posição ou permitir que cada um siga o seu próprio entendimento. Isso porque é certo que a decisão impositiva tomada pelo Estado vincula todos, tanto aqueles que concordam com a posição tomada como aqueles que lhe são contrários. Não interessa, aqui, discorrer sobre tomadas de decisões políticas e suas fontes de legitimidade. Entende-se, com Luiz Roberto Barroso13, que são necessários consensos mínimos em uma sociedade e que estes devem ser guardados pela Constituição de um Estado. Direitos essenciais ao funcionamento de um regime democrático, como a dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, participação popular não podem ser subtraídos dos órgãos deliberativos que decidem pela vontade da maioria, uma vez que acabam garantindo o próprio espaço do pluralismo político. No entanto, o que se quer abordar são questões que estão longe desses chamados consensos mínimos e que envolvem o indivíduo em sua esfera de vida particular. 9 RAWLS, John. Op. cit., passim. GUTMANN, Amy & THOMPSON, Dennis. Op. cit., passim. 11 WALDRON, Jeremy. Op. cit., passim. 12 GUTMANN, Amy & THOMPSON, Dennis. Op. cit., passim. 13 BARROSO, Luiz Roberto. Op. cit., p. 200. 10 44 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 2.1. Exemplos atuais e reais do desacordo moral razoável Na introdução deste trabalho, inseriu-se o caso da interrupção da gestão de feto anencefálico que, hoje, aguarda resolução no Supremo Tribunal Federal. Como demonstrado, o caso traz duas posições razoáveis, pois construídas por princípios da razão, mas que levam a soluções diametralmente diversas. Além desse caso, o Supremo Tribunal Federal decidiu, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.510, pela constitucionalidade da Lei n. 11.105, de 2005, a chamada Lei de Biossegurança. Esse foi um assunto que levantou diversas vozes opostas, cada qual com seus argumentos moralmente razoáveis. A referida lei disciplina a pesquisa com células-tronco embrionárias, autorizando o uso daquelas obtidas de embriões humanos, produzidos mediante fertilização in vitro, que não foram transferidos para o útero materno, após o consentimento dos genitores e a adequação a diversos requisitos impostos na lei. Por um lado, havia os argumentos a favor da constitucionalidade da lei, que afirmavam não serem aqueles embriões vidas humanas, uma vez que não seriam, nunca, implantados no útero materno, condição sine qua non para a formação humana. Levantavam, ainda, a importância dessas pesquisas e o bem que elas poderiam atingir a inúmeras pessoas que sofrem de diversas doenças e que poderiam se beneficiar do uso de células-tronco. A posição oposta, contra o uso das células embrionárias, defendia o direito à vida daqueles embriões que seriam potenciais de vida humana, destacando, também, o perigo que essas pesquisas poderiam gerar, como a clonagem humana e a seleção da espécie. Por fim, o Supremo acolheu a primeira posição, declarando a constitucionalidade da lei. Concorda-se, mais uma vez, com Luiz Roberto Barroso14 ao afirmar que o Congresso Nacional, com a edição da referida lei, permitiu o respeito ao pluralismo, isto é, a autonomia de cada um, já que não obrigou ou alienou a participação dos genitores no processo, mas, ao contrário, determinou como requisito do uso das células embrionárias em pesquisas o seu consentimento. Assim, cada um está apto a agir de acordo com sua moral pessoal. A Suprema Corte Norte-Americana também já se deparou com casos que envolvessem desacordo moral razoável. Em 1965, julgou o caso Griswold v. Connecticut15, que se tornou um precedente na Corte. O caso envolvia uma lei do Estado americano de Connecticut, que proibia o uso de contraceptivos. A lei 14 15 Ibid., p. 202. US Supreme Court. Griswold v. Connecticut. 381 U.S. 479, 1965. O desacordo moral razoável na sociedade plural do estado democrático de direito 45 determinava como crime o uso de qualquer remédio, artigo medicinal ou instrumento com o propósito de prevenção contraceptiva. A Suprema Corte julgou pela inconstitucionalidade da lei, fundamentandose na proteção constitucional ao direito à privacidade, inserido na garantia do devido processo legal da 14ª Emenda, que assim dispõe: [...] Nenhum Estado fará ou imporá nenhuma lei que restrinja os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal ou negar qualquer pessoa sob sua jurisdição a igual proteção das leis. (Tradução da autora.).16 Essa foi uma decisão que valorizou a liberdade do indivíduo de qualquer imposição arbitrária e limitações sem propósitos. Garantiu-se, assim, que a decisão de planejamento familiar de um casal cabe exclusivamente a este, sendo assunto privado do casal com seu médico. Em um momento mais recente, a Suprema Corte Americana julgou o caso Lawrence v. Texas17. Lawrence e Garner, 55 e 31 anos, respectivamente, à época, homossexuais, foram presos, em 1998, em Houston, Texas, por praticarem atos sexuais consensuais íntimos no interior de sua casa. Informado por uma denúncia anônima, o xerife, dentro do apartamento de Lawrence, os prendeu e os enquadrou na lei texana que proibia certas formas de contatos sexuais íntimos entre membros do mesmo sexo. A Corte declarou que o estatuto texano não possuía nenhum legítimo interesse que pudesse justificar sua intromissão na vida pessoal e privada do indivíduo. Este caso é alarmante, já que muito recente, e, portanto, talvez leve ao extremo radical de imposição de um argumento moral por parte do Estado texano. Essa extremidade poderia até descaracterizar o caso como desacordo moral, levando-o ao conceito de rigorismo moral por parte do Estado, sendo este o polo extremo, oposto ao laxismo moral, da conduta moral correta. No entanto, presta ilustrar uma questão que envolve, ainda hoje, desacordo (a igualdade entre casais homossexuais e heterossexuais). Em uma sociedade pluralista, como a do Texas, nos Estados Unidos, há espaço para argumentos contra e a favor dessa igualdade. 16 “No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”. UNITED STATES OF AMERICA. The Constitution of the United States, 1868. Disponível em: <http:// www.usconstitution.net/const.html>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2009. 17 US Supreme Court. Lawrence v. Texas. 381 U.S. 479, 2003. 46 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Porém, o que não parece razoável é a intromissão do Estado na esfera mais íntima dos indivíduos para impor o seu posicionamento, mesmo que este seja o da maioria. Tal ação é incompatível com um Estado democrático, que não subsiste sem o espaço para a liberdade e a igualdade dos seus cidadãos. São vários casos, em todo o mundo, que abarcam desacordos morais razoáveis de questões próximas ao indivíduo. Outro exemplo foi a edição da lei francesa, publicada em 2004, que proibiu o uso de véus islâmicos nas escolas da França (e de outros artigos religiosos distintivos). A questão levantou tal revolta no mundo mulçumano que resultou em um sequestro, no Iraque, de repórteres franceses, com a exigência da revogação da referida lei para libertá-los. A lei entrou em vigor próximo ao Dia Internacional da Mulher e foi justificada pelo então Presidente Jacques Chirac, que declarou que as escolas não são lugares de promoção ou refutação de qualquer religião e que a lei estava baseada nos princípios da laicidade e nas fundações da República Francesa18. O uso do véu para as jovens mulçumanas é sustentado por um dever religioso muito forte. Para algumas, pode ser, sim, instrumento de subordinação, mas, para outras, que de fato creem nas consequências religiosas e morais de seu não uso, em sua comunidade, consiste em algo muito sério. Mais uma vez, trata-se de uma imposição estatal de um argumento moral razoável, construído por princípios de racionalidade, que suprimem e vinculam aqueles que se situam na posição contrária, que também é construída por princípios da racionalidade (mesmo que advenham de concepções religiosas, já que esse fato não exclui o caráter razoável de seus argumentos, segundo Rawls19) e, portanto, um argumento moral razoável. O que se percebe, nesses últimos casos apontados, é o impacto do posicionamento do Estado quando este impõe um determinado argumento moral razoável em detrimento de outro, sem que haja justificação para aqueles que serão submetidos e vinculados a essa imposição. Democratas procedimentalistas e constitucionalistas concordam, como apontaram Gutmann & Thompson20, que as instituições democráticas não são justificadas, a não ser que rendam, geralmente, resultados moralmente aceitáveis. Instituições democráticas que produzem políticas que negam a alguns cidadãos liberdade de expressão ou outra oportunidade básica de viver uma vida decente devem ser rejeitadas com base em argumentos morais. A possibilidade dessa imposição estatal, diante de desacordos morais razoáveis, é o que será analisado em seguida. 18 DREYER, Diogo. A França sem o véu. In: Portal Aprende Brasil, 2004. Disponível em: <http://www. aprendebrasil.com.br/noticiacomentada/040109_not01.asp>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2009. 19 RAWLS, John. Op. cit., passim. 20 GUTMANN, Amy & THOMPSON, Dennis. Op. cit., passim. O desacordo moral razoável na sociedade plural do estado democrático de direito 47 3. A POSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DESACORDO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Primeiramente, buscando um conceito, Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Gustavo Branco explicaram que se entende como Estado democrático de direito a organização política em que o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes, escolhidos em eleições livres e periódicas, mediante sufrágio universal e voto direto e secreto, para o exercício de mandatos periódicos, como proclama, dentre outras, a Constituição brasileira. Mais ainda, segundo os autores, já no plano das relações concretas entre o Poder e o indivíduo, considera-se democrático aquele Estado de direito que se empenha em assegurar aos seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos direitos civis e políticos, mas também e, sobretudo, dos direitos econômicos, sociais e culturais, sem os quais de nada valeria a solene proclamação daqueles direitos21. Acrescentase o caráter do império objetivo da lei que determina a submissão da sociedade civil e do Estado à lei objetiva e válida para todos, além de estabelecer as competências das autoridades estatais, legitimando suas ações. Ademais, os autores acima mencionados trouxeram como um exemplo de norma que abarca os princípios que envolvem o conceito de Estado de democrático de direito o artigo I-2º da Constituição da União Europeia, que assim dispõe: A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito dos direitos, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos Estados-Membros, numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre mulheres e homens22. Percebe-se, com esse dispositivo, que a democracia moderna parte do pressuposto da pluralidade quando garante a legitimidade da decisão por maioria, mas, ao mesmo tempo, resguarda os direitos da minoria. E assim o faz a Constituição brasileira quando institui, como fundamento, a soberania popular e os meios de tomada de decisão pelo critério da representação, além de assegurar a participação popular por diversas maneiras. São esses, aliás, traços essenciais da democracia moderna: a representação e a participação. Rodolfo Pereira ensinou que: 21 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires & MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 149. 22 UNIÃO EUROPEIA. Tratado que estabelece uma Constituição para a União Europeia, 2004. Disponível em: <http://www.sim.21publish.com/Tratado>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2009. 48 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 [...] a função representativa, por um lado, associa-se, desde sua origem, à dinâmica da representação dos interesses e, com isso, tende a reconhecer e garantir o pluralismo ínsito às sociedades atuais. Continua, dizendo que a função participativa, por seu turno, prende-se desde as origens às teses da vontade pública/geral e, portanto, tende a estimular [...] ilhas de consenso necessárias ao encaminhamento, processamento e solução das divergências23. John Rawls24 abordou o tema, afirmando ser o pluralismo razoável um resultado inevitável de instituições livres. Assim, a pluralidade será sempre um traço de um regime democrático legítimo. Segundo o referido autor, faz parte da tradição do pensamento democrático a concepção das pessoas como livres e iguais. A ideia básica é que, em virtude de suas faculdades morais (uma capacidade para um sentido da justiça e para uma concepção do bem) e das faculdades da razão (de juízo, pensamento e as inferências vinculadas com essas faculdades), as pessoas são livres. A posse dessas faculdades em grau mínimo requerido para ser membro cooperante da sociedade faz com que as pessoas sejam iguais. O desacordo moral razoável não rechaça os elementos essenciais de um regime democrático. Ao contrário, tendo o pluralismo como traço essencial da democracia moderna, caso se tenha que desacordar moralmente sobre políticas públicas, melhor que seja em uma democracia que respeite ao máximo possível o arcabouço moral de cada um. 4. A POSIÇÃO DO ESTADO EM FACE DO DESACORDO MORAL RAZOÁVEL Como se viu, as noções de pluralidade, liberdade e igualdade do cidadão são intrínsecas ao conceito de democracia moderna. Rawls25 sustentou que, como cidadãos livres e iguais, devem ser-lhes garantidos princípios de tolerância que consistem em deixar que eles próprios resolvam as questões de religião, filosofia e moral em concordância com o ponto de vista que professam livremente, sendo que a concepção política protege os direitos básicos de todos. Claro que isso se limita, como afirmado pelo autor em tela, aos direitos básicos do outro e nos consensos mínimos da própria ordem. O que ele acabou por afirmar é que o Estado deve abster-se de entrar especificamente em tópicos morais que dividam as doutrinas compreensivas. 23 PEREIRA, Rodolfo Viana. Direito Constitucional democrático. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. RAWLS, John. Op. cit., passim. 25 Ibid., passim. 24 O desacordo moral razoável na sociedade plural do estado democrático de direito 49 Rawls26 demonstrou, ainda, que as instituições do Estado justo precisam ser neutras no resguardo de qualquer particular teoria do bem que cada cidadão deve perseguir. Essa neutralidade abarca três caracteres básicos: 1. a ideia de racionalidade definida como a possibilidade de indivíduos provenientes de diferentes experiências culturais trabalharem uns com os outros politicamente e tolerarem as culturas de cada um; 2. a ideia de um consenso sobreposto, que precisa ser ampla o suficiente para abarcar conjuntamente culturas distintas a serem consideradas pelos diversos campos de regulação governamental e pela legislação; 3. a autonomia dos cidadãos do Estado justo, na esfera pública, invocando a ideia de razão pública, cidadãos como membros ativos do debate, da legislação e da revisão constitucional. Resta, assim, demonstrado que a defesa rawlsiniana sobre o papel do Estado diante de desacordos morais razoáveis é permitir espaço para a autonomia dos cidadãos, de modo a agirem de acordo com seu arcabouço moral, respeitado os direitos básicos dos outros. Dessa forma, o Estado respeita a pluralidade de sua sociedade, garantindo seu aspecto de Estado livre, justo e democrático. No mesmo sentindo, concluiu Luiz Roberto Barroso: Não se trata de pregar, naturalmente, um relativismo moral, mas de reconhecer a inadequação do dogmatismo onde a vida democrática exige pluralismo e diversidade. Em situações como essa [interrupção da gestação de feto anencefálico], o papel do Estado deve ser o de assegurar o exercício da autonomia privada, de respeitar a valoração ética de cada um, sem a imposição externa de condutas imperativas.27 5. CONCLUSÃO O desacordo moral razoável é constituído pela ausência de consenso em questões cujas posições, que apontam para soluções diversas, são construídas por processos razoáveis. Razoáveis no sentido de serem produtos de procedimentos da razão. Tais posições podem ser morais, filosóficas e até religiosas, o que não retira o seu caráter de razoáveis, uma vez que são construídas por argumentos partilhados ou que poderiam ser partilhados pelos membros que participam ou são atingidos pela discussão. 26 BIRD, Colin. Democracy and its nightmares. In: The Hedgehog Review, Spring, 2000. Disponível em: <http://www.virginia.edu/iasc/HHR_Archives/Democracy/2.1JBird.pdf>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2009. 27 BARROSO, op. cit., p. 181. 50 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Esses desacordos se fazem presentes em um Estado democrático, já que, existindo instituições livres, que garantam o pluralismo, a liberdade e igualdade dos cidadãos, estes podem seguir e demonstrar suas concepções nas discussões que lhes são importantes. Em especial, no caso de questões que envolvam decisões relacionadas à vida privada do indivíduo, relacionadas à sua intimidade, às suas convicções religiosas e à sua dignidade, por exemplo, o Estado democrático deve permitir um espaço para que o indivíduo possa agir de acordo com suas concepções morais razoáveis, exercendo sua autonomia. Isso, claro, não exclui os direitos básicos garantidos a todos, nem as instituições de consenso mínimo na Constituição, mas, ao contrário, é por eles limitado. Nesse sentido, o Estado democrático não deve impor aos seus membros uma das posições de um argumento moral razoável, ciente de que essa imposição poderia vincular indivíduos cujas concepções são opostas a ela. É certo que a decisão do Estado vai além da esfera pessoal de um cidadão, mas, envolvendo questões que afetam sua vida privada, íntima, o Estado deve evitar impor uma das posições; ao contrário, deve garantir o exercício da autonomia de cada um, de acordo com seus posicionamentos. O presente trabalho procurou explanar esse conceito filosófico do desacordo moral razoável e demonstrar, por meio de casos concretos, como o Estado pode se abster, em determinadas esferas, para permitir a autonomia de cada cidadão. Nesse sentido, o legislador não criminalizar determinada conduta, por exemplo, não significa sua imposição. Nesse caso, cada indivíduo poderá escolher exercer ou não essa conduta, de acordo com suas concepções morais. O mesmo acontece com o Judiciário: impor, por suas decisões, posições que suprimam outros argumentos morais razoáveis deve ser evitado ao máximo, principalmente quando se tratar de questões mais próximas ao centro íntimo do indivíduo. Isso é característica de respeito ao pluralismo de uma sociedade democrática moderna. REFERÊNCIAS BARROSO, Luiz Roberto. Gestação de fetos anencefálicos e pesquisas com célulastronco: dois temas acerca da vida e da dignidade na Constituição. In: NOVELINO, Marcelo (Org.). Leituras complementares de Direito Constitucional: direitos humanos e direitos fundamentais. 3. ed. Salvador: Jus Podivm, 2008. BIRD, Colin. Democracy and its nightmares. In: The Hedgehog Review, Spring, 2000. Disponível em: <http://www.virginia.edu/iasc/HHR_Archives/Democracy/ 2.1JBird.pdf>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2009. O desacordo moral razoável na sociedade plural do estado democrático de direito 51 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 2008. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires & MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. BROCHADO, Mariá. Consciência moral e consciência jurídica. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. ______. Direito e ética: a eticidade do fenômeno jurídico. São Paulo: Landy, 2006. DREYER, Diogo. A França sem o véu. In: Portal Aprende Brasil, 2004. Disponível em: <http://www.aprendebrasil.com.br/noticiacomentada/040109_not01.asp>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2009. EISGRUBER, Christophe L. Democracy and disagreement: a comment on Jeremy Waldron’s Law and Disagreement. Disponível em: <http://www.1law.nyu.edu/journals/legislation/ issues/vol6num1/eisgruber.pdf>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2009. GÉNY, François. Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo. 2. ed. Madrid: Reus, 1925. GUTMANN, Amy & THOMPSON, Dennis. Democracy and disagreement. 3. ed. Cambridge: Harvard University Press, 2000. PEREIRA, Rodolfo Viana. Direito Constitucional democrático. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. RAWLS, John. El liberalismo político. Barcelona: Crítica, 2006. SALGADO , Joaquim Carlos. A ideia de Justiça no mundo contemporâneo: fundamentação e aplicação do Direito como maximum ético. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. UNIÃO EUROPEIA. Tratado que estabelece uma Constituição para a União Europeia, 2004. Disponível em: <http://www.sim.21publish.com/Tratado>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2009. UNITED STATES OF AMERICA. The Constitution of the United States, 1868. Disponível em: <http://www.usconstitution.net/const.html> Acesso em: 02 de fevereiro de 2009. US SUPREME COURT. Griswold v. Connecticut. 381 U.S. 479, 1965. ______. Lawrence v. Texas. 381 U.S. 479, 2003. WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2004. 52 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Anotações Desconsideração da pessoa jurídica: uma análise sob três perspectivas 53 4 Desconsideração da pessoa jurídica: uma análise sob três perspectivas Disregard of legal entity: an analysis under three perspectives ZILDA MARA CONSALTER Mestre em Direito Negocial, pela Universidade Estadual de Londrina – UEL, no Paraná; professora das disciplinas de Direito Civil e Metodologia da Pesquisa Jurídica nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, no Paraná; líder do Grupo de Pesquisa em Direito Obrigacional (http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=5471268018863867); advogada; coautora de Negócio jurídico: aspectos controvertidos à luz do novo Código Civil (São Paulo: Mundo Jurídico, 2005. 228 p.) e autora de Direito das obrigações em debate: estudos sobre temas contemporâneos da teoria obrigacional (Ponta Grossa: Eduepg, in press). E-mail para correspondência: [email protected]. VINICIUS DALAZOANA Acadêmico do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, no Paraná; membro pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direito Obrigacional (http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=547126801 8863867). RESUMO O presente artigo investiga as três principais teorias aplicáveis para conferir efetividade aos processos em que pessoas jurídicas são executadas. Apresenta, ainda, aspectos identificadores, raízes históricas, pressupostos de aplicabilidade e efeitos de cada teoria. Além disso, retrata como se posicionam doutrina e tribunais com relação às três técnicas, indicando qual a mais adequada a cada fattispecie. Palavras-chave: pessoa jurídica, desconsideração, despersonalização inversa, teoria da aparência. ABSTRACT It investigates the three main theories applied to give effect to the Lawsuits which legal entities are executed. It shows aspects that identifies it, historical roots, prerequisites for application and effects of each one. It shows how doctrine and Courts position themselves related to those techniques, indicating which one is more adequate for each case. Keywords: legal entity, disregard, depersonalization reverse, appearance theory. 54 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 1. NOTA INTRODUTÓRIA As teorias da desconsideração da personalidade jurídica são instrumentos de relevante utilidade prática, mas com vários requisitos de aplicabilidade que podem despertar muitas dúvidas tanto no pleito pelos causídicos quanto na sua aplicação pelos magistrados. Disto surgiu a ideia de realizar um estudo sob as três perspectivas mais atuais desta possibilidade: primeiro, delinear-se-á o atual “estado da arte”; depois, encarregar-se-á de destacar os principais aspectos da teoria da desconsideração inversa e, por derradeiro, apresentar-se-ão os meandros da teoria da aparência. Essa postura se justifica em razão não somente da já mencionada aplicabilidade e utilidade dos institutos, mas também devido à confusão entre as suas subespécies e, por vezes, ao desconhecimento de seus pressupostos de uso pela comunidade jurídica. 2. DA DESCONSIDERAÇÃO CONVENCIONAL Impende mencionar que a desconsideração da personalidade jurídica – a que se chamará de convencional apenas para diferenciá-la das outras duas – constitui-se em técnica de aperfeiçoamento da pessoa jurídica, porquanto a ausência de parâmetros para desprezar a personalidade do ente moral poderia levar ao desvirtuamento do instituto1. Neste diapasão, insta sublinhar que o mero débito insatisfeito perante a sociedade não autoriza a sua desconsideração. Há outros pressupostos. Gagliano & Pamplona Filho2 revelaram a adoção da formulação objetiva da desconsideração, sendo a ideia majoritária no Direito pátrio: [...] a teoria da desconsideração visa o (sic) superamento episódico da personalidade jurídica da sociedade, em caso de fraude, abuso ou simples desvio de função, objetivando a satisfação de terceiro lesado junto ao patrimônio dos próprios sócios, que passam a ter responsabilidade pessoal pelo ilícito causado. Pode-se dizer que duas são as concepções desta teoria, a seguir explicitadas. A objetivista, consagrada por Comparato3, que prescinde do elemento anímico para desconsiderar a personalidade, facilitando sobremaneira a produção de provas, tutelando com muito mais efetividade interesses de terceiros. Nesta, a 1 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 38. GAGLIANO, Pablo S. & PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil. Vol. I. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 228. 3 COMPARATO, Fábio Konder. apud COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit., p. 45. 2 Desconsideração da pessoa jurídica: uma análise sob três perspectivas 55 personalidade jurídica será desconsiderada sempre que configurado o desvio de função ou a confusão patrimonial4. A subjetivista, que elege a fraude como pressuposto fundamental. Insta, ainda, para início de discussão, destacar a principal vantagem da teoria da desconsideração, apresentada por Coelho5: [...] aplicação da teoria da desconsideração não importa a dissolução ou anulação da sociedade. Apenas no caso específico em que a autonomia patrimonial foi fraudulentamente utilizada, ela não é levada em conta, é desconsiderada, o que significa a suspensão episódica da eficácia do ato de constituição da sociedade, e não o desfazimento ou a invalidação desse ato (grifou-se). Historicamente, o primeiro caso a tangenciar a teoria da desconsideração, embora não estejam nele presentes os fundamentos de aplicabilidade, foi o famoso “Bank of United States vs. Deveaux”, de 18096. Já o caso “Salomon vs. Salomon e Co.”, de 1897, é considerado o leading case7: Aaron Salomon constituiu uma sociedade com seis membros de sua família, atribuindo a cada um uma ação, ficando ele com as 20 mil restantes. Posteriormente, emitiu títulos privilegiados de crédito em nome da empresa, e adquiriu-os como pessoa natural. Sobrevindo a falência da sociedade, Salomon preferiu aos credores quirografários e executou todo o patrimônio líquido da empresa. Não obstante a House of Lords apregoar a separação estanque dos patrimônios, a tese desconsiderante repercutiu na Europa e nos Estados Unidos8. Forçoso é citar, também, o caso “State vs. Standard Oil Co.”, julgado pela Suprema Corte de Ohio, nos EUA, em 1892: “em que o poder de controle gerencial de nove empresas petrolíferas concentrou-se nas mãos de acionistas dessa companhia, sem qualquer alteração na estrutura e na autonomia das sociedades concorrentes”9. O Direito inglês foi o pioneiro também na positivação da teoria, não obstante não fazer menção a ela expressamente; a norma situava-se na seção 279 do Companies Act, de 192910. 4 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo Direito Societário. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 211. COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit., p. 43. 6 NAHAS, Thereza Cristina. Desconsideração da pessoa jurídica: reflexos civis e empresariais no Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 96. 7 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro – teoria geral das obrigações. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 9. 8 SILVA, Alexandre Alberto T. da. A desconsideração da personalidade jurídica no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 63-65. 9 COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit., p. 53. 10 Ibidem, p. 49. 5 56 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Já a tese doutoral de Rolf Serick (Universidade de Tübigen, década de 1950) constitui-se na primeira sistematização da teoria, tendo definido os parâmetros de aplicação da mesma com fulcro, mormente, na jurisprudência estadunidense. No Direito nacional, o precursor foi Rubens Requião, no artigo “Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica”, publicado na RT n. 410, em 196911, destacandose também os trabalhos de Fábio Konder Comparato e José Lamartine Corrêa de Oliveira. Na legislação, a teoria apareceria apenas décadas mais tarde: o primeiro diploma legal a albergá-la foi o Código do Consumidor (Lei n. 8.078/90), em seu art. 28: [...] o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] §5º: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Os dispositivos sequenciais a este primeiro foram: a Lei Antitruste (Lei n. 8.884/94, artigo 18), a Lei Pelé (Lei n. 9.615/95, artigo 27), a Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98, artigo 4º) e por fim, o Código Civil, artigo 50, todos com termos parecidos ao do dispositivo alhures transcrito. Impende, ainda, lembrar que o parágrafo 2º do artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional – CTN referem-se ao termo responsabilidade, e não desconsideração, como observaram Gonçalves12, Silva13 e Oliveira14. Também é impossível não lançar um repto ao “silêncio eloquente” do ordenamento brasileiro quanto à disciplina processual da matéria. Seria de bom alvitre uma lei processual que regulasse a temática, escoimando os litígios das amiúdes dubiedades. Quanto aos tribunais, do exame jurisprudencial, destaca-se a decisão na sequência, com o fito de ilustrar a forma pela qual vêm se manifestando os magistrados: A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente 11 REQUIÃO, Rubens apud SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 274. GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 64. 13 SILVA, Alexandre Alberto T. da. Op. cit., p. 119-120. 14 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 529. 12 Desconsideração da pessoa jurídica: uma análise sob três perspectivas 57 para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova da insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) (sic), ou a demonstração da confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). (STJ, RE n. 279.273/2003, Rel. Min. Nancy Andrighi). Como visto, a jurisprudência brasileira é, de certo modo, reticente na aplicação do instituto. Isto se deve, possivelmente, ao fato de que geralmente faz-se uma intelecção regra/exceção, tratando a separação patrimonial como regra e o uso desvirtuado da personalidade como exceção. Esta exceção pode dar-se tanto pela fraude – formulação subjetiva – como pela disfunção ou confusão de esferas – formulação objetiva. O maior crítico deste posicionamento é Salomão Filho15, que apregoou que “as soluções, mesmo sem admiti-lo, tendem sempre a um raciocínio regra/exceção” e destacou: “na jurisprudência, fazem-se sentir fortemente as influências dessa impostação funcional-unitária da doutrina”. Assim, é mister enfatizar a destacada utilidade prática da teoria da desconsideração e, outrossim, lembrar que sua variabilidade concreta é maior do que costumeiramente se afirma no Direito pátrio. Na hercúlea tarefa de aperfeiçoamento do instituto, salutar é a preleção de Fabio Ulhoa Coelho16, que arrematou esse primeiro tópico: [...] a melhor interpretação judicial dos artigos sobre a desconsideração é a que prestigia a contribuição doutrinária, respeita o instituto da pessoa jurídica, reconhece a sua importância para o desenvolvimento das atividades econômicas e apenas admite a superação do princípio da autonomia patrimonial quando necessária à repressão de fraudes e à coibição do mau uso da forma da pessoa jurídica. Daí se extrai, também, mais um reflexo da aplicação desta teoria, qual seja, a de coibir ou mitigar os abusos dos devedores que usam a pessoa jurídica como “cortina de fumaça” para esgueirar-se dos seus credores e da força do Poder Judiciário, apresentando-se em importante e eficaz ferramenta de entrega da prestação jurisdicional a todos os que dela necessitam. 15 16 SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 229. COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit., p. 54. 58 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 3. DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA A desconsideração inversa é técnica punitiva, de sorte a exigir presentes todos os seus pressupostos de aplicabilidade. Conquanto tais pressupostos muito se assemelhem aos da desconsideração tradicional, a fraude que a desconsideração inversa geralmente coíbe é o desvio de bens17. Neste diapasão, sufragaram Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho que a desconsideração invertida [...] se dá quando o indivíduo coloca em nome da empresa seus próprios bens, visando a prejudicar terceiro. [...] Em tal caso, deverá o juiz desconsiderar inversamente a personalidade da sociedade empresária para atingir o próprio patrimônio social, que pertence, em verdade, à pessoa física fraudadora18. À guisa de definição, transcreve-se a preleção de Fabio Ulhoa Coelho: “Desconsideração inversa é o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio”. (grifou-se)19. Insta, ainda, lembrar a necessidade de se proteger o patrimônio social, bem como os credores da sociedade. Destarte, a desconsideração em sentido inverso deve ser limitada ao valor anteriormente desviado para o ente moral, conforme propugnou Calixto Salomão Filho: No caso imaginado, de transferência indevida de recursos à sociedade, a simples devolução da contrapartida dessa transferência ao credor (devolução essa evidentemente limitada ao valor da transferência) não representaria qualquer diminuição de garantia. Nem mesmo qualquer agressão, direta ou indireta, ao capital da sociedade. [...] Não há, assim, qualquer lesão aos credores sociais20. No que tange à sua origem histórica, a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica consagrou-se doutrinariamente na década de 1950, em clássica obra de Ulrich Drobnig, intitulada originalmente Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften21. Ele objetivava classificar a desconsideração em quatro formas principais, sendo que a segunda, ou “primeira variante, em que credor do sócio de sociedade de capitais busca acionar e executar a sociedade: seria a penetração invertida” (destaques no original)22. 17 COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit., p. 46. GAGLIANO, Pablo S. & PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 238. 19 COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit., p. 46. 20 SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 223-224. 21 DROBNIG, Ulrich apud OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. Op. cit., p. 329. 22 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. Op. cit., p. 333. 18 Desconsideração da pessoa jurídica: uma análise sob três perspectivas 59 Consoante dito alhures, a desconsideração invertida coíbe, via de regra, o desvio de bens. Responsabiliza-se a sociedade por dívidas do sócio, quando este, visando a lesar credores, transfere bens para a pessoa jurídica, continuando a deles gozar livremente. Num primeiro momento, não se pode executar o ente moral, dada a autonomia patrimonial. Não obstante, uma vez levantado o véu que escondia o lícito, possibilita-se a satisfação dos credores lesados. Também no Direito de Família se revela a utilidade do instituto, consoante obtemperou Maria Helena Diniz, citando Rolf Madaleno: [...] a teoria da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada na solução de conflitos de Direito de Família, como nos casos em que um dos cônjuges, ou conviventes, transfere bens conjugais em nome da empresa para, sob o manto da personalidade jurídica, fraudar meação nupcial ou a do convivente. [...] O mesmo se diga se o marido, planejando a separação, usar de testa de ferro para retirar-se da sociedade e depois retornar a ela com o mesmo número de quotas.23 É de se destacar, outrossim, que o “silêncio eloquente” do ordenamento jurídico pátrio aqui também se repete – tal qual ocorria até poucas décadas atrás quanto à teoria da desconsideração tradicional – quanto à desconsideração inversa. Mitigando essa lacuna, o Enunciado n. 283 da IV Jornada de Direito Civil pontificou: “é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada ‘inversa’ para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros”. É forçoso lembrar, todavia, que a desconsideração da personalidade jurídica prescinde de lei para a aplicação. Não a utilizar, sob a alegação de ausência de norma regulamentadora, é prestigiar a fraude e o abuso de direito no sistema jurídico pátrio24. No tocante aos pretórios, impende transcrever a seguinte decisão, que bem demonstra a distinção entre as duas formas da desconsideração: A conveniência de sua utilização no âmbito do Direito de Família já foi abordada por Rolf Madaleno, em seu artigo intitulado “A disregard no Direito de Família”, publicado na Revista Ajuris, 57/57-66: O usual dentro da teoria da despersonalização (sic) é equiparar o sócio à sociedade, e que dentro dela se esconde, para desconsiderar seu ato ou negócio fraudulento ou abusivo e, destarte, alcançar 23 MADALENO, Rolf apud DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: parte geral. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 302-303. 24 REQUIÃO, Rubens apud SILVA, Alexandre Alberto T. da. Op. cit., p. 93. 60 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 seu patrimônio pessoal, por obrigação da sociedade. Já no Direito de Família sua utilização dar-se-á de hábito, na via inversa, desconsiderando o ato, para alcançar bem da sociedade, para pagamento do cônjuge credor familial, principalmente frente à diuturna constatação nas disputas matrimoniais, de o cônjuge empresário esconder-se sob as vestes da sociedade, para a qual faz despejar, senão todo, ao menos o rol mais significativo dos bens comuns. (Rio Grande do Sul. TJRS. 7ª Câmara. Ap. Cív. n. 598082162. Rel. Des. Maria Berenice Dias.) Repise-se, outrossim, a imperiosidade da exigência da presença dos pressupostos de aplicabilidade, sem os quais não se deverá desconsiderar a personalidade societária. Nesse sentido, apregoou Ada Pellegrini Grinover: Disso se extrai que, como já salientado, a eficácia e o mérito da desconsideração da personalidade jurídica dependem também de seu adequado emprego. [...] A desconsideração, como visto, não é medida que se possa ou que se deva banalizar e não é panaceia para todos os males de credores em face de possíveis devedores25. Finalmente, é mister sublinhar a relevante utilidade prática do instituto, potente arma de satisfação creditória, com a entrega da prestação jurisdicional de forma efetiva e eficaz. 4. DA TEORIA DA APARÊNCIA A terceira teoria que, de algum modo, pode ser utilizada quando da análise de relações jurídicas envolvendo pessoas abstratas é aquela que louva o aspecto externo daquelas ligações, ou seja, a aparência dos fatos e até que ponto isso pode gerar consequências no âmbito jurídico. A teoria da aparência encontra ampla guarida no Direito nacional. Desde a publicística, na “teoria do funcionário do fato”, até o Direito Processual Civil, permeando igualmente a civilística em suas mais variadas imbricações. Não obstante, seguindo a esteira das publicações precedentes, será aqui abordada a seara obrigacional26. Apregoaram Stolze Gagliano e Pamplona Filho que, “em determinadas situações, a simples aparência de uma qualidade ou de um direito poderá gerar efeitos na órbita jurídica”27. Destarte, pode uma situação fática, nula a prima 25 GRINOVER, Ada Pellegrini. Da desconsideração da pessoa jurídica. Interesse Público, v. 48, p. 13-30, Belo Horizonte, 2008. 26 GAGLIANO, Pablo S. & PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. cit., p. 118. 27 Ibidem, p. 117. Desconsideração da pessoa jurídica: uma análise sob três perspectivas 61 facie, ser admitida como eficaz pela norma jurídica, em vista da forma como se externa socialmente. Nesta linha de intelecção, atribui-se eficácia ao pagamento feito a credor aparente, que, consoante sufragaram Orlando Gomes e Edvaldo Brito, é “quem se apresenta como tal ‘à base de circunstâncias unívocas’, capazes de ensejar a convicção, no solvens, de que é o verdadeiro credor, eis que assim passa aos olhos de todos”28. Para que o pagamento a credor aparente seja validado, é mister que concorram dois requisitos: (a) a boa-fé é o subjetivo, e “pode ser destruída mediante a demonstração de que o solvens tinha ciência de que o accipiens não era o credor, ou podia ser declarado estranho à relação jurídica, [...]”29; e (b) a escusabilidade do erro, havendo este que ser escusável, não devendo o direito proteger os incautos. Lembre-se que, neste tópico, reside um conflito de princípios jurídicos: de um lado, o respeito aos contratos e o direito do credor de receber o regular pagamento; de outro, o princípio da boa-fé, ora exigida do devedor criterioso30. Neste diapasão, alertou Álvaro Villaça Azevedo que, “[...] neste caso, mais alto se alça o princípio da boa-fé, norteador supremo do Direito. Ele é a única coluna do templo do Direito que não pode ruir, em qualquer momento, sob pena de negar-se o próprio fundamento da ciência jurídica.”31. Impende, outrossim, salientar que a qualidade de “credor putativo” (artigo 309 do Código Civil – CC32) dependerá do jaez de cada caso concreto, devendo sempre o magistrado ponderar os elementos casuísticos. Quanto a isto, admoestou Silvio Rodrigues: “o problema de prova, nessa matéria, é relevantíssimo, dado o arbítrio conferido ao juiz para decidir se o accipiens pode ou não ser considerado credor putativo”33. Entregue a prestação ao credor aparente, e seguidos os requisitos de validade da mesma, restará ao credor real simplesmente exigir o pagamento indevidamente recebido pelo accipiens putativo. 28 GOMES, Orlando & BRITO, Edvaldo (atualizador). Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 122. 29 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Vol. II. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 140. 30 Ibidem, p. 139. 31 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações: responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 135. 32 Art. 309 do CC. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. 33 RODRIGUES, Silvio. Op. cit., p. 140. 62 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Extenso é rol de exemplos onde emerge a figura da aparência, mas, consoante Silvio Rodrigues, o caso mais frequente é o do herdeiro aparente34: “apresenta-se essa figura quando uma pessoa, em virtude de dada circunstância, parece ser a sucessora do de cujus, embora em rigor não tenha tal qualidade”35. Álvaro Villaça Azevedo lembrou também que, “se alguém se intitula proprietário de uma casa e a aluga a outrem, que paga, regularmente, os aluguéis, caso fique provada a boa-fé deste e que aquele não seja o legítimo proprietário do imóvel, válidos serão os pagamentos dos aluguéis realizados”36. Pontes de Miranda mencionou, ainda, as hipóteses do inventariante sem direito à nomeação e do testamenteiro aparente37. Arnaldo Rizzardo trouxe a lume exemplos como o possuidor de cheque ao portador, que o tenha subtraído ou mesmo falsificado a assinatura, de sorte a não se perceber a diferença com a do titular da conta do depósito, a não ser mediante perícia; e o cessionário de um crédito, vindo a anular-se, postumamente, o título creditício38. Arnoldo Wald recordou interessante exemplo: “o síndico de um edifício que foi eleito, conforme ata de assembleia geral, está autorizado a receber as contribuições do condomínio, sendo considerado tal pagamento válido mesmo se depois vier a ser anulada a assembleia por qualquer vício de forma”39. Finalmente, mencione-se que não é credor putativo o falso procurador40. Objetivando o melhor entendimento da temática, afigura-se ineludível o exame jurisprudencial. Para isso, transcreve-se a seguinte decisão, que bem retrata o tratamento dispensado à teoria da aparência nos pretórios nacionais: Locação. Ação de despejo por falta de pagamento. Credor putativo. Art. 935 (309) do CC. Teoria da Aparência. Recurso desacolhido. I – Demonstrado que o locatário teve inequívoca ciência da alienação do imóvel e de que deveria pagar os locativos daí por diante ao novo proprietário, não se há como reputar válido o pagamento realizado ao alienante. II – A incidência da teoria da aparência, em face da norma do art. 935 do Código Civil, calcada na proteção ao terceiro de 34 RODRIGUES, Silvio. Op. cit., p. 137. RODRIGUES, Silvio. Loc. cit. 36 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Op. cit., p. 134. 37 MIRANDA, Francisco C. Pontes de. Tratado de direito privado. Vol. XXIV. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 111. 38 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das obrigações: Lei n. 10.406, de 10/01/2002. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 309. 39 WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil brasileiro: obrigações e contratos. Vol. II. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. p. 55. 40 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 251. 35 Desconsideração da pessoa jurídica: uma análise sob três perspectivas 63 boa-fé, reclama do devedor prudência e diligência, assim como a ocorrência de um conjunto de circunstancias que tornem escusável o seu erro (REsp n. 12.592SP (1991/0014208-5), 4ª T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 23/3/1993, DJ, 26 de abril de 1993, p. 7.212) (grifou-se). Para finalizar esse tópico, é importante mencionar que, na esfera legal, especialmente no novel Código Civil, a teoria da aparência vem positivada, além do já citado dispositivo (artigo 309 do CC), em diversos outros, como os artigos 686, 1.561, e 1.817, regendo relações obrigacionais puras ou não. 5. CONSIDERAÇÕES DERRADEIRAS Após o estudo, é importante contrapor as teorias analisadas com o escopo de traçar as suas precípuas distinções e/ou congruências e arrematá-lo de forma adequada. Calixto Salomão Filho diferençou as técnicas quanto à participação na organização societária: Apenas na ausência de participação da organização societária aplicar-se-iam os institutos civilísticos em detrimento da teoria da desconsideração. Exemplo típico é a teoria da aparência. Ali, trata-se de ato (ou sequência de atos) atinente às relações externas da sociedade, em que não há participação da organização societária41. Além disto, impende considerar situações semelhantes àquelas acima tratadas, em que a pessoa jurídica afigura-se como credor ou devedor putativo (ou aparente), quando se aplicam, quantum satis, os mesmos princípios aduzidos e expendidos alhures. Também é de se destacar a possibilidade de aplicação da teoria da aparência quando a pessoa jurídica, embora tenha a aparência de regular, de fato seja organizada informalmente ou que desobedeça a algum requisito em sua composição (verdadeiras sociedades de fato). Neste caso, para haver eventual cobrança de créditos contraídos pela pessoa jurídica (de fato), ao invés de aplicar-se a teoria da desconsideração ou da desconsideração inversa, por não ocorrer, ao menos juridicamente, a existência desta pessoa abstrata, a teoria a ser aplicada é a da aparência, e não aqueloutras mencionadas. 41 SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 237. 64 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Por outro lado, das três teorias, a que pode ser usada igualmente no Direito de Família é a teoria da desconsideração inversa, para os casos de burla da meação em caso de separação judicial, e a teoria da aparência, nos casos de devedores de alimentos que desviam seu patrimônio para terceiros para escusar-se de adimplir esse tipo de crédito pessoal. Quanto a um comparativo entre as duas teorias da desconsideração, ressalvados os pressupostos de aplicação de cada uma, há que se destacar que ambas apresentam-se muito úteis em situações opostas: quando o devedor pessoa física utiliza-se da pessoa jurídica para desviar-se do pagamento de seus créditos pessoais e quando, para privar credores da pessoa jurídica do adimplemento dos haveres, desvia-se o patrimônio da mesma para o das pessoas físicas que com ela tenham alguma conexão. Cumpre repisar, em tempo, a necessidade da presença absoluta dos pressupostos autorizatórios do desprezo da personalidade jurídica para que seja aplicada qualquer das técnicas em comento. A pessoa moral é criação valiosa do Direito moderno, instrumento de inefável função na ordem socioeconômica hodierna. Se não se podem prestigiar condutas fraudulentas, tampouco deve-se tornar o instituto da desconsideração panaceia para todos os males. Deste modo, entende-se, com este ato derradeiro, ter sido dado um satisfatório deslinde ao estudo proposto, vez que foram abordadas, mesmo que rapidamente, as três poderosas ferramentas que o ordenamento jurídico e o arcabouço doutrinário fornecem aos que militam em prol da efetividade da Justiça, especialmente quando o instituto da pessoa jurídica é usado de forma incongruente com o que dele se espera. Desconsideração da pessoa jurídica: uma análise sob três perspectivas 65 REFERÊNCIAS AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações: responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2004. COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: parte geral. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. GAGLIANO, Pablo Stolze & PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil. Vol. I. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. GOMES, Orlando & BRITO, Edvaldo (atualizador). Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: teoria geral das obrigações. Vol. II. São Paulo: Saraiva, 2004. GONÇALVES, Oksandro. Desconsideração da personalidade jurídica. 4ª reimpr. Curitiba: Juruá, 2008. GRINOVER, Ada Pellegrini. Da desconsideração da pessoa jurídica. Interesse Público, v. 48, p. 13-30, Belo Horizonte, 2008. MIRANDA, Francisco C. Pontes de. Tratado de direito privado. Vol. XXIV. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. NAHAS, Thereza Christina. Desconsideração da pessoa jurídica: reflexos civis e empresariais no Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. RIZZARDO, Arnaldo. Direito das obrigações: Lei n. 10.406, de 10/01/2002. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Vol. II. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo Direito Societário. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. SILVA, Alexandre Alberto Teodoro da. A desconsideração da personalidade jurídica no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2007. WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil brasileiro: obrigações e contratos. Vol. II. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. 66 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Anotações 67 A relação entre dignidade humana e interesse público 5 A relação entre dignidade humana e interesse público The relationship between human dignity and public interest ZUENIR DE OLIVEIRA NEVES Advogado; especialista em Direito Público, pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages, em convênio com o UniCentro Newton Paiva, de Minas Gerais; especialista em Direito Processual Civil, pelo Centro de Atualização em Direito – CAD da Universidade Gama Filho – UGF; especialista em Direito Constitucional, pelo Instituto de Educação Continuada – IEC da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG. E-mail para correspondência: [email protected]. RESUMO O presente artigo visa a discorrer sobre as implicações trazidas pelo princípio da dignidade humana – por sua vez alçado a fundamento do Estado democrático de direito, conforme preleciona o artigo 1º, III, da CR/88 – sobre o conceito de interesse público e o princípio que o alberga, qual seja a supremacia sobre o interesse privado. Palavras-chave: bem comum, interesse público, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da supremacia do interesse público. ABSTRACT This article aims to discuss the consequences brought by the principle of human dignity, regarded as the reason of the democratic State of law, according to the Brazilian Constitution (article 1, III) on the concept of public interest and its principle, which is the supremacy over the private interest. Keywords: common good, public interest, principle of human dignity, supremacy of public interest. 68 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS A relação travada entre o público e o privado não significou carência de divergências, e a História só se fez síntese porque comportou antíteses. Estas, entretanto, em sua maioria, foram baseadas em teorias unilaterais, que, apesar de importantes, revelaram, no embate discursivo, verdadeiros “diálogos de surdos”, à medida que valorizavam ora o interesse dos déspotas (absolutismo), ora o do indivíduo, sem alcançar um “conceito de comunidade enquanto realidade portadora de uma essência, valor e fim superiores ao indivíduo” – liberalismo individualista – (MESSNER apud MARTINS FILHO, 2000), ora o da comunidade, sem atingir a “realidade total da pessoa humana, com seus fins suprassociais e o seu valor de ordem suprassocial” – coletivismo (MESSNER apud MARTINS FILHO, 2000). Nesse trajeto, conceitos jurídicos foram vulnerados e direitos violados em nome da defesa do que se concebia como interesse público. Este mesmo foi considerado como sendo, em determinados momentos, o “da maioria”, em outros, o “do Estado” e “da coletividade”. Entretanto, atualmente, vozes têm se levantado no sentido de afirmar que o termo “interesse público”, mesmo em se tratando de um conceito jurídico indeterminado, deve ser interpretado a partir da exigência de proteção da pessoa. Com relação à sua hierarquia, a supremacia e a indisponibilidade, tidas, até então, por axiomas utilizados em situações de contenção/suspensão/supressão, enfim, de relativização dos direitos fundamentais pelos poderes estatais, alçados, alhures, à condição de tutores dos interesses coletivos, têm sido postas à prova por assertivas envolvendo as sub-regras da proporcionalidade do ato administrativo, consistentes na adequação, na necessidade e na proporcionalidade em sentido estrito. No fluxo desse entendimento, o presente artigo visa a discorrer sobre as implicações trazidas pelo princípio da dignidade humana – por sua vez alçado a fundamento do Estado democrático de direito, conforme preleciona o artigo 1º, III, da CR/88 – sobre o conceito de interesse público e o princípio que o alberga, qual seja a supremacia sobre o interesse privado. 2. UMA DICOTOMIA INVENTADA: A CONTRAPOSIÇÃO ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO COMO REFLEXO DA NÃO CONSIDERAÇÃO DO BEM COMUM No entendimento do signatário deste artigo, o critério da titularidade do interesse para diferençar a categoria pública da privada não só induz à perigosa conclusão sobre uma contraposição, como, também, à crença na necessidade de A relação entre dignidade humana e interesse público 69 superação de uma dicotomia, que – se considerada a definição desta palavra, pela ciência lógica, como “divisão de um conceito em dois outros, em geral, contrários, que lhe esgotam a extensão” (HOLANDA FERREIRA, 1993: 185) – não deveria ocorrer. Caso se insista em definir o interesse público como sendo o “do Estado e das pessoas jurídicas de direito público, bem como o interesse de todos sem ser de nenhum particular” (GUSMÃO, 1995: 156), corre-se o risco de incursão no critério excludente de interesses privados, negador, por sua vez, da perspectiva aristotélicotomista do bem comum, segundo a qual este é “o fim das pessoas singulares que existem na comunidade, como o fim do todo é o fim de qualquer de suas partes” (MARTINS FILHO, 2000). Quando o Estado, na condição de gestor dos interesses da coletividade, impõe normas de conduta, fá-lo para manter ou restaurar as possibilidades de convivência da comunidade que o alçou a tal missão. Mas isso não o autoriza a, encarnando os interesses da coletividade, furtar-se a conferir aos privados a eficácia pretendida pelo ordenamento, sob o argumento de superioridade do interesse público, pena de arranhadura do bem comum. Se é correto dizer que cabe ao Estado gerir os interesses da coletividade, impondo condutas para garantia do bem comum, não é razoável se pré-admitir que aquilo a que correntemente se chama de interesse público seja superior e, dessa forma, possa se opor ao que se denomina interesse privado, e vice-versa, porque ambos hão de se relacionar de forma inclusiva, ou seja, garantindo-se reciprocamente, a partir das noções elementares do bem comum, quais sejam a finalidade, a bondade, a participação, a comunidade e a ordem1. O contrário disso é interesse egoístico, que não se coaduna com a premissa segundo a qual, desde que o homem existe, coexiste e convive, a viabilidade de qualquer interesse que veicule depende do agir pautado na solidariedade, mínimo necessário à existência e à estabilidade de qualquer organismo social e conteúdo objetivo do bem comum2. Conclui-se que a falsa noção de contraposição entre o interesse público e o privado é reflexo do agir não orientado ou semiorientado à consecução do bem comum. Assim, 1 2 A respeito, ver MARTINS FILHO (2000). Segundo Alceu Amoroso Lima, “a alma do Bem Comum é a Solidariedade. E a solidariedade é o próprio princípio constitutivo de uma sociedade realmente humana, e não apenas aristocrática, burguesa ou proletária. É um princípio que deriva dessa natureza naturaliter socialis do ser humano” (LIMA apud MARTINS FILHO, 2000). 70 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Para fundamentar qualquer teoria social, é peça de fundamental importância o Princípio do Bem Comum. Ao contrário do que se possa pensar, não é um princípio meramente formal ou demasiadamente genérico e teórico, sem conteúdo determinado, mas um princípio objetivo, que decorre da natureza das coisas e possui inúmeras consequências práticas para o convívio social (MARTINS FILHO, 2000). 3. A CONSECUÇÃO DO BEM COMUM DEPENDE DO PROCESSO HISTÓRICO Mas a deficiência no agir em conformidade com o bem comum não pode constituir negativa ao caráter dinâmico da história e à necessidade de mudanças. Assim, por exemplo, é que o próprio contexto social de insatisfação com os métodos parciais de solução das controvérsias individuais, consistentes na autotutela (ou autodefesa) e na autocomposição (desistência, submissão e transação), presentes desde os primórdios civilizacionais, possibilitou a transição para a justiça pública, cuja legitimidade se estende aos dias atuais. Essa transição permitiu a atribuição da função ordenadora ao Estado, cuja ingerência nas relações privadas se deu, primeiramente, por meio de árbitros supostamente imparciais, e, num segundo momento, pelo surgimento de legisladores imbuídos da função de formular parâmetros obrigatórios de julgar. Da mesma forma se deu com o desenvolvimento do individualismo liberal, afiançado pelo princípio da legalidade, e do regime jurídico-administrativo, calcado no princípio da supremacia do interesse público, que manteve verticalizada a relação entre Administração e indivíduo. O contexto de incontrolável personalização e patrimonialização absolutista do poder desaguou em reações que demandariam maiores garantias dos direitos individuais, mediante a limitação dos poderes do Estado. Isso não implica dar atestado de perfeição aos novos sistemas que se instalavam, mesmo porque, sob o pálio da justiça pública e do Estado liberal, direitos vários foram violados sob o pretexto de garantia do interesse público, mas, ao contrário, ressaltar que a relativa dicotomia não significou carência de divergências, e a História só se fez síntese porque comportou antíteses. Estas, entretanto, como já ressaltado, em sua maioria, foram baseadas em teorias unilaterais, que, apesar de importantes, revelaram, no embate discursivo, verdadeiros “diálogos de surdos”, à medida que valorizavam ora o interesse dos déspotas (absolutismo), ora o do indivíduo, sem alcançar um “conceito de comunidade enquanto realidade portadora de uma essência, valor e fim superiores ao indivíduo” – liberalismo individualista – , ora o da comunidade, sem atingir a “realidade total da pessoa humana, com seus A relação entre dignidade humana e interesse público 71 fins suprassociais e o seu valor de ordem suprassocial” – coletivismo (MESSNER apud MARTINS FILHO, 2000). Por outro lado, por mais procedentes sejam as críticas que denunciam manobras ideológicas nos dois exemplos acima citados – mormente no segundo, em que a ideia de unitarismo (um interesse, um gestor, um representante da vontade geral etc.) foi marcante –, é necessário admitir que tanto a justiça privada quanto o poder absoluto não comportariam a mesma abertura para a defesa da vida, da liberdade e da integridade físico-psíquica, e que, portanto, violavam em maior intensidade o bem comum. 4. A IMPORTÂNCIA DA DIGNIDADE HUMANA NO PÓS-POSITIVISMO É atrelada à apreensão histórica da noção do bem comum que a influência da perspectiva dita personalista ganha relevância a partir do constitucionalismo da segunda metade do último século. Não mais se deve considerar o homem como ser abstrato, autônomo e titular de uma liberdade negativa (concepção liberal), nem animal político, atado a um grupo social – parte de um todo –, que, algures, submetia-se a um poder superior negador do direito à liberdade e à igualdade naturais (concepção organicista aristotélica). No magistério de Sarmento: A ótica que prevalece nesta matéria no constitucionalismo contemporâneo é a do personalismo, que busca uma solução de compromisso entre as concepções individualista e coletivista. O ser humano é considerado um valor em si mesmo, superior ao Estado e a qualquer coletividade a qual integre. Mas, de outra banda, o homem que se tem em vista é um ser palpável, histórica e geograficamente situado, que partilha valores e tradições com seus semelhantes e que tem necessidades que devem ser atendidas. É o homem que não apenas vive, mas convive (SARMENTO, 2003: 69). Assim, o “novo constitucionalismo”, sob os auspícios da doutrina filosófica personalista, passou a encarar o homem como ser concreto, cuja dimensão coletiva, a despeito de autorizar eventuais restrições a direitos reconhecidamente constitucionais, desde que respeitada a proporcionalidade, não o afasta do contexto da máxima eficácia dos direitos e garantias fundamentais, constante do artigo 5, §1º, da CR/88, que impõe o implemento do mínimo existencial. Em tais circunstâncias, desponta, no epicentro da discussão, o princípio da dignidade humana, alçado a fundamento do Estado democrático de direito, conforme 72 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 preleciona o artigo 1º, III, da CR/88, embora a preocupação com sua noção remonte à era judaico-cristã3. Desde então, a pós-modernidade tem presenciado o surgimento de teorias jurídicas que tomam a justiça por fundamento do direito positivo, consentâneas, por sua vez, com as necessidades de um neoconstitucionalismo principialista, adotante do pós-positivismo como paradigma filosófico que confere força normativa à Constituição e supera a legalidade estrita, sem, no entanto, reduzir o direito à moral. Diz-se, sobretudo, que a neutralidade e a objetividade visadas pelo positivismo kelseniano, pretensamente desvinculado da moral e da política, e equiparador da legitimidade, da validade e da vigência, na busca de certeza jurídica, não contiveram os desmandos hitleristas e fascistas, de ampla justificação legal e apoio popular. Foi com a derrocada ítala e germânica, que, no contexto do pós-guerra, resgatou-se definitivamente o compromisso humanista, assumido pelas revoluções dos setecentos, e se aferiu a necessidade de efetivação dos direitos fundamentais, por sua vez fundados na dignidade humana, fator este atribuidor de justificação ética ao Estado, cujo poder é limitado pela Constituição. Dentre as funções do mencionado princípio, destacam-se a de legitimador ético da Constituição, bem como a de limitador e norteador da atuação do Estado, sem contar o papel hermenêutico unificador da ordem jurídica que desempenha4. 5. POR UMA RELEITURA PÓS-POSITIVISTA DO INTERESSE PÚBLICO: A DIGNIDADE HUMANA COMO PARÂMETRO DE SUA IDENTIFICAÇÃO Em razão da importância atualmente conferida ao princípio da dignidade humana na pós-modernidade, tem-se problematizado não só o termo “interesse público”, como, também, as alegações sobre sua superioridade. Trata-se, sem margem de dúvidas, de posturas afinadas com o fenômeno neoconstitucionalista da “filtragem”, segundo o qual procede-se à releitura teleológica e sistêmica do direito – ex vi da legalidade enquanto juridicidade, constitucionalidade ou legitimidade, levando-se em conta a força normativa atribuída às bases do regime jurídico administrativo, de cujos princípios implícitos e explícitos decorrem, diretamente, direitos subjetivos. 3 Segundo Sarmento, “a ideia de dignidade assenta raízes na tradição do pensamento judaico-cristão, a partir da concepção do homem como ser criado à imagem e semelhança de Deus” (SARMENTO, 2003: 61). 4 A respeito, ver SARMENTO (2003: 70-73). A relação entre dignidade humana e interesse público 73 Por tal razão, o interesse público não pode ser definido como sendo o do Estado, porque este, além de ser tão só um elemento do espaço público, não detém “carta branca” para restringir direitos, dada a ausência de cláusula geral que o permita; nem como o da maioria ou o da coletividade, em face da supercomplexidade social e da exigência de defesa e de socialização das minorias. Conclui-se, na linha de entendimento de Grande Júnior (2006), que o interesse público é aquele para o qual a Constituição, cujo núcleo é a dignidade humana, foi projetada a realizar. Por abstrato, parece indeterminável, mas não o é, eis que sua detecção se faz pela análise articulada da realidade com as regras e os princípios próprios da Constituição ou da lei que com ela esteja conforme. 6. A INVIABILIDADE DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO NO CONTEXTO DO ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO A supremacia, tida, até então, por axioma utilizado em situações de contenção/ suspensão/supressão, enfim, de relativização dos direitos fundamentais pelos poderes estatais, alçados, alhures, à condição de tutores dos interesses coletivos, tem sido posta à prova por assertivas envolvendo as sub-regras da proporcionalidade do ato administrativo, consistentes na adequação, na necessidade e na proporcionalidade em sentido estrito. É que a Constituição não hierarquiza direitos fundamentais. Ao contrário, organiza-os sistêmica e harmonicamente, sem desconsiderá-los em suas diferenças, além de reputá-los intangíveis pelo Estado, com quem o homem, na modernidade, rompeu a relação de “vassalagem” para ocupar a posição de cidadão. A mencionada diferença não comporta a existência de um fundamento absoluto para os direitos fundamentais, razão pela qual são eles considerados heterogêneos, e, assim, dificilmente integralizáveis em sua plenitude. Sobre o caráter heterogêneo dos direitos fundamentais, vale a lição de Bobbio (1992): Os direitos sociais, que se realizam mediante obrigações positivas, e as liberdades tradicionais, que exigem obrigações negativas, um não fazer, são antinômicos, no sentido de que o desenvolvimento deles não pode proceder paralelamente, porque a realização integral de uns impede a realização integral dos outros. Dois direitos fundamentais, mas antinômicos, não podem ter, um e outro, um fundamento absoluto, ou seja, um fundamento que torne um direito e o seu oposto, ambos, inquestionáveis e irresistíveis. O fundamento absoluto não é apenas uma ilusão; em alguns casos, é também um pretexto para defender posições conservadoras (BOBBIO, 1992: 33). 74 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Uma vez constatada a antinomia, impõe-se a técnica da ponderação, realizável previamente pela própria Constituição, ou, ainda, mediante conformação legislativa, ou pelo Poder Judiciário, principalmente quando o órgão legiferante desconsidera princípios constitucionais. O que não se admite é que haja a supremacia de tal ou qual interesse, porque é a mesma Constituição que, considerada em sua unidade material e formal (ideias respectivas de relação total e de a-hierarquia entre os dispositivos), impõe uma relativização atenta à máxima eficácia dos direitos fundamentais em face da existência do princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso, autores há negando a superioridade conferida ao interesse público, em verdadeira crítica ao “princípio” correlato5, que, segundo se afirma, se trata, em verdade, de uma regra abstrata de preferência, verificável pela análise conjunta e ponderada com outros interesses. Criticam-no como princípio, dada a sua abstrata indeterminabilidade e incompatibilidade com a proporcionalidade e a concordância prática, bem como a ausência de fundamento de validade de que é acometido. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS A proeminência dos direitos fundamentais no constitucionalismo contemporâneo, porque atribuiu nova roupagem ao conceito de interesse público, fez com que este se aproximasse mais da ideia de bem comum, aqui brevemente abordada na perspectiva aristotélico-tomista, segundo a qual o todo e suas partes perseguem o mesmo fim, a felicidade. Fora dessa perspectiva, a relação de oposição não se dá entre os interesses público e privado, e sim entre interesse egoístico e bem comum, que foi contrariado em suas noções básicas de finalidade, bondade, participação, comunidade e ordem. É nesse ponto que o princípio ético do bem comum e o princípio jurídico da dignidade humana convergem para conferir justificação ética ao Estado, e não só demonstrar a ausência de superioridade do interesse público sobre o privado, como também a inexistência de dicotomia entre eles. A despeito de não se ver razão nem para uma “dicotomia” (entendida como contraposição) entre o interesse público e o privado nem, muito menos, para sua superação, não se ignora a necessidade da técnica da ponderação em casos de 5 Para mais informações, consultar o ensaio intitulado “Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”, de Humberto Ávila, que aponta limites conceituais e normativos ao qualificativo de princípio atribuído à supremacia do interesse público. A relação entre dignidade humana e interesse público 75 colisão, dada a diversidade de fundamentos dos interesses envolvidos, medida essa que se justifica para que a persecução de um interesse não se converta no seu exercício egoístico, violador da noção de comunidade. Foi atentando para esse detalhe que a Constituição de 1988 erigiu à condição de princípio a máxima eficácia dos direitos e garantias fundamentais, constante do artigo 5º, §1º, da CR/88, e, conforme se notou, torna-se impossível pré-afirmar a existência de um “princípio da supremacia do interesse público”, considerada a noção de unidade material e formal da Constituição (ideias respectivas de relação total e de a-hierarquia entre os dispositivos constitucionais). Em termos amplos, a questão da dignidade humana e a supremacia do interesse público chega a ter pontos de contato com a discussão sobre a legitimação do poder político pelo direito, ou seja, a relação entre Têmis e Leviatã, tão bem desenvolvida por Marcelo Neves (2008) em sua obra, que coloca a conciliação entre poder eficiente e direito legitimador como um dos problemas do Estado democrático de direito6. Em termos específicos, lida com a elevação do princípio da dignidade humana à condição de fundamento do Estado democrático de direito e a nova roupagem que se dá ao interesse público no constitucionalismo contemporâneo, que se concentra na pessoa concreta. 6 Segundo Neves (2008: XVIII), “nesse tipo de Estado, Têmis deixa de ser um símbolo abstrato de justiça para se tornar uma referência real e concreta de orientação da atividade de Leviatã. Este, por sua vez, é rearticulado para superar a sua tendência expansiva, incompatível com a complexidade sistêmica e a pluralidade de interesses, valores e discursos da sociedade moderna.” 76 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 REFERÊNCIAS BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 240 p. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 751p. GRANDE JÚNIOR, Cláudio. A proporcionalização do interesse público no Direito Administrativo brasileiro. Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, v. 18, n. 6, p. 55-70, Brasília, junho, 2006. Disponível em: <http://www.trf1.gov.br>. Acesso em: 10 de dezembro de 2009. GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do Direito. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 476p. HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 185. MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. O princípio ético do bem comum e a concepção jurídica do interesse público. Jus Navigandi, ano 5, n. 48, Teresina, dezembro, 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11>. Acesso em: 10 de dezembro de 2009. NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 354p. SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. 1. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003. 220p. Contratos internacionais de seguro marítimo de mercadorias: uma análise... 77 6 Contratos internacionais de seguro marítimo de mercadorias: uma análise comparativa entre a legislação brasileira e a inglesa International marine insurance contracts of goods: a comparative analysis between english and brazilian legislation JOSÉ CARLOS DE CARVALHO FILHO Advogado; mestrando em Direito, pela Universidade Católica de Santos – Unisantos; pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, pela Universidade Estadual Paulista – Unesp, de Franca. E-mail para correspondência: [email protected]. RESUMO O presente estudo possui como objetivo uma análise comparativa entre a legislação inglesa e a brasileira com relação aos contratos internacionais de seguro de mercadorias no âmbito do Direito Marítimo. Serão traçados casos históricos relevantes que interligam ambas as legislações, demonstrando que uma será originária da outra, mas cada qual com sua característica peculiar. O interesse em contratar esse serviço protegerá toda negociação, bem como terceiros interessados, o que se atém ao fato de que o transporte marítimo é um dos mais econômicos quando se fala em logísticas intercontinentais, mas também é o que mais oferece risco em seu trânsito. Palavras-chave: contratos internacionais de seguro marítimo, legislações, mercadorias, risco. 78 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 ABSTRACT The aim of this study is to make a comparative analysis between english and brazilian laws in international marine insurance contracts of goods. It will be traced historical cases that connect both laws and demonstrate the origin from one another, but each with its peculiar characteristic. The interest of contracting this service is based on the protection of all negotiations, the parties who are tied, and, even though shipping is one of the most economical intercontinental logistics it also offers the most risk in transit. Keywords: international marine insurance contracts, laws, goods; risk. 1. INTRODUÇÃO O Direito Marítimo surgiu como um ramo especial para as relações jurídicas, pois, sendo um dos meios de transporte precursores para a expansão comercial mundial, é tido como direito autônomo, mas conectado a demais códigos de leis. Os contratos de seguro colocam em pauta uma crescente preocupação com a segurança não só dos navios, mas também das mercadorias nele existentes, pois aqui se fala em milhões de dólares em produtos e meses de trabalho para a realização de uma negociação. A evolução das cláusulas dos contratos internacionais de seguro marítimo revela o esforço da indústria seguradora em acompanhar e responder, da melhor forma, ao desenvolvimento, à concorrência e à complexidade da navegação e do comércio marítimo. Tanto a legislação brasileira quanto a inglesa possuem alguns pontos de divergência a respeito de como a lei vigora sobre esse vínculo jurídico; entretanto, ambas terão o mesmo objetivo, ou seja, a harmonização entre as partes envolvidas. 2. FATOS HISTÓRICOS RELEVANTES O Direito Marítimo fundou-se a partir de códigos medievais, com destaque para Os rolos de Oléron (Julgamentos de Oléron) e Consulado do mar; a primeira publicação doutrinária – Ancient law merchant, escrita pelo inglês Gerard Malynes – consistiu num resumo das práticas marítimas realizadas em alguns países , que tratava sobre os contratos de seguro marítimo intitulado Guidon de la mer (Guia do mar). Alguns casos históricos de incidentes marítimos servem para ilustrar melhor a importância desses contratos nas relações de negócios entre as partes. Foi a partir de fatos reais que as legislações, principalmente a inglesa, inspiraram-se para a criação de leis que vigorarão sobre sua corrente doutrinária. Contratos internacionais de seguro marítimo de mercadorias: uma análise... 79 Pode-se mencionar, como exemplo, o incidente do navio Torrey Canyon, um dos superpetroleiros mundiais1, de bandeira inglesa, que encalhou, derramando milhares de toneladas de petróleo em alto-mar. Como consequência, catástrofes ambientais incalculáveis, o que desvendou uma série de deficiências no sistema jurídico internacional e inglês, mais especificamente, pois este era considerado, até aquele momento, um dos mais aperfeiçoados. Esse fato marcou-se como o estopim para diversas convenções – destaque para a Convenção de Bruxelas e a de Tóquio –, que também colaboraram para a formação de regras para o seguro marítimo. Mais recentemente, um caso, que demonstra a importância dos seguros marítimos para ocorrências recentes de ataques piratas a mercadorias de navios, foi noticiado por um site nacional, onde a matéria destacava: Japoneses protegem navios na Somália Uma missão antipirataria está sendo comandada pela Japan Maritime Self Defense Force’s na região do Golfo do Áden, na Somália. Uma frota com 81 navios mercantes está sendo escoltada pela instituição para protegê-los dos constantes ataques piratas, colocando em prática uma lei que entrou em vigor em julho passado, informou o governo japonês na última terça, dia 1/09/20092. Esses incidentes, como se observa, servem como fontes para que os juristas atentem a cada caso específico e colaborem para a evolução dos contratos internacionais de seguro marítimo de mercadorias e suas cláusulas, como no primeiro exemplo citado, que repercutiu internacionalmente entre os ecologistas e alterou toda a legislação ecológica mundial na questão dos impactos ambientais e nos casos de pirataria que, pela tendência moderna, se incluem como risco de guerra e, portanto, foram inseridos em cláusulas nos contratos internacionais, principalmente na legislação inglesa. 3. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 3.1. Histórico brasileiro Os interesses marítimos no Brasil são históricos e amplos. O mar foi via de seu descobrimento, de colonização, de invasões e de comércio. Do ponto de vista 1 CALIXTO, Robson José. Incidentes marítimos: história, Direito Marítimo e perspectivas num mundo em reforma da ordem internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2004. p. 46. 2 GUIA MARÍTIMO NEWS. Japoneses protegem navios na Somália. Matéria publicada em 03/09/2009. Disponível em: <http://www.guiamaritimo.com.br/nota.php?id=1605&gmn=1#>. Acesso em: 03 de setembro de 2009. 80 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 econômico, a maior parte de todo o comércio exterior brasileiro é realizada por meio de transportes marítimos. Além disso, devem ser considerados os fatores estratégicos, científicos, ecológicos, tecnológicos e geográficos que a matéria possui. Nesse instante, surge, também, a preocupação com a segurança dos navios, mercadorias e tripulantes, pois “despesas extraordinárias feitas a bem do navio ou da carga, conjunta ou separadamente, e todos os danos acontecidos àquele ou a esta, desde o embarque e partida até a sua volta e desembarque, são reputadas avarias” (artigo 761 do Código Comercial – CCom). Todo contrato internacional de seguro marítimo de mercadorias realizado entre segurado e segurador tem como objetivo proteger a carga contra danos inesperados, mas que possam ocasionar problemas homéricos nas relações. Em regra, nem todos estão obrigados a contratar os seguros de mercadorias, uma vez que o mesmo surge em decorrência dos Incoterms acordados. Entretanto, a sua realização amenizará os impactos negativos gerados por possíveis avarias. 3.2. Legislação Atualmente, convenções e tratados internacionais servem como embasamento para a utilização de princípios legais na aplicação do Direito Marítimo. O Brasil, por não adotar legalmente o princípio da autonomia da vontade, normatiza as relações marítimas por meio do Código Civil e do Código Comercial, da própria Constituição Federal de 1988 e do Decreto-Lei n. 73/663. Mesmo caminhando para tornar-se um Direito autônomo, as diretrizes do Direito Marítimo ainda estão umbilicalmente ligadas a esses sistemas normativos, tratando-se de um direito privado, mas com fortes influências do direito público. O artigo 9º, caput, da Lei de Introdução do Código Civil destina-se às regras aplicáveis aos contratos internacionais. Esse artigo legisla que as partes envolvidas se submeterão às leis do país de celebração do contrato, mesmo que haja disposição específica ou omissão da lei aplicável. O ordenamento jurídico nacional legisla sobre informações necessárias para se compor um contrato internacional de seguro marítimo de mercadorias e, para isso, é importante que haja a descrição completa da mercadoria, a sua natureza, além de peso, embalagem, valor, número de volumes, locais de embarque e desembarque, riscos, veículo de transporte, valor do seguro e outras informações 3 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. Contratos internacionais de seguro marítimo de mercadorias: uma análise... 81 relevantes4. Tudo faz parte de uma burocracia que, ao mesmo tempo, protegerá os interesses do segurador, do segurado e de terceiro interessado. 3.3. Artigos e sociedades legislativas O Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966, juntamente com o Código Civil vigente, em seus artigos 757 a 802, e o Código Comercial, entre os artigos 666 e 730, formam a base da legislação brasileira de seguros marítimos. Criaram-se, portanto, sociedades anônimas e cooperativas de seguro por intermédio dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Seguros Privados, como o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), a Superintendência de Seguros Privados (Susep), como já mencionado, e o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), que controlam e disciplinam o mercado nacional. Dispõe o artigo 666 do Código Comercial: O contrato de seguro marítimo, pelo qual o segurador, tomando sobre si a fortuna e riscos do mar, se obriga a indenizar ao (sic) segurado da perda ou dano que possa sobrevir ao objeto do seguro, mediante um prêmio ou soma determinada, equivalente ao risco tomado, só pode provar-se por escrito, a (sic) cujo instrumento se chama apólice; contudo, julga-se subsistente para obrigar reciprocamente ao segurador e ao segurado desde o momento em que as partes se convierem, assinando ambas a minuta, a qual deve conter todas as declarações, cláusulas e condições da apólice. O Código de Defesa do Consumidor surge nesse campo, destacando a questão contratual ao assegurar o equilíbrio entre os direitos e obrigações das partes envolvidas, ou seja, reforça o comprometimento com a equidade de interesses entre as partes a partir dessa intervenção regulamentadora, o que pode ser uma garantia e uma fonte argumentativa a possíveis contratos abusivos. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor sobre os seguros: CAPÍTULO III Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços Artigo 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: (...) 4 OCTAVIANO, Eliane Maria Martins. Curso de Direito Marítimo. Volume II. Barueri: Manole, 2008. p. 466-467. 82 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 II – o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. (...). 3.4 .Características legais dos contratos nacionais de seguro Como qualquer contrato, os seguros marítimos possuem características específicas de acordo com sua aplicação. Assim, o seu início ocorre no momento em que as mercadorias deixam o cais para ser carregadas a bordo, e seu término ocorrerá no momento em que são colocadas em terra no porto de destino, tendo um limite de 30 dias para que o navio inicie viagem e 30 dias para descarga após o navio chegar ao ponto de destino. Trata-se de um padrão, o que não impede que contratos adicionais sejam realizados entre as partes para a extensão de sua validade. Para que a seguradora fique obrigada a indenizar as partes pelas avarias ocorridas às mercadorias, é necessário que a porcentagem do prejuízo seja igual ou superior ao que foi estipulado na apólice, caso contrário essa franquia torna-se inviável. Os contratos de seguro nacionais devem possuir as seguintes características legais para sua validação: (I) onerosidade, pois gera benefícios e vantagens para um e outro; (II) bilateralidade, porque origina obrigações tanto para o segurado como para o segurador, sendo tais obrigações o pagamento do prêmio pelo segurado e a garantia prestada pelo segurador; (III) consensualidade, pois não mais se exige a redução por escrito para formação do vínculo; (IV) adesão, por meio da qual o segurado aceita cláusulas impostas pelo segurador na apólice impressa, não ocorrendo discussão entre as partes. O proprietário, seu representante legal, ou armadores em geral de embarcações com bandeiras nacional ou internacional, que farão suas inscrições ou seus registros nas capitanias dos portos e órgãos subordinados – bem como as já inscritas e registradas –, estão obrigados a contratar “o seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou por suas cargas5”. O Guia de orientação e defesa do segurado, de 2006, elaborado pela Susep, em seu glossário, lista as denominações dadas às partes e aos atos realizados em um contrato de seguro: apólice; avaria; aviso de sinistro; condições gerais; cosseguro; endosso; franquia; indenização; prêmio; proposta; resseguro; retro5 Dpem – Seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou por suas cargas. Contratos internacionais de seguro marítimo de mercadorias: uma análise... 83 cessão; risco; salvado; segurado; sinistro; e a descrição da própria Susep são os termos adotados a fim de identificar as ações realizadas em um contrato. Para todo seguro, busca-se garantir os direitos das partes envolvidas a fim de prevenir o resultado de um evento inesperado quando existem duas ou mais possibilidades, o que aqui se fala em “riscos6”. Dessa forma, as seguradoras são contratadas para garantir a compensação desses eventos. Naufrágio, encalhe, varação, abalroação/colisão da embarcação com qualquer corpo fixo ou móvel; explosão, incêndio, raio e suas consequências; ressacas, tempestades e trombas marinhas; alijamento e arrebatamento pelo mar; queda de lingada, nas operações de carga, descarga e transbordo; fortuna do mar, caso fortuito ou de força maior são alguns dos exemplos de “riscos” cobertos pelos contratos de seguro marítimo já que outra grande maioria de contratos securitários não possui esse benefício. Vale mencionar uma peculiaridade sobre os seguros marítimos para o caso de mercadorias importadas, pois, por intermédio da Resolução CNSP7 n. 03, de 18 de janeiro de 1971, foram estipuladas como preferenciais as seguradoras estabelecidas no País. Assim, não só fica garantido o entendimento das leis como também se evitam transtornos na conexão de competências, o que, por final, na prática, facilita todo o desenvolvimento do processo. 3.5. Julgamentos O Brasil já realizou julgamentos a respeito do assunto seguros marítimos sobre mercadorias, como foi o caso da Apelação com Revisão CR 997938006 SP (TJSP)8. Esse processo teve a Comarca de Santos como cenário, a apelante Bradesco Seguros S/A e a empresa NST Terminais e Logísticas Ltda. No desfecho, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não reconheceu o recurso de regresso da apelante. São peculiaridades como esta que marcam os acontecimentos dentro do Judiciário nacional quando o tema em questão se refere ao seguro marítimo de mercadorias. 6 Evento incerto ou de data incerta que independe da vontade das partes contratantes e cuja ocorrência dará direito à indenização descrita na apólice. Guia Susep, 2006, glossário. 7 Conselho Nacional de Seguros Privados. 8 Dados: 35ª Câmara de Direito Privado. Relator: José Malerbi. Julgamento: 13/10/2008. Publicação: 20/10/2008. Partes. Ementa: TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. AVARIAS NA CARGA. DEPÓSITO. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/ filedown/dev1/files/JUS/TJSP/IT/CR_997938006_SP_13.10.2008.pdf>. Acesso em: 29 de setembro de 2009. 84 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 4. LEGISLAÇÃO INGLESA 4.1. Histórico inglês Ao dar continuidade a essa análise, busca-se agora o estudo sobre os contratos de acordo com a legislação inglesa, onde se verificará a sua influência na construção das dos contratos internacionais de seguro marítimo nos demais países. É relevante esse estudo, pois, a partir de experiências e casos concretos, formularam-se os primeiros contratos e se julgam os casos atuais. O Reino Unido, mais especificamente a Inglaterra, possui uma legislação originária conhecida como Common Law9 (Lei Comum), ou seja, um direito costumeiro, de convenções constitucionais, casos práticos e jurisprudenciais. A elaboração de uma legislação marítima, no que tange a assuntos de seguro, ocorreu a partir de 1690, quando foi fundada a inglesa Lloyd’s10, a mais tradicional companhia de seguros do mundo nos assuntos marítimos. Foi efetuado com ela o seguro do transatlântico Titanic. A fundação da Lloyd’s proporcionou à sociedade inglesa uma base jurídica formal que lhe permitiu adquirirproperty and make byelaws with the full authority of Parliament behind them. propriedade e fazer leis com plena autoridade parlamentar.It confirmed Lloyd’s as a business institution with guidelines that can be seen Confirmamse, então, as regras de Lloyd’s, que se consolidou como uma instituição de negócios com as orientações que podem ainda hoje ser trabalhadas com sucesso. 4.2. International marine insurance Nesse contexto, a legislação inglesa adotaria, anos depois, como regra para os seguros marítimos, as leis provenientes do English Marine Insurance Act 1906 (MIA 1906), ou Seguros Marítimos Ingleses – Ato de 1906, que regularizou as ações no campo dos seguros marítimos. O MIA 1906 consiste numa codificação de cerca de 200 anos de decisões judiciais, sendo que, ainda hoje, não há nenhum documento equivalente a ela. Tal codificação também se tornou conhecida por ser 9 “A Common Law provém do Direito inglês não escrito que se desenvolveu a partir do século XII. É a lei ‘feita pelo juiz’: a primeira fonte do direito é a jurisprudência. Elaborados por indução, os conceitos jurídicos emergem e evoluem ao longo do tempo: são construídos pelo amálgama de inúmeros casos que, juntos, delimitam campos de aplicação. A Common Law prevalece no Reino Unido, nos EUA e na maioria dos países da Commonwealth. Influencia mais de 30% da população mundial.” Panorama mundial do Direito. O Correio da Unesco, 2000, v. 28, n. 1, p. 26. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/leiconce.htm>. Acesso em: 29 de setembro de 2009. 10 SOCIETY OF LLOYD’S. Cronologia sobre História de Lloyd’s. Disponível em: <http://www.lloyds.com/ About_Us/History/Chronology.htm>. Acesso em: 05 de setembro de 2009. Contratos internacionais de seguro marítimo de mercadorias: uma análise... 85 “the mother of all marine insurance statutes11” (ou “a mãe de todos os estatutos de seguros marítimos”). De acordo com a palestra proferida pelo Professor Dr. Marko Pavliha: (…) the contract of marine insurance is a special (insurance) contract of indemnity which protects against physical and other losses to moveable property and associated interests, as well as against liabilities occurring or arising during the course of a sea voyage (R. Thomas). S. 1 of MIA 1906: A contract of marine insurance is a contract whereby the insurer undertakes to indemnify the assured, in manner and to the extent thereby agreed, against marine losses, that is to say, the losses incident to marine adventure12. Isso demonstra o quão importante se faz a análise crítica de casos vivenciados pela sociedade inglesa na elaboração de leis que irão assegurar os interesses das partes, bem como os interesses da sociedade. O Ato de 1906 é utilizado nos casos de ausência de acordos das partes em contrário. Todos os contratos marítimos de seguro subscritos na Inglaterra encontram-se governados por vários conjuntos de cláusulas, também chamados de Standard Marine Clauses, que, muitas vezes, eliminam o poder dos pressupostos estabelecidos pela lei. Esse ato aprovou o uso da Lloyd’s Ship and Goods Form of Policy (Formas de Política de Lloyd’s Navios e Mercadorias), anteriormente já aprovado pela Lloyd’s, em 1779. O que fez o MIA 1906 foi elaborar cláusulas anexas às políticas a fim de lidar com áreas determinadas de ineficácia da política de Lloyd’s. Contudo, em 1983, aboliu-se a política de Lloyd’s, sendo esta substituída por uma formulação mais simples, que age como uma folha de rosto para as cláusulas relativas ao instituto. Há a ideia de abolição também do MIA 1906, tendo em conta o estabelecimento de um código mais moderno. Entretanto, codificar novas regras não é tarefa fácil para um país que tem como lei-mãe a Common Law. O funcionamento real desta lei tem sido bastante satisfatório, dado que muitas das questões de fato suscitadas são resolvidas por referência à evidência do mercado e também devido 11 Palestra: PAVHLIHA, Dr. Marko. Lecture on Marine Insurance Law. The course outline. IMO International Maritime Law Institute. Malta, January 2004. Disponível em: <http://www.fpp.edu/ ~mlas/slo/files/IMLI-Marine%20Insurance%20Law.pdf>. Acesso em: 08 de setembro de 2009. 12 O contrato de seguro marítimo é um contrato especial de indenização que protege contra perdas físicas outros bens móveis e os interesses associados, bem como contra passivos que surjam ou ocorram durante o curso de uma viagem pelo mar (R. Thomas). S. 1 de MIA 1906: um contrato de seguro marítimo é um contrato pelo qual a seguradora se compromete a indenizar o segurado, na forma e na medida acordada, em caso de perdas marítimas, ou seja, os prejuízos do incidente à aventura marítima. 86 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 ao fato de os tribunais desempenharem um importante papel ao esclarecer as lides sem dispor da lei. O Judiciário inglês possui um papel fundamental ao esclarecer até onde a lei pode ou não alcançar. Os tribunais já estão conseguindo desenvolver princípios para situações novas aplicando a lei de forma mais flexível, de modo a refletir as tendências do mercado. Assim, verifica-se que os tribunais ingleses conseguiram, por intermédio de suas decisões, modernizar o Direito Marítimo de seguros. O mercado de Londres Joint Hull Committee, formado pela Lloyd’s Underwriters’ Association – Associação de Seguradores Marítimos de Lloyd’s – em consulta com as associações de armadores, seguradoras e corretores, desenvolveram a International Hull Clauses (IHC) – cláusulas internacionais do casco – como um novo conjunto de cláusulas. O IHC entrou em vigor em 1º de novembro de 2002. No Institute Voyage Clauses of Hulls (ou Instituto de Viagem das Cláusulas do Casco), surgem pontos destacados que dizem respeito apenas a matérias de aplicação ao Direito inglês, ou seja, para uso apenas na política atual do mar. Assim, destacam-se pontos que serão interpretados ao avaliar conflitos na órbita dos seguros marítimos realizados com empresas de navios com bandeira inglesa. As cláusulas da International Hull são divididas em três partes, sendo uma parte a que contém as principais condições de seguro; a segunda parte, que apresenta uma série de cláusulas adicionais que foram exigidas pelos assegurados e adicionadas ao ITC (Institute Time Clauses) separadamente; e a terceira, que contém provisões para sinistros e define os direitos e responsabilidades dos seguradores e assegurados. 4.3. Cláusulas contratuais inglesas Dentre os contratos de seguro, conforme a lei inglesa, algumas cláusulas são mais utilizadas e têm como objetivo beneficiar o importador em caso de avarias que possam ocorrer. Estas também estão divididas em três e serão definidas como A, B e C. Cada cláusula terá uma característica específica e, assim, cada uma atenderá a uma necessidade originária. A cláusula A trata sobre o All risk (AR). Essa cláusula cobre riscos totais ou parciais especificamente no objeto, possuindo uma cobertura mais completa dentre as demais no seguro marítimo, salvo algumas exceções. Na cláusula B, será tratado o Will average (WA). Cobrirá danos totais e parciais já referentes ao volume, seja na carga, seja na descarga, avaria grossa e Contratos internacionais de seguro marítimo de mercadorias: uma análise... 87 despesas de salvamento, colisão onde ambos são culpados, avarias simples e alguns casos fortuitos de força maior. A Will Average excluirá algumas causas externas, como embarques e desembarques, manipulação portuária, derrames e extravios, contudo permitirá que cláusulas especiais e adicionais a complementem. Por fim, a cláusula C, conhecida como FPA (Free of particular average), refere-se à cobertura de perda total em decorrência de avaria grossa. Em situações de avaria simples ou particular, a possibilidade de cobertura total fica restrita aos casos de encalhe, naufrágio, soçobramento13, descarrilhamento de veículo terrestre ou tombamento, colisão. Assim, ficam excluídas quaisquer hipóteses de cobertura em avarias particulares, roubos ou extravios de mercadorias, exceto negociação anterior. Desde 1996, consultas internacionais vêm sendo realizadas de modo a aprimorar essas cláusulas e, no ano de 2009, algumas modificações foram realizadas no que diz respeito às cláusulas de guerra e greve (Institute Cargo Clauses War and Institute Cargo Clauses Strikes). Dentre outras modificações, destacam-se as seguintes: (a) cláusula 4.3 – exclusão de preparação e embalagem; (b) cláusula 4.6 – exclusão de insolvência; (c) cláusula 7.3 – terrorismo; (d) cláusula 8 – cláusula de trânsito; (e) cláusula 10 – alteração de viagem (novo). Existirão as chamadas cláusulas acessórias e as de coberturas especiais. Como o próprio nome diz, são pontos que não podem ser aplicados sem que cláusulas básicas sejam utilizadas, e sua contratação dependerá, basicamente, de necessidades do segurado, variando de acordo com legislações secundárias. Essas cláusulas adicionais servem para completar os contratos de seguro em fatores específicos, mediante negociação e pagamento de valores extras. Convém citar algumas, devido à sua relevância para o transporte de mercadorias. Nesse caso, têm-se as seguintes: a cláusula adicional transit in clause, que trata da prevenção quanto ao porto de origem e destino, se ele não estiver especificado no contrato; a cláusula held covered (omissões cobertas), segundo a qual, não havendo má-fé, possíveis omissões do contrato ficam seguradas; a cláusula adicional em trânsito, incluída a cláusula de depósito a depósito, o que segura a mercadoria quanto ao transporte do depósito do exportador até o embarque no navio; a cláusula de lucros esperados para seguros de importação, o que ampara os casos de lucros não realizáveis devido a sinistros; finalmente, cláusula para seguros de impostos sobre mercadorias importadas e cláusula de Direito Aduaneiro, que previne o exportador quanto a possíveis problemas fiscais ao longo de desembaraços aduaneiros, dentre outras. 13 Emborcar; virar de borco. Disponível em: <http://www.proriscoseguros.com.br/glossario.htm>. Acesso em: 05 de setembro de 2009. 88 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Sob esse enfoque, a legislação inglesa se destaca como uma das precursoras nessa temática, não só pela longa experiência em navegações, mas também por ter suas leis originadas a partir de casos concretos, visando ao bem comum. 5. PARALELOS COMPARATIVOS O que se identifica a partir dos estudos sobre os contratos dos dois países é uma legislação brasileira que possui uma união de interpretação entre o Código Civil e o Código Comercial, regulamentando, especificamente, a aplicação das leis securitárias marítimas. Em seu Título III, o Código Comercial se encontrará totalmente dedicado às normas que regem a formulação de um seguro marítimo, definindo desde a estrutura de formação de um contrato até peculiaridades que devem ser atentadas. No caso da legislação inglesa, a sua estrutura, por mais que esteja fomentada em demais leis e casos práticos, se limitará a um único estatuto, o MIA 1906, o que não impede que outros acordos sirvam de embasamento para o próprio contrato. A partir dessa análise, pode-se verificar que, mesmo existindo para cada legislação uma peculiaridade e forma estrutural, ambas tratarão de pontos em comum. Os contratos internacionais de seguro marítimo nascem de uma mesma fonte, e a legislação inglesa representa um papel importante nessa influência. As diferenças surgem apenas quando o ordenamento nacional trata de prazos para cumprimentos de obrigações e restrições à prática de atos dentro dos princípios legais, enquanto os ingleses prezam o interesse coletivo e a interpretação de cada caso específico. 6. CONCLUSÃO Os meios de transporte marítimos destacam-se como sendo os primeiros passos para a globalização e a industrialização dos países. Por esse motivo, os contratos de seguro das mercadorias surgem como garantia para as relações comerciais entre as partes. Tanto para a Inglaterra quanto para o Brasil, o comércio marítimo é o grande colaborador para a expansão econômica de cada um. A necessidade de adotar seguros para prevenir os riscos que o transporte propicia e o interesse de buscar o melhor custo-benefício remetem os futuros segurados a contratar empresas sem consultar a sua idoneidade, o que colocará em risco toda a mercadoria existente. Com o aumento de seguradoras que buscam lucros rápidos num mercado em franca expansão, os interesses se voltam para contratos mal formulados e sem nenhum conhecimento quanto às leis a serem Contratos internacionais de seguro marítimo de mercadorias: uma análise... 89 aplicadas. É na legislação inglesa que se encontrará a lei-mãe para os seguros de mercadoria marítima e é nela que os demais países se basearão, com o propósito de legislar sobre o tema. Com um código de leis amparado pela Common Law, os doutrinadores ingleses e seus juristas buscam fundamentos em casos práticos e julgados ao longo da história, de modo a produzir soluções para controvérsias que beneficiem o interesse comum, e não apenas uma parte. A partir da longa experiência inglesa, os brasileiros, que possuem leis codificadas, criaram órgãos securitários com a finalidade de elaborar normas específicas para os casos do Direito Marítimo, que, mesmo com ares de Direito autônomo, possui laços estreitos com o Código Civil e o Código Comercial. Assim, reforça-se o ponto mencionado no início desse artigo, segundo o qual, mesmo se tratando de países com ordenamentos jurídicos diferentes, os contratos internacionais de seguro marítimo possuem a mesma fonte – o Direito inglês – e o mesmo propósito: garantir a harmonia das relações entre as partes envolvidas e prevenir riscos que possam afetar não só as referidas partes, mas toda a coletividade. REFERÊNCIAS BARROS, José Fernando Cedeño. Direito do mar e do meio ambiente – proteção de zonas costeiras e litorais pelo Acordo Ramoge: contribuições para o povo do Brasil e Mercosul. São Paulo: Lex, 2007. BRASIL, Ávio. Transportes e seguros marítimos e aéreos. Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas do Jornal do Brasil, 1955. CALIXTO, Robson José. Incidentes marítimos: história, Direito Marítimo e perspectivas num mundo em reforma da ordem internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2004. CASTRO, Luiz Augusto de Araújo. O Brasil e o novo direito do mar: mar territorial e zona econômica exclusiva. Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 1989. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria prática do Direito Marítimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. GUIA MARÍTIMO NEWS. Japoneses protegem navios na Somália. Matéria publicada em 03/09/2009. Disponível em: <http://www.guiamaritimo.com.br/ nota.php?id=1605&gmn=1#>. Acesso em: 03 de setembro de 2009. MATTOS, Adherbal Meira. O novo direito do mar. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. 90 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 NAZO, Georgette Nacarato. Curso de difusão cultural. São Paulo: Soamar, 1996. OCTAVIANO, Eliane Maria Martins. Curso de Direito Marítimo. Volume I. 2. ed. Barueri: Manole, 2005. ______. Curso de Direito Marítimo. Volume II. Barueri: Manole, 2008. PAVHLIHA, Dr. Marko. Lecture on marine insurance law. The course outline. IMO International Maritime Law Institute. Malta, January, 2004. Disponível em: <http:/ /www.fpp.edu/~mlas/slo/files/IMLI-Marine%20Insurance%20Law.pdf>. Acesso em: 08 de setembro de 2009. SOCIETY OF LLOYD’S. Cronologia sobre História de Lloyd’s. Disponível em: <http:// www.lloyds.com/About_Us/History/Chronology.htm>. Acesso em: 05 de setembro de 2009. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. Guia de orientação e defesa do segurado. 2. ed. Rio de Janeiro: Susep, 2006. 55p. Disponível em: <http:// www.susep.gov.br/download/cartilha/cartilha_susep2e.pdf>. Acesso em: 05 de setembro de 2009. THE INSTITUTE OF LONDON UNDERWRITERS. Institute Voyage Clauses Hulls. Disponível em: <http://www.marrisk.com/pdf/clauses/INSTITUTE%20VOYAGE%20 CLAUSES.pdf>. Acesso em: 05 de setembro de 2009. 91 El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos 7 El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos The human embryo or nasciturus as subject of rights DORA GARCÍA FERNÁNDEZ Profesora investigadora en la línea de Bioética y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Coordinadora de Investigación y Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México Norte. Directora Editorial de la Revista Iuris Tantum. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, México. Autora de varias obras jurídicas. www.doragarciaf.com. RESUMEN El análisis de la cuestión del comienzo de la persona humana es de vital importancia. Es preciso reconocer el carácter de persona del embrión humano desde el momento mismo de la fecundación. Es así que a partir de que el espermatozoide penetra el óvulo comienza la existencia de la persona humana y desde entonces el embrión debe ser sujeto de derechos que la legislación de cada país le debe reconocer. Palabras claves: embrión humano, nasciturus, embriogénesis, derechos del embrión humano. ABSTRACT The analysis of the moment that human life begins is of vital importance. It is necessary to recognize that human embryos are persons since fecundation. In that sense, since the sperm penetrates the ovum, a human being exists, and since that point the embryo should be subject to rights that each and every country must recognize. Keywords: human embryo, nasciturus, embryogenesis, human embryo rights. 92 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 1. EL EMBRIÓN HUMANO: NASCITURUS El hombre es un ser muy complejo. Su cuerpo está formado por millones de células que se multiplican constantemente para sustituir a las que mueren por concluir su ciclo de vida o por alguna otra causa. Pero, ¿desde cuando es ser humano? Al respecto el profesor Jerôme Lejeune, catedrático de Genética de la Universidad de la Sorbona, afirma que existe un ser humano: […] desde el momento mismo de la fecundación, desde el instante en que a la 1 célula femenina le llega toda la información que se contiene en el espermatozoide. En el preciso instante de la unión de los gametos femenino y masculino , inicia la formación de un nuevo ser, individual y autónomo. Se debe descartar la posibilidad de un antes y un después, ya que no existe ninguna transformación esencial por la cual el cigoto, embrión o el feto se convierta en algo que no fue desde el momento de su concepción. Se es ser humano desde la concepción hasta la muerte. En este mismo sentido, el Consejo de Europa estableció lo siguiente: La ciencia y el sentido común prueban que la vida humana comienza en el acto de la concepción y que en este mismo momento están presentes en potencia 2 todas las propiedades biológicas y genéticas del ser humano. Pero, para entender estas afirmaciones es importante repasar someramente el proceso de fecundación o concepción de un ser humano. Cada célula humana cuenta con un núcleo en donde contiene 46 cromosomas, formados por millones de genes o caracteres de la herencia. De la combinación de estos genes dependen las características que nos hacen únicos e irrepetibles. A toda esta información, contenida en las células de nuestro cuerpo, se le denomina genoma o código genético. El espermatozoide, la célula germinal3 masculina, y el óvulo, la célula germinal femenina, están programados naturalmente para unirse y formar un nuevo ser humano. Cada uno de ellos contiene la mitad de la información genética necesaria para formar un hombre o mujer con sus características físicas y psicológicas propias, distinto de todos los demás. Gracias a la unión de los gametos femenino y masculino, 1 LEJEUNE, Jerome, ¿Qué es el embrión humano?, Documentos del Instituto de Ciencias para la Familia, Ediciones Rialp, Madrid, 1993. 2 Consejo de Europa, Resolución Núm. 4376, Asamblea del 4 de octubre de 1982. 3 Células germinales: Células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar origen a un embrión. Art. 314, Ley General de Salud (LGS), dirección en Internet: http://www.scjn.gob.mx/ Legilación/, fecha de consulta: 23 de mayo de 2009. El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos 93 la célula que resulta de esta unión tendrá una dotación normal de 46 cromosomas: 23 proporcionados por el padre y 23 por la madre. El conocimiento biogenético actual demuestra indiscutiblemente que el embrión humano es tal desde el momento de la fecundación. Cuando un espermatozoide (gameto masculino) fecunda un óvulo (gameto femenino) se constituye un nuevo ser humano que técnicamente se llamará cigoto. Inmediatamente después de la fusión de ambos gametos se dan una serie de eventos científicos sucesivos y encadenados, que lleva al desarrollo del embrión humano. Estos eventos científicos son: 1) La fusión de membranas de ambos gametos y la penetración del núcleo del espermatozoide al óvulo: en la fecundación, el núcleo del espermatozoide penetra el citoplasma del óvulo, en forma casi inmediata a la fusión de las membranas. El núcleo, portando los 23 cromosomas paternos, constituye el pronúcleo masculino. 2) El recambio de proteínas del ADN del espermatozoide: el ADN paterno está contenido en el núcleo del espermio mediante unas moléculas de proteínas, llamadas protaminas. Estas proteínas, después de la fecundación, son rápidamente recambiadas por otras proteínas llamadas histonas que están presentes en el citoplasma del óvulo. 3) Duplicación de los cromosomas en cada pronúcleo masculino y femenino, por separado: el pronúcleo masculino y el femenino NO se fusionan. En cada pronúcleo por separado sucede una duplicación de todos los cromosomas. Estos núcleos se acercan, se interdigitan y desaparecen sus envolturas nucleares y los 46 cromosomas duplicados se ordenan en el cigoto, iniciándose la primera división celular. 4) Se originan las dos primeras células o blastómeros: la primera división celular del cigoto da origen a las dos primeras células o blastómeros, evento que ocurre horas después de la fecundación. Esta división separa a los 46 cromosomas duplicados (23 paternos dobles y 23 maternos dobles), de modo que cada célula hija o blastómero recibe una copia de cada uno de los 46 cromosomas. 5) Primeros estadios del desarrollo embrionario: los dos blastómeros se dividen a su vez en cuatro células y posteriormente en ocho y así sucesivamente, hasta formar el embrión humano y luego el feto y finalmente el recién nacido.4 4 SANTOS, Manuel, Revista Universitaria, Vol. 58, págs. 9-13, 1997, en “ Qué es lo sustativamente nuevo que ha revelado la investigación moderna biogenética”, dirección en Internet: www.bio.puc.cl/ cursos/bio027/revuni1.htm, fecha de consulta: 16 de enero de 2003. 94 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 El óvulo es una célula muy importante ya que lleva consigo el alimento necesario para la subsistencia del nuevo individuo durante los primeros días de su existencia. Durante la etapa fértil de la mujer, después de realizado el acto sexual, los millones de espermatozoides depositados por el hombre en la vagina de la mujer viajan varias horas con el fin de llegar y conquistar el óvulo que se encuentra descendiendo por las trompas de falopio. La mayoría de los espermatozoides mueren en el intento de llegar al óvulo y sólo los más fuertes logran encontrarlo para fusionarse definitivamente con él y formar un cigoto5. Este cigoto es un ser humano constituido por una sola célula que en su interior contiene toda la información y la capacidad necesaria para desarrollarse por sí mismo durante nueve meses con ayuda de su madre, hasta poder nacer. A partir del momento de la concepción hay una serie de eventos que son una clara evidencia de que los gametos ya no actúan como dos sistemas independientes entre sí, sino como un nuevo sistema. El cigoto tiene información genética que caracteriza a los organismos de la especie homo sapiens y así se ha distinguido: Capacidad informacional: información que puede dirigir el desarrollo de un ser humano. El cigoto no posee todas las moléculas informativas para su desarrollo, pero tiene las moléculas con potencial de adquirir capacidad de información, cosa que se logra con el tiempo mediante interacciones con otras moléculas. Contenido informacional: información que se puede usar para desarrollar un ser humano, aunque no esté disponible en un determinado momento para hacerlo. En este sentido, la mayoría de las células de un adulto tienen contenido informacional pero únicamente usan una parte.6 Algunas horas después de la fecundación, el cigoto avanza por la trompa mientras va multiplicando el número de sus células: 2, 4, 8, 16, hasta llegar a constituir un ser de miles de millones de células, todas con un mismo código genético y cada una de ellas con determinada información especializada7. Es durante este proceso que los científicos llaman al nuevo individuo: embrión.8 5 6 7 8 Se le llama cigoto o zigoto a la célula huevo resultante de la fusión de dos gametos, uno masculino y otro femenino. Diccionario de la Lengua Española, Océano, México, 1997, pág. 165. “El estatuto del embrión”, en Cátedra de Biotecnología, Biodiversidad y Derecho, dirección en Internet: www.biotech.bioetica.org, fecha de consulta: 1º de abril de 2008. A este fenómeno se le llama diferenciación celular. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Homero, El derecho a la vida del concebido no nacido, Tesis de la Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac, México, 2000, págs. 1-5. El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos 95 Entonces, se puede deducir de lo anterior que el embrión humano es la fusión de dos células altamente especializadas, extraordinariamente dotadas, estructuradas y programadas, llamadas gametos: el óvulo y el espermatozoide. Esta fusión se lleva a cabo durante el proceso de fecundación. El embrión humano está caracterizado por una nueva y exclusiva estructura informativa que comienza a actuar como una unidad individual. Se puede afirmar que el embrión es la forma más joven de un ser humano. Algunos sostienen que para poder hablar de vida humana se deben tener en cuenta cuatro procesos básicos en el desarrollo del embrión: 1. La fusión de los gametos o fecundación, ya que aparece un genotipo diferenciado del padre y de la madre. 2. La segmentación o proceso a través del cual se da la individuación. 3. La implantación en el útero, momento en el que se da una realidad nueva con unidad y unicidad. 4. Aparición de la corteza cerebral, a la que se le considera como el sustrato biológico de la racionalización.9 Muchos investigadores piensan que para que se dé la individualización de un ser humano se precisan dos propiedades que ya se mencionaron antes: la unidad y la unicidad. La unidad se refiere a la realidad positiva que se distingue de otra y la unicidad es la calidad de ser único (e irrepetible).10 Otros autores opinan que el embrión carece de personeidad, la cual implica una interioridad de autoconciencia y autoposesión, de tal modo que no puede ser considerado una persona. Pero ¿qué pasa con aquellos individuos que por algún accidente caen en coma y ya no poseen esta autoconciencia y autoposesión de la que se habla? ¿Acaso ya no son personas? Otra postura, contraria a la anterior es la que apoya Zubiri, quien opina que la personeidad es lo constitutivo del ser humano, la raíz de su actuar, por lo cual considera que el embrión sí tiene personeidad y por tal motivo es persona.11 Lejeune, en cambio, no habla del concepto de persona, simplemente sostiene que el embrión es, sin ninguna duda, un ser humano y lo que lo define como tal es 9 JUNQUERA DE ESTEFANÍ, Rafael, Reproducción asistida, filosofía ética y filosofía jurídica, Tecnos, Madrid, España, 1998, pág. 45. 10 Ibid, págs. 45-46. 11 X. ZUBIRI, El hombre y Dios, citado por JUNQUERA ESTEFANÍ, Rafael, pág. 46. 96 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 su pertenencia a la especie humana. La protección del embrión y su rango especial no dependen de cuándo se convierte en persona sino de las posibilidades de alcanzar la situación de persona humana.12 Para determinar cuando es que comienza la vida humana, existen divergencias entre los especialistas. Algunos consideran que los embriones humanos son entidades que se encuentran en un estado de desarrollo donde no poseen más que un simple potencial de vida y durante los primeros 14 días posteriores a la fecundación se le considera un “pre-embrión”13 y una vez anidado en el útero es un embrión. Actualmente la ciencia ha dado la más rotunda razón al argumento de que en cuanto ha concluido la fecundación (ya sea de forma natural o artificial) se ha concebido un ser humano único e irrepetible (que no puede tener otro carácter que el de persona) y nos encontramos, por lo tanto, ante un ser humano con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico.14 En efecto, las investigaciones de los equipos de Richard Gardner y Magdalena Zernicka-Goetz concluyen lo siguiente: El cigoto, la fase unicelular y primera de todo organismo, tiene ya una organización individual. El término de la fecundación es un nuevo ser: una realidad viva celular (cigoto) diferente de cualquier otra célula, puesto que posee polaridad y asimetría, mostrando así que se ha constituido mediante un proceso de autoorganización de la célula “híbrida” resultado de la fusión de los gametos paterno y materno. El cigoto tiene los componentes moleculares nuevos (no presentes en el óvulo ni en el espermio) que le hacen poseer ya el plano de crecimiento según los ejes del cuerpo. La manifestación directa de la organización embrionaria es que ya la primera división celular da lugar a la aparición de dos células diferentes del cigoto, desiguales entre sí y con destino diferente en el embrión. La interacción célula-célula activa informan a cada una de las células 15 de su identidad como parte de un todo bicelular. Retomando lo anteriormente citado, el cigoto tiene carácter individual pues está organizado de forma asimétrica, y de tal forma que en la primera división se producen dos células distintas que se organizan en una unidad orgánica al interactuar entre ellas. Cada ser humano, a lo largo de su vida, guarda memoria de esta primera 12 LEJEUME, J., op.cit., págs. 65-76. En realidad “pre-embrión” es un término reductivista de la persona que lo acerca más a ser un material biológico. 14 “Carta de una experta española a los Senadores de la República Oriental del Uruguay”, Natalia López Moratalla, Universidad de Navarra, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, dirección en Internet: http://www.bioeticaweb.com/Comentarios_juridicos/Moratalla_uruguay.htm, fecha de consulta: 11 de junio de 2003. 15 H. PEARSON, “Your destiny from day one”, en Revista Nature, citado por LÓPEZ MORATALLA, Natalia. 13 El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos 97 división por lo que pasa de ser un individuo unicelular a ser un organismo de dos células y en consecuencia no existe lo que algunos llaman “pre-embrión”, es decir, no se trata de una realidad diferente del embrión sino que se está ante este mismo embrión pero en su etapa preimplantatoria.16 Más adelante este embrión se convertirá en feto, luego en niño, adolescente, adulto y anciano. Desde el momento de la concepción nos encontramos ante el mismo ser humano que pasará por todas estas etapas durante su vida. Ahora bien, en el ámbito jurídico, a este embrión, se le llama nasciturus, que significa: “Ser humano como sujeto de derecho que ha sido concebido, pero que no ha nacido aún.”17 2. CONDICIÓN JURÍDICA DEL NASCITURUS Tradicionalmente la doctrina ha sostenido la idea de que la persona física nace para el Derecho a partir de su nacimiento, es decir, a partir de que es expulsado del vientre materno. Para Jesús Ballesteros, en el plano jurídico hay que distinguir tres sistemas: A. El sistema anglosajón, que niega la condición de sujeto de derechos al embrión y le considera objeto de experimentación, material biológico disponible, simple objeto y favorable a la clonación sin fines reproductivos. En una postura parecida hay que considerar a la legislación española de 1989 y a la sentencia del 2000, que autorizan la congelación de embriones y la utilización científica de los mismos previo consentimiento informado de los padres, así como el diagnóstico preimplantatorio, lo que tiene claro carácter eugenésico. B. El modelo alemán, que ocupa una posición intermedia después de establecer que las técnicas de fecundación asistida únicamente son lícitas si no hay otro modo de combatir la infertilidad, o contra enfermedades hereditarias. Asimismo, prohíbe tales técnicas a efectos de investigación. En la FIV sólo se pueden fecundar los embriones que serán implantados. C. El modelo iberoamericano, que defiende abiertamente el carácter personal del embrión y por tanto lo considera sujeto de derechos. El estatuto del 18 embrión humano es la cuestión central de la Bioética. 16 Ibid. PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionario para Juristas, Mayo Ediciones, México, 1981, pág. 901. 18 BALLESTEROS, Jesús, “El estatuto del embrión”, en http:// :www.mercaba.org/Filosofia/ética/BIO/ estatuto_del_embrion.htm, fecha de consulta: 29 de julio de 2009. 17 98 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 En México, el jurista Rafael Rojina Villegas establece que el nasciturus tiene personalidad antes de nacer, para ciertas consecuencias de derecho, como son: capacidad para heredar, para recibir legados y donaciones. Y para ser heredero, legatario o donatario se requiere tener personalidad jurídica ya que por tales calidades se adquieren derechos patrimoniales. Se pudiera decir que el nasciturus está representado por sus padres pero esta representación descansa en la existencia del representado, de manera que se admite que el embrión humano es persona y que tiene una capacidad mínima para considerarlo sujeto de derechos.19 Para fundamentar lo anteriormente expuesto, nuestro Código Civil otorga al concebido y no nacido los siguientes derechos: 1) Derecho a heredar y a recibir donaciones Artículo 1314. Son incapaces de adquirir por testamento por intestado, a causa de falta de personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el artículo 337. Artículo 2357. Los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal que hayan estado concebidos al tiempo en que aquélla se hizo y sean viables conforme a lo dispuesto en el artículo 337. Artículo 337. Para los efectos legales, sólo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo ante el Registro Civil. Faltando alguna de estas circunstancias, no se podrá interponer demanda sobre la paternidad o maternidad. 20 2) Detener y modificar las obligaciones alimentarias de la sucesión hasta su nacimiento. Artículo 1638. Cuando a la muerte del marido la viuda crea haber quedado encinta, lo pondrá en conocimiento del juez que conozca de la sucesión, dentro del término de cuarenta días, para que lo notifique a los que tengan a la herencia un derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo. Artículo 1643. La viuda que quedare encinta, aun cuando tenga bienes, deberá ser alimentada con cargo a la masa hereditaria.21 19 ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Tomo I: Introducción y Personas, 7ª edición, Porrúa, México, 1996, págs. 434-437. 20 Ibid. 21 Ibid. El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos 99 3) Suspender la partición de la herencia. Artículo 1648. La división de la herencia se suspenderá hasta que se verifique el parto o hasta que transcurra el término máximo de la preñez, mas los acreedores podrán ser pagados por mandato judicial.22 De acuerdo a lo anterior, la legislación civil reconoce, implícitamente, la existencia del nasciturus como persona y no como cosa, en consecuencia es inadmisible atentar contra su vida o su dignidad. En cuanto a la condición jurídica del nasciturus, antes de las reformas, la Ley General de Salud (LGS) establecía tres distintas etapas del desarrollo del nasciturus: Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por: […] IV. Pre-embrión: el producto de la concepción hasta el término de la segunda semana de gestación. V. Embrión: el producto de la concepción a partir del inicio de la tercera semana de gestación y hasta el término de la duodécima semana gestacional. VI. Feto: el producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno […]23 Por otro lado, en el artículo 6º del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos24 (RLGSDOTC), sólo se reconocen dos etapas del desarrollo del nasciturus, que son embrión y feto y no enuncia una fase “preembrionaria” como lo hacía la LGS. La Ley General de Salud fue reformada en el año 2000 y en ella sólo se reconocen dos fases del desarrollo del nasciturus: Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por: […] VIII. Embrión, al producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el término de la duodécima semana gestacional; 22 Ibid. Art. 314, LGS. 24 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos (RLGSDOTC), dirección en Internet: http:// www.scjn.gob.mx/Legilación/, fecha de consulta: 28 de mayo de 2009. 23 100 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 IX. Feto, al producto de la concepción a partir de la decimo-tercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno[…]25 El concepto de “pre-embrión” no tenía razón de ser ya que como argumenta el genetista francés Jerome Lejeume, no se necesita ninguna subclase a la que llamar “pre-embrión” porque no hay nada antes del embrión. Antes de éste hay un óvulo y un espermatozoide que cuando se unen forman un cigoto que cuando se divide se convierte en embrión o lo que él llama, un “jovencísimo ser humano”.26 Y tal como lo afirma Robert Spaemann, filósofo alemán: “algo no puede llegar a ser alguien”. El embrión, con independencia de si fue procreado por los medios naturales o por los artificiales, es un ser humano, con su propia carga genética, alguien con características que lo hacen único e irrepetible de entre los demás seres humanos. 3. AUTONOMÍA INTRÍNSECA DEL NASCITURUS Para José Carlos Abellán, las personas gozan de una autonomía que permite que se desarrollen como tales. Esto se logra mediante una sucesión de actos voluntarios y, la mayoría de las veces, libres. El embrión humano es una persona y por lo tanto posee, como los demás seres humanos, una autonomía intrínseca. En caso de conflicto de dos voluntades autónomas como lo es la de la madre y la del embrión que se encuentra en su vientre, el Derecho hace prevalecer la autonomía de la madre con un valor autárquico, es decir, con un poder para “gobernarse” a sí misma. Ante esta situación, es indispensable reivindicar el valor objetivo que representa la autonomía que posee el embrión humano, la cual se deriva de su dignidad como ser humano.27 Y así, aunque este embrión se encuentre en el vientre de su madre, ella no debe pasar por encima de su autonomía y tomar decisiones, con respecto a ese embrión, que no le corresponden, ya que el embrión humano representa una vida biológica distinta de la madre, única e irrepetible. 25 Art. 314, Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2000. 26 LEJEUNE, Jerome, op.cit.,pág. 44. 27 ABELLÁN SALORT, José Carlos, “La autonomía del embrión humano”, en El inicio de la vida (Identidad y estatuto del embrión humano), 2ª edición., Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1999, págs. 231 y 232. El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos 101 Con respecto a esto, Rodríguez Luño-R. y López Mondéjar expresan lo siguiente: Se habla –con razón– de una dependencia del embrión respecto de la madre. Es, sin embargo, una dependencia puramente extrínseca: la madre nutre al feto, que no podría vivir sin ella, igual que sucede con el recién nacido. Pero el nuevo organismo se forma bajo el influjo directivo y perfectamente ordenado de esa especie de “centro de control” que constituye el genotipo. Estamos frente a un caso de “autogobierno biológico”.28 4. PROTECCIÓN DEL NASCITURUS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA De la protección del nasciturus se desprende cuál será la protección del ser humano en sus etapas de niño, adolescente, adulto, anciano y moribundo29, de ahí la importancia de que toda legislación reconozca los derechos del ser humano desde el momento de la concepción. En México, además de la Ley General de Salud y de su reglamento, mencionados en el punto anterior, se encuentra el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud (RLGSIS)30, en el que también se distinguen sólo dos etapas del desarrollo del nasciturus (embrión y feto) pero además lo protege de investigaciones que pudieran afectar su desarrollo o que lo expongan a un riesgo, exceptuando la intervención que se tenga que hacer para salvar la vida de la madre. Nuestra Constitución en su artículo 4º (párrafo cuarto) establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, y esto da a entender que el embrión y el feto, al ser personas, también tienen derecho a la protección de su salud y de su bienestar. Así, cualquier manipulación del nasciturus debe perseguir siempre su bienestar y la procuración de su salud. La vida del embrión se infiere es protegida por los artículos 14 y 16 constitucionales, en los que se establece lo que sigue: “Art. 14. …Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos31, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”. Y “Art. 16. Nadie 28 RODRÍGUEZ LUÑO-R y LOPEZ MONDÉJAR, La fecundación in vitro, citados por ABELLÁN SALORT, José Carlos, pág. 241. 29 LOMBARDI, Luigi, citado por BALLESTEROS, Jesús, página de Internet citada anteriormente. 30 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud (RLGSIS) Arts. 4547, dirección en Internet: http://www.scjn.gob.mx/Legilación/, fecha de consulta: 28 de mayo de 2009. 31 En este caso el derecho a la vida. 102 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.32 En este sentido, un ser humano –y el embrión lo es– se entiende que está incluido en la protección constitucional que ofrecen los artículos 4º, 14 y 16. Ahora bien, la controversia que genera la inclusión del concebido no nacido en el término de “persona” fue resuelta por el propio constituyente cuando por motivo de las reformas a los artículos 30, 32 y 37 en materia de nacionalidad, señaló expresamente, en el artículo tercero transitorio de la Constitución, que “las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha en que el presente decreto entre en vigor, seguirán aplicándose, respecto a la nacionalidad mexicana, a los nacidos o concebidos durante su vigencia”.33 Por lo tanto, esta mención hecha por el constituyente en la que se les reconoce derechos constitucionales a los concebidos, deja fuera de discusión legal si el concebido no nacido es persona o no lo es.34 Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su papel de intérprete última de nuestra Constitución estableció en su tesis jurisprudencial 13/ 2002 que “… el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como heredero o donatario. Se concluye que el derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales”. Entonces, el embrión humano, desde el momento de su concepción, tiene el derecho a la protección que debe ser dada por nuestras leyes a toda persona, es decir, tiene derecho a la vida, a que se respete su dignidad como ser humano, a la libertad y a preservar su salud. Y no obstante que su vida dependa biológicamente de la madre, el embrión tiene su propia individualidad, su propio código genético, que lo hace un ser humano único e irrepetible cuya existencia debe protegerse. 5. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL NASCITURUS EN EL DERECHO COMPARADO En las legislaciones de los países europeos no existe una definición legal del concepto de embrión, tampoco en el Convenio del Consejo de Europa sobre Derechos 32 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa, México, 2009. Diario Oficial de la Federación, 20 de marzo de 1997, citado por INCHAURRANDIETA SÁNCHEZ MEDAL, Jaime, “Sobre el aborto...”, en revista El Mundo del Abogado, mayo 2007, pág. 36. 34 Ibid, pág. 36. 33 El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos 103 Humanos y Biomedicina. Este convenio no fue firmado por el Reino Unido por considerarlo muy restrictivo y tampoco fue adoptado por Austria y Alemania por considerarlo demasiado permisivo. Este instrumento no prohíbe la investigación con embriones y no define lo que es una “adecuada protección” para el embrión en el caso de que se permita la investigación. Sólo el Reino Unido permite la creación de embriones con fines de investigación, en cambio Alemania y Austria prohíben la investigación en sus ordenamientos jurídicos.35 En España, el artículo 15 de su Norma Fundamental establece que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…”36 Y es en este término “todos” dónde se podría incluir el nasciturus quien queda entonces protegido por la Constitución aún cuando no afirma explícitamente que sea titular del derecho fundamental. Si nos ajustamos literalmente al texto parece que es suficiente su redacción, pero existen diversas posiciones al respecto. Unos consideran que el término “todos” incluye al concebido no nacido, otros, se inclinan por pensar que este término sólo incluye a quienes hayan nacido y señalan que “todos” significa “todas las personas”. Aunque los derechos no pueden ser ejercidos por alguien que todavía no ha nacido, el derecho a la vida es un derecho inherente al embrión humano.37 En su Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, se permite la investigación con embriones humanos. En este ordenamiento no se le da al embrión el carácter de ser humano pues puede ser utilizado en investigaciones con fines terapéuticos y reproductivos. Ahora bien, en este país el aborto es un delito salvo en tres supuestos: violación denunciada, graves taras físicas o psíquicas del feto (previo dictamen de dos especialistas) y grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre (con el informe de un médico). Los médicos que emiten los dictámenes deben ser distintos a los que practiquen el aborto. En la violación y la malformación fetal los plazos para llevar a cabo el aborto son 12 semanas para el primer supuesto y 22 para el segundo. Sin embargo, no hay límite de tiempo en caso de que exista grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. 35 IAÑEZ PAREJA, Enrique, “Ética del uso de embriones humanos”, Departamento de Microbiología e Instituto de Biotecología de la Universidad de Granada, España, en: http://www.ugr.es/~eianez/ Biotecnologia/clonetica.htm#_Toc3656107, fecha de consulta: 22 de octubre de 2009. 36 Art. 15, Constitución Española, en: http://narros.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/ index.htm, fecha de consulta: 19 de octubre de 2009. 37 SANCHEZ BARRAGÁN, Rosa de Jesús, “Protección jurídica de la vida prenatal, con especial relevancia en el Derecho Constitucional Español”, en: http://www.bioeticaweb.com, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2009. 104 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Por último, el Código Civil Español expresa que el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido no nacido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables.38 Estos efectos favorables se enfocan principalmente a intereses económicos o de filiación, ya que este ordenamiento permite las donaciones a los concebidos no nacidos.39 En Argentina se considera al nasciturus como una persona por nacer, por ello, su derecho positivo reconoce que la existencia de la persona comienza en el momento de la concepción. A nivel constitucional, el artículo 75 reconoce la personalidad del niño por nacer durante toda la extensión del embarazo. Asimismo, su Código Civil consagra el comienzo de la persona física desde el momento de la concepción en el seno materno, siendo, desde ese momento, titular de un conjunto de derechos. El artículo 51 de este ordenamiento establece que “todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible”.40 En Brasil existen disposiciones que protegen los derechos del concebido, pero que introducen una distinción entre el concebido y el nacido. En este país existen tres posturas al respecto: Una es que la personalidad comienza desde la concepción, otra es que el nasciturus posee una personalidad condicional y la última es que el nasciturus tiene personalidad a partir de su nacimiento.41 Es así que el Novo Código Civil Brasileiro expresa lo siguiente: “Art. 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei poe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro” que traducido al español significa: “La personalidad civil del hombre comienza con el nacimiento con vida; más la ley pone a salvo los derechos del nasciturus desde la concepción.”42 En 2005, fue aprobada por el Senado brasileño la Ley de Bioseguridad. Fue una decisión muy polémica que enfrentó a la comunidad científica y religiosa de Brasil, ya que dicho ordenamiento permite el uso de embriones generados a partir de la fecundación in vitro y que están congelados desde hace más de tres años en clínicas de fertilización en investigaciones y terapias médicas. Según los miembros que avalaron dicha ley, ésta no viola el derecho a la vida, pero la Procuraduría General 38 Art. 29, Código Civil Español, en http://www.ucm.es, fecha de consulta: 1º de octubre de 2009. Art. 627, ibid. 40 LAFFERRIERE, Jorge Nicolás, “El derecho ante la manipulación embrionaria”, en http://www.uca.edu.ar, fecha de consulta: 1º de octubre de 2009. 41 Ibid. 42 Novo Código Civil Brasileiro, Cámara Municipal de Curitiba,en: http://www.cmc.pr.gov.br, fecha de consulta: 1º de octubre de 2009. 39 El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos 105 de la República denunció que constituye una violación al principio constitucional que asegura la protección de la vida humana ya presente el en embrión.43 En Chile, su Código Civil hace una distinción entre la existencia natural y la legal de la persona, estableciendo que la existencia natural principia con la concepción y se prolonga hasta el nacimiento, en cambio, la existencia legal de toda persona principia al nacer, es decir, al separarse completamente de su madre.44 Pero, aunque al nasciturus no se le reconozca existencia legal, la Constitución Política de Chile asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica…” y establece también que “la ley protege la vida del que está por nacer”.45 Cabe resaltar que en Chile está prohibido el aborto en todas sus formas, aunque sea por razones médicas.46 6. A MANERA DE CONCLUSIÓN Es un hecho que el embrión humano es una realidad biológica que representa el inicio de la vida humana, con su propia carga genética que lo distingue como un ser único e irrepetible. Desde el mismo momento de la concepción posee plena dignidad humana y por lo tanto, posee también el derecho fundamental de la vida, por lo cual se le debe otorgar la protección jurídica necesaria. El tema concerniente a la protección jurídica del embrión humano requiere de un constante estudio derivado del vertiginoso avance de la investigación en las ciencias de la salud, avance que muchas veces atenta contra la dignidad del nasciturus. La desvalorización que algunas personas hacen a la vida humana en sus primeros estadios es un grave atentado al embrión humano y a su dignidad como persona, por ello es de suma importancia que la legislación de cada país lo reconozca como sujeto de derechos. 43 Constitución de la República Federativa de Brasil, Artículo 5º, en: http://www.bibliojuridica.org/ libros/4/1875/2.pdf, fecha de consulta: 22 de octubre de 2009. 44 Art. 74, Código Civil Chileno, en: http://www.nuestroabogado.cl/codcivil.htm#primero, fecha de consulta: 9 de octubre de 2009. 45 Art. 19 -1º de la Constitución Política de la República de Chile, en: http://www.leychile.cl, fecha de consulta: 9 de octubre de 2009. 46 “La política y el aborto terapéutico en Chile”, en: http://www.spanish.xinhuanet.com, fecha de consulta: 17 de marzo de 2009. 106 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 REFERENCIAS ABELLÁN SALORT, José Carlos. La autonomía del embrión humano. En: LÓPEZ BARAHONA, Mónica & ABELLÁN SALORT, José Carlos. El inicio de la vida (identidad y estatuto del embrión humano). 2. ed. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1999. AGENCIA DE NOTICIAS XINHUA DE CHINA. La política y el aborto terapéutico en Chile. Disponible en: <http://www.spanish.xinhuanet.com>. Fecha de consulta: 17 de marzo de 2009. BALLESTEROS, Jesús. El estatuto del embrión. En: Bioetica en la Red, 2004. Dirección en Internet: <http://www.bioeticaweb.com/content/view/103/44/>. Fecha de o consulta: 1 de abril de 2008. BRASIL. Constitución de la República Federativa de Brasil. Disponible en: <http:// www.bibliojuridica.org/libros/4/1875/2.pdf>. Fecha de consulta: 22 de octubre de 2009. ______. Novo Código Civil Brasileiro. Cámara Municipal de Curitiba. Disponible o en: <http://www.cmc.pr.gov.br/down/ccivil.pdf>. Fecha de consulta: 1 de octubre de 2009. CHILE. Código Civil Chileno. Disponible en: <http://www.nuestroabogado.cl/ codcivil.htm#primero>. Fecha de consulta: 9 de octubre de 2009. ______. Constitución Política de la República de Chile. Disponible en: <http:// www.leychile.cl>. Fecha de consulta: CONSEJO DE EUROPA. Resolución n. 4.376. Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 4 de octubre de 1982. ESPAÑA. Código Civil Español. Disponible en: <http://www.ucm.es>. Fecha de o consulta: 1 de octubre de 2009. ______. Constitución Española. Disponible en: <http://narros.congreso.es/ constitucion/constitucion/indice/index.htm>. Fecha de consulta: 19 de octubre de 2009. GARCÍA FERNÁNDEZ, Dora. La adopción de embriones humanos. Una propuesta de regulación. Ciudad de México: Porrúa/Universidad Anáhuac México Norte, 2007. IAÑEZ PAREJA, Enrique. Ética del uso de embriones humanos. Departamento de Microbiología e Instituto de Biotecología de la Universidad de Granada, España. Disponible en: <http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/clonetica.htm#_ Toc3656107>. Fecha de consulta: 22 de octubre de 2009. INCHAURRANDIETA SÁNCHEZ MEDAL, Jaime. La Constitución protege la vida. En: Revista El Mundo del Abogado, año 9, n. 97, mayo, 2007, p. 36. El embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos 107 JUNQUERA DE ESTEFANÍ, Rafael. Reproducción asistida, filosofía ética y filosofía jurídica. Madrid: Tecnos, 1998. LAFFERRIERE, Jorge Nicolás. El derecho ante la manipulación embrionaria. Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. Disponible en: <http:// www.uca.edu.ar/esp/sec-fderecho/subs-leynatural/esp/docs-articulos/pdf/ o lafferriere-07.pdf>. Fecha de consulta: 1 de octubre de 2009. LEJEUNE, Jerome. ¿Qué es el embrión humano? Documentos del Instituto de Ciencias para la Familia. Madrid: Rialp, 1993. MÉXICO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México: Porrúa, 2009. ______. Ley General de Salud (LGS). Dirección en Internet: <http://www.salud. gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/index-indice.htm>. Fecha de consulta: 23 de mayo de 2009. ______. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos (RLGSDOTC). Dirección en Internet: <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/ nom/compi/rlgsmcsdotcsh.html>. Fecha de consulta: 28 de mayo de 2009. ______. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (RLGMIS), Arts. 45-47. Dirección en Internet: <http:// www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmis.html>. Fecha de consulta: 28 de mayo de 2009. ______. Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2000. Disponible en: <http:/ /www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm>. MORATALLA, Natalia López. Carta de una experta española a los Senadores de la República Oriental del Uruguay. Universidad de Navarra, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, julio, 2002. Disponible en: <http://www.bioeticaweb.com/content/ view/225/750/>. Fecha de consulta: 11 de junio de 2003. OCÉANO. Diccionario Océano de la Lengua Española. México, DF: Océano, 1997. PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Diccionario para juristas. México, DF: Mayo, 1981. ROJINA VILLEGAS, Rafael. Derecho Civil Mexicano. Tomo I: Introducción y personas. Ciudad de México: Porrúa, 2008. SÁNCHEZ BARRAGÁN, Rosa de Jesús. Protección jurídica de la vida prenatal, con especial relevancia en el Derecho Constitucional Español. Disponible en: <http:// 108 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 www.bioeticaweb.com/content/view/4681/792/>. Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2009. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Homero. El derecho a la vida del concebido no nacido. Tesis de la Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac. Ciudad de México, 2000. SANTOS, Manuel. Qué es lo sustantivamente nuevo que ha revelado la investigación moderna biogenética. En: Revista Universitaria, v. 58, p. 9-13, 1997. Dirección en Internet: <http://www.bio.puc.cl/cursos/bio027/revuni1.htm>. Fecha de consulta: 16 de enero de 2003. SGRECCIA, Elio. Manual de bioética. Ciudad de México: Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud, Universidad Anáhuac/Diana, 1996. 109 Ius cogens 8 Ius cogens Ius cogens EBER BETANZOS Director General de Política Criminal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Estudió la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho (ELD), teología en la Escuela de Ciencias Religiosas de la Universidad LaSalle y filosofía en la Universidad Panamericana. Es maestro en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo el diploma de estudios avanzados en el Doctorado en Derechos Humanos de la UNED. Profesor de argumentación jurídica en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y de historia del derecho patrio en la ELD. Es autor del libro Discordia Constitucional: Benito Juárez y la Constitución de 1857. E-mail: [email protected]. RESUMEN Durante mucho tiempo el tema del ius cogens fue sólo tópico de discusiones académicas, pero adquirió gran actualidad desde que la Comisión de Derecho Internacional de la ONU hizo referencia a él, en su proyecto de artículos acerca del derecho de los tratados (1966). Por tal motivo en este artículo intentaremos delimitar la noción de ius cogens, que no siempre es abordado por todos los estudiosos del derecho internacional de la misma manera. Palabras claves: Ius cogens, derecho internacional, derecho interno, coercibilidad. ABSTRACT For long time the topic of ius cogens in the international law was only for academic purposes; but since the International Law Commission of the United Nations make reference to them in the project of articles on international treaties (1966), the topic gained a lot of relevance. For that reason this article tries to build elements for the notion of ius cogens, which is not always, explained in the same way by the authors of international law. Keywords: ius cogens, international law, internal law, constraint. 110 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 1. LOS CARACTERES DE LAS NORMAS PERTENECIENTES AL IUS COGENS Para dar una idea más patente de lo que sería el ius cogens algunos autores lo vincularon con nociones similares a su contenido normativo tomadas del derecho interno, tales como las de orden público, como del derecho público o de derecho constitucional; sin embargo, estas analogías utilizadas, en lugar de aclarar la noción de ius cogens –al olvidar que existen diferencias considerables entre el orden jurídico internacional y el estatal– más bien presentan obstáculos para la clarificación de su concepto. Esto no significa que el ius cogens sea necesariamente una noción exclusiva del derecho internacional, ya que puede pertenecer en común al orden jurídico internacional y al estatal –entendiendo el derecho como un todo jurídico que integra reglas de conducta de observancia obligatoria de distinta naturaleza–, al mismo tiempo que presenta caracteres muy diferentes según se le considere en uno o el otro de estos ordenes. Definido en el artículo 50 del Proyecto de Artículos acerca del Derecho de los Tratados elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas se dispone: Es nulo todo tratado en conflicto con una norma imperativa de derecho internacional general de la que ninguna derogación es permitida y que no puede ser modificada más que por una nueva norma de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Cabe tomar en cuenta que esta definición tomó en consideración tres elementos: para tener la calidad de ius cogens; una norma debe ser al mismo tiempo: 1. Imperativa. 2. Pertenecer al derecho internacional general. 3. Anular los tratados concertados que violan sus disposiciones. Por otra parte, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se establece en la Parte V. Nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de tratados, sección 2. Nulidad de los tratados, artículo 53: Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. 111 Ius cogens Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. En tal sentido, la académica mexicana, Loretta Ortiz Ahlf (1999), deduce de este artículo elementos que identifica como característicos del ius cogens: 1. Debe tratarse de una norma de derecho internacional general que obligue a todos los estados. 2. Ha de ser una norma imperativa, que no admite acuerdo en contrario. 3. Debe ser reconocido por la comunidad internacional en su conjunto. 4. Será modificable por otra norma que tenga el mismo carácter. En otro parámetro, el ius cogens también ha sido definido por Erik Suy (1967) como: El cuerpo de reglas generales de derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal al que pertenecen a tal punto que el sujeto de derecho no puede, bajo la pena de nulidad absoluta, apartarse de ellas por medio de convenios particulares. A partir de estos primeros elementos introductorios podemos explorar sus elementos principales: a) ser una norma imperativa; b) tener carácter de una norma de derecho internacional general. 3. Anular los tratados concertados que violan sus disposiciones. 1.1. Norma imperativa Con base en los elementos anteriores podemos partir de la idea de que una norma imperativa no es sinónimo de norma obligatoria. Todas las normas de derecho internacional son en principio obligatorias; sin embargo, si bien el hecho de que se cree una obligación para a cargo de un Estado significa que otro estado tendrá derecho de exigir su aplicación. En este sentido, también es cierto, que por regla general, un sujeto de derecho puede renunciar al derecho de exigir su aplicación y aceptar que la obligación que respecto a él existe no se aplique. 112 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Por tanto, es posible que dos Estados soberanos decidan que en lo que se refiere a sus relaciones mutuas, no se apliquen ciertas normas del derecho internacional que les imponen obligaciones mutuas, o decidan aplicar normas distintas a las previstas por el derecho internacional general. En contraposición, el ius cogens se caracteriza porque un Estado no puede liberarse de las obligaciones que le impone una norma de ius cogens con respecto a otro Estado ni siquiera mediante un tratado; es decir, con el consentimiento de ese otro Estado (no puede renunciar por sí mismo a sus derechos). De lo visto, podemos colegir que el ius cogens -como su nombre lo indicapresenta un carácter prohibitivo, pero en un sentido muy particular, ya que el alcance de esta prohibición es inhabilitar cualquiera de sus disposiciones. El ius cogens introduce una limitante a la autonomía de la voluntad de los estados, a su libertad contractual, considerada tradicionalmente absoluta al representar una faceta muy importante de la soberanía de los Estados, de tal manera que el ius cogens puede ser considerado en prejuicio de la soberanía de los Estados. Sin embargo, se contra argumenta: la garantía suprema de la independencia política y económica de los pueblos no es la soberanía absoluta, sino el derecho internacional que garantiza su respeto, aunque ello sin duda no dejar de ser relativo, pues el imperio del derecho internacional también se relaciona con las condiciones fácticas de voluntad de cumplimiento en los estado soberanos. Un punto que merece recalcarse es que si las normas de ius cogens son normas fundamentales y de una gran importancia para la sociedad internacional, no por ello todas las normas fundamentales –es decir de inserción en el entramado constitucional de las naciones– del derecho internacional forman parte del ius cogens. Cabe tomar en cuenta que la prohibición de toda derogación de las normas de derecho internacional que conforman el ius cogens puede justificarse, de manera general, por dos hipótesis: a) Existencia de reglas destinadas a proteger intereses que superan a los intereses individuales de los estados, en el marco de las garantías fundamentales. Por ejemplo: normas relativas al respeto de los derechos del hombre a partir del supremo respeto a la dignidad humana, sobre todo en el caso de que se perjudique a todo un grupo de personas. b) Prohibición que garantice la protección del Estado en contra de sus propias debilidades o en contra de la excesiva fuerza de sus eventuales socios internacionales. Ello representa una protección en contra de las desigualdades 113 Ius cogens en el poder de negociación, tales como el establecimiento de cláusulas de garantía a sectores estatales en posición de desventaja. 1.2. Norma de derecho internacional general El hecho de que el ius cogens conste exclusivamente de normas del derecho internacional general recalca su carácter de universalidad. Sí expresa valores de carácter ético, desde luego estos no pueden ser impuestos por medio de la fuerza imperativa que le pertenece más que si son absolutos y por consiguiente no conocen límites geográficos en su aplicación. Con base en lo anterior es posible formular esta pregunta: ¿Puede concebirse el ius cogens regional? Una concepción así no es imposible, por el momento no ésta reconocido, pero señalemos que si algunas reglas validas en el grupo particular de un estado son consideradas especialmente importantes, y deben por tanto prevalecer sobre otras, no resultará necesario que adquieran el carácter de ius cogens. Aún así, si se puede elaborar el ius cogens regional, estará subordinado al ius cogens mundial, tal como lo define la Comisión de Derecho Internacional, ya que éste prohíbe expresamente que un grupo de estados soberanos pueda derogar sus existencias, hasta en las relaciones mutuas de sus miembros. Es importante señalar que una noción en donde sí existe acuerdo amplio es en la idea de derecho internacional general, como el conjunto de las normas aplicables a todos los estados miembros de la sociedad internacional, por oposición a las normas internacionales aplicables sólo a algunos de ellos y que constituye el derecho internacional particular, ya sea en forma regional, local o bilateral. Debemos hacer énfasis en este punto: la definición del artículo 50 del Proyecto de Artículos acerca del Derecho de los Tratados da cuenta que toda norma de ius cogens puede ser modificada por una norma de la misma naturaleza, de donde descubrimos que se pueden encontrar normas imperativas, además de las que expresamente pertenecen al ius cogens. De esta forma se observa que las normas de ius cogens son normas de derecho positivo, y por lo tanto, se integran al orden jurídico por el juego del sistema de fuentes del que este orden consta. Sin embargo, todos los modos de formación del derecho internacional no pueden dar origen a normas de ius cogens. Sólo pueden hacerlo los que son el principio del derecho internacional general y sobre este punto el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional guardó silencio. 114 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 1.3. Anular los tratados concertados que violan sus disposiciones Este es el carácter esencial de la institución del ius cogens y deriva de la preminencia jerárquica que se establece sobre las fuentes del derecho internacional a favor de éste, una vez generados los consensos necesarios que generen un vínculo jurídico obligatorio en este sentido. Sin duda, en esta materia, la nulidad de una norma jurídica constituye la sanción más grave del derecho internacional, mismo que emana de manera muy directa de la importancia fundamental que adquieren las normas de ius cogens para la sociedad internacional. Por ello la violación del ius cogens no sólo provoca la nulidad de los tratados contrarios -salvo en el caso de que se aluda a un tratado que establezca una nueva norma de ius cogens, donde no habría derogación sino modificación de sus contenidos- sino que también involucra la nulidad de una regla consuetudinaria regional o local, interna o internacional, que conlleva a una derogación de sus disposiciones. 2. CLASIFICACIÓN DE UNA NORMA DEL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL EN EL IUS COGENS Si se parte de la idea, desde el punto de vista jurídico, de que el carácter específico del ius cogens obedece al hecho de que todo acto particular que provoca una derogación de sus disposiciones se anula, es este carácter el que debe ser establecido cada vez que se presuponga que una norma determinada del derecho internacional general forma parte de él. Cabe señalar que esta demostración es difícil de hacer en lo que se refiere a los principios generales del derecho, en el sentido del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de donde constituyen principios comunes a todos los órdenes jurídicos, por tanto no se imponen por las necesidades propias de la comunidad internacional, basados en principios de igualdad de derechos, la obligatoriedad de los pactos, igualdad soberana, solución de controversias por medios pacíficos –excluyendo en toda forma el uso de la fuerza–, la protección de los derechos humanos y la buena fe en los acuerdos. Tómese nota de que la aparición de normas con carácter de ius cogens es relativamente reciente en el debate, aunque el derecho internacional se encuentra en un proceso de rápida evolución. 115 Ius cogens Esto se nota con más claridad en el comentario al artículo 50 del Proyecto de Artículos acerca del Derecho de los Tratados (artículo 53, modificado por la Conferencia de la Convención de Viena de 1969) cuando nos dice: La comisión estimó conveniente establecer en términos generales que un tratado es nulo si es incompatible con una norma de ius cogens y dejar que el contenido de esta norma se forme en la práctica de los Estados y la jurisprudencia de los tribunales internacionales. De este modo, en su análisis, nos atendremos a las normas de derecho convencional y a las de derecho consuetudinario: 2.1. En el derecho convencional internacional Adquirirá el carácter de ius cogens, si el tratado que la consagra dispone expresamente que toda derogación de sus disposiciones será sancionada con la anulación. Por ejemplo, el artículo 49 del Proyecto de la Comisión, que dispone que un tratado cuya concertación se obtuvo por medio de amenazas o del empleo de la fuerza es nulo. La consecuencia de esta disposición es dar el carácter de ius cogens a la norma que prohíbe la amenaza o el empleo de la fuerza con vistas a imponer a un Estado la aceptación de un tratado. 2.2. En el derecho consuetudinario Hay que partir del consensus sobre el que se fundamenta la costumbre: existe la convicción de que la norma tiene tal importancia que no puede descartarse mediante un particular y que, por consiguiente, conlleva la anulación de todo convenio concertado convenido por los estados. Por ejemplo el no reconocimiento a situaciones de facto establecidas como violatorias al derecho internacional y a la inhabilitación del recurso de guerra. En el informe de 1966 de la Comisión de Derecho Internacional presentó algunos ejemplos de ius cogens: a. Un tratado internacional relativo a un caso de uso ilegítimo de la fuerza, con violación de los principios de la Carta de la ONU. b. Un tratado internacional relativo a la ejecución de cualquier otro acto delictivo en derecho internacional. c. Un tratado internacional destinado a realizar o tolerar actos tales como la trata de esclavos, la piratería o el genocidio, en cuya represión todo estado está obligado a cooperar. 116 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 d. Los tratados internacionales que violen los derechos humanos, la igualdad de los Estados o el principio de la libre determinación. En la doctrina también se mencionan como ejemplos de normas de ius cogens: las que prohíben la guerra de agresión, el genocidio, la piratería, el comercio de esclavos, el uso de la fuerza, las que protegen los derechos humanos, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos. Además la jurisprudencia internacional ha echado mano de las normas de ius cogens para dar resolución a los conflictos planteados, como norma imperativa para los Estados (Casos de la plataforma continental del Mar del Norte fallo de 20 de febrero de 1969, caso relativo a la Barcelona Traction, Light and Power Company Limited fallo de 24 de julio de 1964 y fallo de 5 de febrero de 1970, entre otros) Finalmente, a manera de comentario final, es conveniente tener en cuenta que la demostración de que una norma cualquiera del derecho internacional general posee el carácter de ius cogens requiere para cada caso una amplia investigación, en el que los caracteres centrales radicaran en la función de obligatoriedad entre los estados, sin admitir acuerdos en contrario. REFERENCIAS CASANOVAS Y LA ROSA, Oriol. Prácticas de Derecho Internacional Público. 2. ed. Madrid: Tecnos, 1978. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – ONU. Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia. New York: ONU, 1992. ORTIZ AHLF, Loretta. Derecho Internacional Público. México: Oxford University Press, 1999. SEPÚLVEDA, César. Derecho Internacional. 20. ed. México, DF: Porrúa, 1998. SORENSEN, Max (compilador). Manual de Derecho Internacional Público. 6ª reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. TRIGUEROS SARABIA, Eduardo. Trayectoria del Derecho mundial. México, DF: Porrúa, 1953. VILLARI, Michel. El devenir del Derecho Internacional. Ensayos escritos al correr de los años. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 117 9 Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia Overpassing minimum moral principles in human rights: exclusion and justice DORA ELVIRA GARCÍA Profesora - investigadora de tiempo completo de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de México. Actualmente es Líder de Investigación de Proyectos de Humanidades de la institución señalada. Coordinadora de la Cátedra UNESCO-Tecnológico de Monterrey sobre Ética y Derechos humanos. Autora de Variaciones en torno al liberalismo, Ed. Galileo /Universidad de Sinaloa, 2001, México; El liberalismo hoy. Una reconstrucción crítica del pensamiento de John Rawls, Ed. Plaza y Valdés,2003, México; Del poder político al amor al mundo. Hannah Arendt; Ed. Porrúa, 2005, México; Perspectivas y aproximaciones en torno a la política, la ética y la cultura desde la hermenéutica analógica, Ed. Dúcere, 2004, México. Coordinadora y editora de varios libros, entre ellos El sentido de la política; Derechos humanos y hermenéutica analógica; Etica, persona y sociedad, ética, profesión y ciudadanía, Estudios de género y hermenéutica analógica. [email protected]. RESUMEN El presente texto lleva a cabo una reflexión en torno a situaciones que cotidianamente vivimos en nuestro mundo contemporáneo y que son generadoras de severas injusticias. Es preciso continuar con la defensa de los derechos humanos dado que su contravención rompe con los límites morales. Situaciones de clara injusticia por la exclusión que muchos seres humanos sufren, proceden de diversas causas, entre ellas, la absolutización de lo económico y su despreocupación generalizada en torno a la responsabilidad moral. Palabras claves: derechos humanos, mínimos morales, injusticia, responsabilidad. 118 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 ABSTRACT This text makes a reflection on some realities lived in our contemporary world which produces severe injustices. We have to continue the defense of human rights because the failure to do so destroys moral boundaries. Injustice is evident because human beings suffer exclusion, and this injustice is caused by the absolutization of economics and the forgetting of moral responsibility. Keywords: human rights, moral minimums, injustice, responsability. “La ética, enteramente autónoma, sigue proporcionando el referente normativo para juzgar el mundo y para abrigar una modesta esperanza respecto a su transformación, una esperanza ligada al imperativo del disenso, esto es, al imperativo moral de decir que no a cuanto se nos antoja intolerable por injusto e indigno” Javier Muguerza 1 “Para quienquiera que fuera una vez excluido y destinado a la basura no existen sendas evidentes para recuperar la condición de miembro de pleno derecho. Tampoco existen caminos alternativos, oficialmente aprobados y proyectados, que cupiera seguir (o que hubiera de seguir a la fuerza) hacia un título de pertenencia alternativo. […]¿Se tiran las cosas por causa de su fealdad o son feas porque se las ha destinado al basurero? Zigmunt Bauman2 1. A MODO DE INTRODUCCIÓN: EL SUSTRATO HUMANO SIGUE SIENDO LO MORAL ¿Por qué seguir pensando en la necesidad de la ética en nuestros días?¿Por qué continuar con las consideraciones en torno a los derechos humanos? Preguntas como éstas son recurrentes y han de vislumbrarse de manera obligada porque existen personas que están en situaciones absolutamente inaceptables e injustas en diversos aspectos humanos. 1 MUGUERZA, J, citado en GUERRA, M.J. y ARAMAYO, R. Los laberintos de la responsabilidad. España: CSIC/Plaza y Valdés Editores, 2007, p. 12. 2 BAUMAN, Z. Vidas desperdiciadas. Barcelona: Paidós, 2005, pp. 30 y 13. Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 119 Es preciso repensar qué es lo que hemos venido haciendo para con ello evitar repetir y reproducir, en la medida de lo posible, los graves problemas que generan tales situaciones que responden a modelos que necesariamente tenemos que repensar. Sólo así podremos cambiarlos y combatirlos para humanizarlos. Dentro de tales modelos, uno de los grandes equívocos que ha persistido en el pensamiento contemporáneo y que se ha reforzado por la intención constante de pensar en el “crecimiento” de la producción de recursos únicamente desde el marco de la economía. Ésta ha sido una pretensión persistente de reducir todos los problemas humanos únicamente al ámbito económico. Como sabemos además, tales formas reduccionistas son las que han generado la debacle que se está sucediendo en el mundo, porque se deja de lado un terreno fundamental en la vida humana: el ámbito moral. Las realidades como las que apuntamos han propiciado situaciones de violencia que apreciamos en cada instante en nuestro país. Ellas van más allá de los límites de lo moral, de modo que esta transgresión se evidencia como forma de destrucción de lo humano y por ende resulta ser profundamente injusta para quienes la sufren. Es precisamente este desbordamiento moral el que ha generado el desmoronamiento de los ámbitos humanos, desde los mismísimos derechos humanos hasta los elementos de carácter económico y político que constituyen el andamiaje humano. Se han recrudecido las formas de relación humana de cuño violento que avasallan recurrentemente los derechos humanos. Una de esas formas de violencia es la exclusión, –hermanada generalmente a situaciones de pobreza– que con sus diversas cartas de presentación y expresión ocasiona –en los segmentos relegados y repudiados de la humanidad– la cancelación de esos derechos, con la consecuente deriva de las diversas formas de abyección humana provocada por instancias de dominio, de abuso y arbitrariedad de unos seres humanos sobre otros. Esto marca la significación de los que están fuera, es decir, de los excluidos como residuos de la humanidad, como desechos que no hay por qué incluir. Las consideraciones que se hagan en torno a ellos están generalmente impregnadas de desprecio, sin pensar que son consecuencias de una sociedad injusta que no les ha procurado ni permitido tener lo necesario para ser apreciados y por ende incluidos dentro de esa sociedad. Quisiera destacar a lo largo de este escrito, que desde la existencia de una conciencia moral es posible atestiguar cómo la ruptura de los límites morales expresados en estos fenómenos de exclusión, significa la destrucción de lo humano. Desde ahí es que la tarea que ha de llevar a cabo una ética crítica es abordar los problemas de carácter ético que se articulan con su dimensión social, que es la 120 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 justicia3. Tal faena crítica “empieza cuando el sujeto se distancia de las formas de moralidad existentes, de sus usos “normales”, y se pregunta por la validez de sus reglas y comportamientos”4 poniéndolos en tela de juicio, sobre todo cuando tal moralidad permite situaciones inaceptables tales como la exclusión inhumana, que hace de los derechos humanos recursos fútiles. De ahí que tenga que pensarse en la defensa de lo humano como algo debido por su raigambre moral, sobre todo ante situaciones amenazantes y desde ahí se apele a la urgente responsabilidad moral. Esta última se tiene que enfrentar a las identidades rotas de aquellos que son dejados fuera de los beneficios de los que sí se ubican dentro. El fenómeno de la pobreza tan complicado hoy día –porque no sólo tiene que ver con recursos materiales– es un ejemplo que constituye causa y efecto del fenómeno de la exclusión. Las situaciones de injusticia y de falta de consideración a los derechos humanos se derivan de causales que generalmente –aunque no únicamente– son del dominio económico, y a la par, tienen efectos tan destructivos que dejan a quienes resultan excluidos, como simples residuos humanos. El tema es evidentemente moral, y aunque el punto de partida ha de tener ese mismo tinte –por lo que tiene que ver con los derechos humanos– sin embargo, sus implicaciones son de carácter social, político, económico y legal. Éstas últimas han de ser consideradas para la reconstrucción de los elementos propios de lo humano, elementos que han sido recurrentemente desdeñados y pisoteados por quienes muestran una faz de dominio generadora de enorme injusticia. 2. LA DEFENSA DE LO HUMANO FRENTE A LOS PARADIGMAS DEL CONTINUO CRECIMIENTO ECONOMICISTA. Y, ¿LA RESPONSABILIDAD? Hoy día, por desgracia nos encontramos sometidos a múltiples intereses que destruyen lo humano que nos es propio, al violentarlo y reducirlo a mero instrumento sujeto a diversos tipos de dominio. Como apuntábamos antes, uno de ellos es innegablemente de carácter prevalentemente económico, ámbito el que ha venido extendiéndose de manera incesante en todos los espacios humanos, inundando y tiñendo con su fuerza las demás áreas humanas. Este reduccionismo de carácter económico ha hecho que todos los terrenos de lo humano contengan una tonalidad económica, con lo que se evidencia una reificación de lo humano con los demoledores resultados que ya conocemos en el horizonte actual, por la ruina de las personas. 3 4 VILLORO, L. Sobre el principio de la injusticia: la exclusión, en Isegoría, 22, 2000, p. 103. Ibid, p. 111. Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 121 Cabe entonces una obligada reflexión en torno a la relevancia de la responsabilidad de las acciones. Es preciso advertir “los vericuetos, a veces pobremente iluminados, de los laberintos de la responsabilidad: el incremento de la desigualdad fruto de la globalización económica,”5 entre otros graves fenómenos que conllevan formas de violencia y de exclusión en los diferentes campos humanos. Todas estas situaciones han sido favorecidas por el mismo ser humano y las diversas fuerzas que lo amenazan son generadas por quienes pretenden los beneficios individuales sin apreciar el colectivo y propiciadas por quienes buscan el dominio de todos los espacios posibles, sin estimar las consecuencias. Así, en general el ser humano contemporáneo ha buscado –sin contención alguna– una infinita omnipotencia, así como un crecimiento incesante y perpetuo de un “cada vez más”.6 Con ello, la ruptura de los límites –en todos sentidos– ha provocado la creación de nuevos mercados, dado que los existentes no satisfacen la voracidad de muchos seres humanos. Las consecuencias han sido de gran alcance y han tenido efectos en toda la sociedad, pero por obvias razones han recaído sobre los más débiles, que quedan fuera de cualquier oportunidad de participación, y los que difícilmente son parte de los pocos beneficios. La crisis que vivimos hoy día tiene relación con esa desmesura7, así como con el debilitamiento de de aquello que humanamente es valioso. Y en esta misma coloratura podemos preguntar –hoy– con Arendt ¿cómo se va a resolver el enorme problema de “una sociedad de trabajadores sin trabajo”8 construida en una sociedad que ha sido pensada para el crecimiento, pero que no tiene crecimiento? El problema es que, aun estando en plena recesión, no se han cambiado los paradigmas de crecimiento, lo cual hace que la situación sea en realidad muy dramática. ¿Podríamos pensar que lo importante es crecer en humanidad –teniendo en cuenta todas las dimensiones que conforman la vida humana– y no sólo en una 5 GUERRA, M.J. y ARAMAYO, R. Los laberintos de la responsabilidad. España: CSIC/Plaza y Valdés Editores, 2007, p. 10. 6 RIDOUX, N. Menos es más. Introducción a la Filosofía del Decrecimiento, Barcelona; Los Libros del Lince, Barcelona, 1999, p. 10. 7 Ibid, p. 11. 8 Cfr., ARENDT, H. La Condición Humana. Barcelona: Paidós, 1998, pp. 138-142 y 181-185; algo similar piensa Bauman cuando afirma que hoy día “uno de cada tres empleados ha ocupado el mismo puesto en la misma empresa en menos de un año. Dos de cada tres han estado en el mismo puesto menos de cinco años. En Gran Bretaña, hace veinte años, el 80% de los empleos eran del tipo 40/40 (semana laboral de 40 años durante 40 años de vida) y estaban protegidos por una compacta red de contención sindical, jubilatoria y de derechos compensatorios. Hoy solo el 30% de los empleados entra en esa categoría y el porcentaje sigue disminuyendo y velozmente”, p. 27, en BAUMAN, Z. En busca de la política, Buenos Aires: FCE, 2003, p. 27. 122 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 de ellas, como lo ha pretendido la filosofía del decrecimiento?9, en donde tal decrecimiento significa “desacostumbrarnos a nuestra adicción al crecimiento, <<descolonizar nuestro imaginario>> de esta ideología productivista desconectada del programa humano y social”10. El proyecto del decrecimiento pasa por un cambio de paradigma y de criterios para generar una transformación de las instituciones, y desde ella una incorporación de los más desfavorecidos a los proyectos comunes y con ello una posibilidad de que no queden soslayados. Es necesario hacer decrecer la desigualdad de algún otro modo, ya que, desde el modelo que ya conocemos –del crecimiento económico– se ha demostrado que a pesar de sus intenciones, no ha reducido las desigualdades existentes. Con estas desigualdades llevadas a su máxima expresión, se han violentado los límites de aceptación del daño humano, y de esa manera se ha forzado la aceptación de lo inaceptable e inadmisible por injusto. Desde aquí no se puede negar la existencia de un desbordamiento de los mínimos morales en lo relacionado con los derechos humanos. Tal “sobrepasamiento” ha sido recurrentemente vivido por quienes están y han estado en situaciones de permanente exclusión y heredada pobreza que resulta a todas luces injusta e inaceptable. De ahí que sea preciso la búsqueda de superación de tal realidad para dar cuenta de la responsabilidad que tenemos ante los perjuicios que la humanidad ha generado tanto en las personas directamente como en su hábitat.. De nuevo podemos decir que la filosofía del decrecimiento (que significa decrecer en lo que no nos es propio y crecer en lo humano) nos invita a pensar que estamos en un mundo de recursos limitados, por lo que no es posible un crecimiento indefinido. Además, frente a las crisis –como la que vivimos actualmente– es preciso reconocer la necesidad de compartir, de agrandar la responsabilidad hacia los otros11, así como la obligación de actuar con sobriedad y evitar el sobreconsumo. 9 La filosofía del decrecimiento es un movimiento que nació a finales de los años 70’s del Siglo XX. Su portavoz ha sido Serge Latouche quien conjuntamente con otros pensadores críticos del desarrollo y la sociedad del consumo como Ivan Illich, André Gorz, Cornelius Castoriadis o Francois Partant se ha opuesto a las adicciones del consumo. Hoy día este movimiento ha logrado repuntar como proyecto social, político y económico frente a las sociedades del “perpetuo crecimiento” y defienden que no es necesario crecer para vivir bien. Ellos señalan que este sistema del crecimiento camina hacia el colapso, como puede evidenciarse en el cambio climático, la extinción de las especies, la propagación de las enfermedades relacionadas con la contaminación, etc. Latouche señala que los pilares del decrecimiento son revaluar, reconceptualizar, reestructurar, relocalizar, redistribuir, reducir, reutilizar y reciclar. Ridoux –a quien citamos recurrentemente en este escrito– es asimismo quien ha elaborado un libro en donde se presentan estas apuestas de la filosofía del decrecimiento. 10 RIDOUX, N. Menos es más. Introducción a la Filosofía del Decrecimiento, Barcelona: Los Libros del Lince, 1999, p. 11. 11 Análogamente con el modo agrandado de pensar de corte kantiano y retomado por Arendt. Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 123 Siguiendo la misma lógica del exceso podemos apreciar cómo los valores dominantes vigentes se plasman en un cada vez más, y se traducen en “cada vez más rápido”, “cada vez más cosas”, “cada vez más poder”, “cada vez más rentable”. Estas formas de vivir nos han conducido a las encrucijadas en las que estamos en todos niveles y en casi todos los sentidos, y han hecho que, en el ánimo de la constante e incesante ambición material se malogre la humanidad. Ese quebranto se ubica: desde el mismo descompuesto habitat hasta la recurrente generación de violencia que no respeta la dignidad; ahí en donde todo está en venta y en una lógica de apropiación infinita, por la que se favorece una mayor producción que por desgracia –como podemos verlo actualmente– no logra subsanar las necesidades de trabajo limitado para quienes lo demandan en vistas de poder tener recursos para apropiarse de cosas, de consumir sin pensar12. Por ello, hemos de exigir que los valores humanistas se consideren de manera seria y se refuercen en aras de la defensa y atrincheramiento del espacio moral para evitar su desvanecimiento. Si todavía hubiera quienes desearan la defensa del concepto ilustrado de progreso, habríamos de hacerle entender que tal progreso no puede ser de otro modo sino en lo humano, en el engrandecimiento de los recursos morales que son los que defenderán a la humanidad de su extinción. Desde los años 30´s (1931) Keynes en sus Perspectivas económicas para nuestros nietos apuntaba que sus nietos –es decir nuestra generación–, deberíamos de liberarnos de la coacción económica de modo tal que trabajáramos únicamente 15 horas a la semana. Esta reducida jornada semanal de trabajo –articulada con una mayor solidaridad– nos posibilitaría compartir el nivel de producción logrado en la jornada de trabajo, lo cual nos salvaría de las situaciones tan cotidianas de <<depresiones nerviosas>> que invaden a casi todo el mundo. Esta propuesta significa “trabajar menos para vivir mejor”, que se antoja sumamente deseable. Resulta muy grave que se trabaje para obtener satisfactores superficiales, y en ese proceso de su alcance vamos demoliendo nuestra vida, nuestra salud y la posibilidad de vivir mejor con menos cosas. Y esa es la gran cuestión, porque con una forma de vivir así nos reducimos a ser meros consumidores, pero no sólo, además nos esclavizamos por la angustia por pagar, cuestión que se resuelve si trabajamos más. Construimos con ello un círculo vicioso y destructivo de lo humano, nos consumimos para “tener” y ese “tener” se solventa únicamente con exceso de trabajo; no se deja tiempo para nada más porque es fundamental trabajar para soportar los gastos. Con una reducción de las jornadas de trabajo se buscaría una vida con un equilibrio mayor y en aras de la realización personal, no únicamente en la vida 12 CORTINA, A. Por una ética del consumo, Madrid: Taurus, 2003, pp. 30-40. 124 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 profesional sino también en la vida familiar, en las cuestiones del barrio, en la búsqueda una vida asociativa, así como la participación en actividades políticas, en la práctica o incursión en las cuestiones de arte, o cualquier actividad que cada quien quisiera desarrollar. Esta propuesta nos presenta la posibilidad de un tipo de vida más frugal, una vida moderada y sobria que considere sobre todas las cosas los valores humanistas. La reducción en la producción se compensaría viviendo mejor. Los empleos serían más en número y serían más gratificantes13; podría equilibrarse el trabajo intelectual y el manual, con lo que se combatiría por ejemplo, la obesidad, una de las epidemias de nuestro siglo. Con esta apuesta se estaría proponiendo una relocalización de la economía y esto significaría un mayor desarrollo humano para todos, además de la superación de las barreras que generan situaciones de desventaja, de exclusión y de pobreza. Por eso, el decrecimiento no es regresión, ni la frugalidad es desigualdad, como tampoco hay una renuncia al progreso. Se pretende más bien su resignificación como progreso humano, progreso moral y espiritual. Decrecimiento significa la recuperación del espíritu crítico que se requiere para ir por el camino de un verdadero desarrollo humano14, y también quiere decir el retorno a una moderación que favorezca el desarrollo humano en su sentido más profundo e integral: en sus dimensiones cultural, filosófica, política, relacional y contemplativa. Es un “desarrollo que por su sencillez y profundidad pueda ser compartido por todas las personas”15. Es una nueva forma de vida que es preciso construir individual y colectivamente y en la que se el compartir se convierte en una de las características fundamentales. Mientras el crecimiento económico siga siendo considerado como referente absoluto, y se busque que sea infinito, no podrá ser alcanzado, sino que seguirá generando exclusión, además de que continuará amenazando el medio en el que vivimos. Tendremos que centrarnos en lo que somos, y en ese sentido podremos “ser sensibles a la profundidad de los instantes más sencillos […] (así como) “menos bienes pero más vínculos”16. 13 RIDOUX, N. Menos es más. Introducción a la Filosofía del Decrecimiento, Barcelona; Los Libros del Lince, Barcelona, 1999, p. 16. 14 Ibid, p. 18. 15 Ibid, p. 18. 16 Ibid, p. 21. Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 125 Una forma de vida pensada desde lo humano nos permitirá un futuro más humanizado, más justo y con opciones más viables para el oscuro panorama que se nos presenta en torno a los fenómenos diversos que constituyen la exclusión y violentan a su vez a los derechos humanos. Frente a estos problemas tenemos una enorme responsabilidad. La responsabilidad tiene que emerger de las acciones sociales y políticas bien planteadas y en disposición a mantenernos fieles al aquello que constituye el fin que persigue tal acción social y respecto de la cual nuestras acciones son valoradas. Con Arendt diríamos que debemos responder por el mundo, que involucra una trama intersubjetiva, y desde ahí que hable de responsabilidad colectiva que implica responder ante otros. Además este responder ante otros tiene que ver con el pensamiento representativo y de la imaginación que nos posibilita “ponernos en el lugar del otro” para evitar el mal y con ello evidenciar la responsabilidad. Pero además de esta responsabilidad intersubjetiva podemos señalar la que tiene una caracterización objetiva y fue propuesta por Hans Jonas en su apuesta por la obligada preservación del planeta y del aseguramiento de las condiciones de la vida humana libre y digna en el futuro. Estar instalados de manera confortable en una cultura de la autocomplacencia y de la autoindulgencia hace que los deberes que emanan de la responsabilidad queden oscurecidos e invisibilizados17. Toda esta ceguera ante lo otro tiene como consecuencia la exclusión de las personas, por los efectos que se generan desde la violencia al mundo y a la naturaleza que impacta finalmente en aquellos que están situados en los peores lugares del campo social. Tenemos que dar cuenta sobre nuestras acciones en la práctica vital a través del razonamiento práctico aristotélico, o de la sagesse pratique ricoeuriana que significan la responsabilidad de la moral vivida enfrentada a los “otros” abandonados en situaciones de violencia, miseria e injusticia que se expresan cuando quedan excluidos y etéreos. 17 GUERRA, M.J. “Responsabilidad <<ampliada >> y juicio moral”, en GUERRA, M.J. y ARAMAYO, R. Los laberintos de la responsabilidad. España: CSIC/Plaza y Valdés Editores, 2007, p. 105. 126 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 3. IDENTIDADES ROTAS: LA INVISIBILIDAD DE LOS EXCLUIDOS “La política occidental se constituye sobre todo por medio de la exclusión” G. Agamben18 La identidad logra construirse en los espacios compartidos, ahí es también en donde se cimenta el reconocimiento mutuo, pero es asimismo el lugar en el que se lleva cabo su contraparte: la exclusión. La exclusión significa el rechazo a una persona o cosa que queda fuera del lugar que ocupaba19, así como la situación de desventaja en los diversos ámbitos económico, político, social y profesional. Es asimismo la no inclusión de un sujeto, su sustracción, descarte y marginación del grupo al que pertenece. Las diversas formas de exclusión expresan la ceguera de aquellos no reconocidos a quienes les queda únicamente una tarea de sobrevivencia y que quienes no pueden realizar sus acciones en lo público no podrán tampoco ejercer la libertad propia de este ámbito y no podrán alcanzar los fines colectivos ni los medios para su logro. Con ello la buscada participación colectiva se cancela y se revoca también el alcance de lo común. La condición que permitiría tal búsqueda está en el juicio prudencial al dejar de absolutizar las condiciones privadas subjetivas y las idiosincrasias determinantes de las perspectivas individuales para incluir a los que están más allá, es decir, a “los otros”. El recurso del modo amplio de pensar20 nos hace trascender las propias limitaciones individuales con lo que se exige la presencia de los demás. Al rescatar esta habilidad kantiana de ver las cosas no sólo desde nuestro propio punto de vista sino en la perspectiva de todos los que acontezca que estén presentes21 se posibilita compartir el mundo con todos ellos. Este compromiso de carácter moral intenta anular las posibilidades de la exclusión. Los efectos de la exclusión evidencian la ruina de los campos de lo político, lo social y lo económico al no poder defender la ruptura de las identidades, la pérdida de la dignidad y el menoscabo de la honorabilidad humana. Este maltrecho escenario es el detonador recurrente para las diversas formas de exclusión y se acompaña –generalmente– por la desconfianza en la administración de la justicia y 18 AGAMBEN, G. Homo Sacer, El poder soberano y la nuda vida, Valencia: Pre-textos, 2003, p. 16. Según la definición de la Según la definición del Diccionario de la Real Academia, www.rae.es. 20 Recurso kantiano propuesto por ARENDT en ARENDT, H. Lectures on Kant’s political philosophy, United States of América: University of Chicago Press, 1995, p. 75. 21 ARENDT, H. Between Past and Future, Eight Excercises in Political Thought, USA: Penguin Books, 1993, p. 221. 19 Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 127 la recurrente negligencia oficial. Si a estas realidades les añadimos la cultura del miedo y del silencio en que vivimos hoy día, así como la discordancia entre las legislaciones protectoras de los derechos humanos, tenemos como resultado un ambiente de oportunidad para quienes se aprovechan de estas circunstancias, (como ha pasado hoy día con aquellos que se dedican por ejemplo, a la trata de personas.) Estos grupos vulnerables se conforman como los excluidos, ellos cargan con la mácula de ser quienes no tienen derecho a nada. Son aquellos que “constituyen la otra cara de la sociedad que ella misma se niega a mirar”22 Quien está excluido se encuentra aislado en alguno de los sentidos vitales, esto significa que puede tener algunas desventajas en cuanto al reconocimiento ya sea de sus derechos legales o a su ejercicio efectivo, a también a la cuestión material que robustece las desventajas a tal grado que constituya como algo irreversible. Desde ahí es que como afirma Levinas, mirar el rostro del otro “cara a cara” quiere decir que lo comprendo desde su otredad, y no desde mi posición ya que esto último significa violentarlo. Asimismo, se puede suponer la exclusión social con un enfoque de carácter institucional y desde esa perspectiva la exclusión se aprecia cuando la misma sociedad condesciende en aceptar diferentes formas de discriminación, al negar el acceso a bienes y servicios, a los espacios de intercambio y a los recursos requeridos para llevar a cabo el papel de ciudadanos. Excluir a los conciudadanos significa ubicarlos en una situación de carencia de satisfacción de las necesidades humanas básicas, en tanto otros grupos tienen mucho más de lo necesario. De ahí que se indaguen los procesos estructurales que dan lugar a estas situaciones de exclusión, así como los elementos culturales ideologizados y los mecanismos que han generado la exclusión en relación a los recursos personales y comunes. Como lo ha señalado Amartya Sen23, es necesario desbrozar los factores y elementos que generan la pobreza, así como su conformación generada mediante los procesos sociales que posibilitan o niegan las oportunidades de trabajo y el acceso a políticas públicas. Por desgracia, la exclusión social se reproduce debido a que quienes están en las instancias socio-político-económicas no incorporan en su seno a los grupos y a las personas peor ubicadas en la escala social, dejándolos a la deriva, ya sea 22 SUTTON, S. “La exclusión social y el silencio discursivo” en Voces y contextos, México: Otoño, núm. II, año I, 2006, p. 7. 23 SEN, A. Desarrollo y libertad, Planeta, España, 2000. 128 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 soslayándolos de manera explícita, o simplemente negándose a plantear avances que se permeen en los diferentes ámbitos de lo social, lo cultural y lo político. El problema es que estas exclusiones de carácter social, cultural y político conllevan la exclusión ética que está subyaciendo bajo las primeras. La exclusión ética violenta la dignidad humana plural y anula la presencia de las personas. Por ello, la pluralidad como modelo de inclusión ha de propiciar los puntos en común en las sociedades para evitar la marginación, la exclusión, la discriminación o la masificación al destruir la esfera de lo común y con ella cualquier posibilidad de libertad y de reconocimiento. Frente a estas amenazas se impone una reflexión en torno a la obligada pluralidad en es espacio de lo humano, para evitar los enormes problemas que genera la exclusión, entendida como el concepto que expresa una realidad en la que algunas personas o grupos quedan en situación de desventaja. Es los espacios limítrofes en donde aparecen las llamadas identidades negativas que se relacionan por lo general con las profundas desigualdades sociales, y se van generando desde el margen y el límite. Esta situación marginal se vuelve sinónima a las categorías de pobre, campesino y de obrero que están entre estos grupos contiguos y excluidos. Los que están afuera, los expulsados, los “otros irreductibles” se parecen a aquellos hombres “superfluos” a los que se refería Hannah Arendt cuando hablaba de quienes estaban simplemente de más. Esas identidades emergen de los márgenes, identidades que se van construyendo en el entramado de la exclusión, la pobreza y la ignorancia y que están a expensas del dominio quienes están en el centro, es decir quienes están en sociedades tan egoístas e individualistas que resultan ser tan “monstruosas” como los mismos criminales. Esas identidades casi borradas por excluidas, han emergido en la solicitud de reconocimiento para superar el desprecio, que se convierte en su peor enemigo, dado que en muchas ocasiones se aprovechan de esas circunstancias para el dominio, el provecho y el lucro con la dignidad de quienes hacen el papel de víctimas. En los espacios en los que se violentan todos los derechos de las personas no hay lugar, ni es posible pensar en la consideración de las apuestas humanizantes que concebimos en nuestras reflexiones, en torno a los ciudadanos con sus especificidades como las pensaban los clásicos. Las cosas son muy diferentes, y en esos espacios de violencia hay cuestiones muy complicadas que se han hecho indiscernibles. Hoy día, cuando las líneas divisorias entre lo público y lo privado son tan tenues y tan sutiles, la distinción que hacemos los ciudadanos entre la ciudad y la casa resulta muy complicada, así como la distinción entre nuestro cuerpo biológico y nuestro cuerpo político, o entre lo que es incomunicable y mudo y lo que es comunicable y expresable. Se trastocan los espacios propios de la realización biológica con los Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 129 espacios públicos, y en éstos es en donde propiamente se llevan a cabo las acciones humanas que han de incluir el diálogo, el discurso y donde en todo caso, se tiene que actuar de manera concertada para garantizar el respeto y evitar la exclusión. Estas posibilidades han sido arrebatadas a quienes viven en sociedades en las que la ley no ha podido afincarse porque se ha puesto en entredicho la vida política de los ciudadanos en su integridad física por su expolio en el sentido más humano. El abandono y el despojo de lo humanamente debido, –tanto en lo que se refiere a la mera supervivencia y alude a lo económico, como a aquello que posibilita la palabra y el diálogo– deja a esas personas excluidas a su suerte, deambulando a la deriva, en los cobijos más ruines, menesterosos y decadentes que podamos pensar. Las agresiones han sido y son tales que los desbordamientos de las acciones con carácter de inhumanidad han extinguido el ámbito moral. Tales acciones han arrebatado aquello que procura “la última oportunidad de conservar la dignidad”24 y por ende el derecho a tener esos derechos humanos, como lo apuntó en su análogo momento Arendt. El contenido de esta frase es profundo, ya que hay una separación entre lo meramente humano y lo político que muestra la escisión de los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. Por ello, hablar del “derecho a tener derechos”25 da cuenta clara de la situación de los excluidos, porque siempre que haya quienes queden exceptuados de ciertas formas de ciudadanía se les está negando la posibilidad de tener derechos. Con esto se evidencia asimismo la exclusión del debate político. El término “excluidos” se relaciona necesariamente con el concepto de “víctimas” cuando hay violencia política, y cuando el enfoque que se lleva a cabo es moral26. Al destruir lo humano y reducirlo únicamente a lo biológico, se echa por tierra la conquista histórica de los derechos humanos. Desde estas preocupaciones es que surgieron y continúan presentes algunas reflexiones críticas que pretenden visualizar lo que sucede con la vida y con lo biológico en el espacio político. Fue “Michel Foucault [quien] comenzó a orientar sus investigaciones con una insistencia cada vez mayor en lo que definía como biopolítica, es decir, la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y los cálculos del poder”.27 Esto significa que la vida se convierte en aquello que constituye lo central del espacio 24 KRALL, H., en TODOROV, T. Frente al límite. México: Siglo XXI, 2004, p. 24. Tal como lo pensó Arendt cuando acuñó su famosa y muy significativa frase de “derecho a tener derechos”, en ARENDT, H. Los Orígenes del Totalitarismo, 2. Imperialismo. Madrid: Alianza Universidad, 1987, p. 430. 26 REYES MATE, M. “La justicia de las víctimas” en Revista Portuguesa de Filosofía, Tomo LVIII, 2002, pp. 299-318. 27 AGAMBEN, G. Homo Sacer, El poder soberano y la nuda vida, Valencia: Pre-textos, 2003, p. 151. 25 130 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 público y de la política, de modo que el engarce de zoe y bíos28 es unas de las formas definitorias en la política de muchas partes del mundo. El cuerpo –el de la nuda vida- que se emplaza en el espacio político y se convierte en lo biopolítico, se reduce a la zoe dejando de lado la bios, que representa lo verdaderamente humano29. Los espacios de exclusión se constituyen en aquellos en los que la vida moral no es viable, ya que “un ser humano empujado hacia el extremo por formas de vida inhumana […] pierde gradualmente todas las nociones del bien y del mal”30 y esto, significa estar “sin duda, moralmente muertos”.31 Las preguntas en torno a la humanidad restante son oportunas, sobre todo cuando se ha vivido lo más terrible y execrable, y en donde la libertad se reduce a casi nada. Si esto es así, ¿en dónde queda la humanidad si no hay elecciones de ningún tipo?, ¿queda lugar para la vida moral cuando sus límites se han desbordado de manera absurda? La situación de exclusión constituye un estado de sitio continuo en donde la sociedad está a la deriva en un espacio que parece agrandarse como la tierra de nadie y en donde, si bien todos estamos, quienes son más frágiles son aquellos que están más marginados, dado que ellos son el blanco más susceptible para ser usados, vendidos, expoliados y un sin fin de los etcéteras más execrables a los que son sometidos a lo largo de su vida. Como hemos podido apreciar hasta aquí, el trato que se da a la exclusión parte desde una concepción de la justicia que permita la inclusión de todos los sujetos32. Sin embargo, la realidad nos evidencia y se nos muestra implacable, por lo que parece que el camino habría de ser al revés, tal como lo propone Villoro cuando apunta que “cabe pues explorar una alternativa: dar razón de la idea de justicia por la voluntad de disrupción de una situación percibida como injusta.”33 Hemos de partir de nuestras propias experiencias en las que se evidencia la injusticia real así como la experiencia de la marginalidad para 28 La bios alude a la vida en sentido humano y es la que puede permitir pensar en una biografía, y aquí la auténtica vida humana es la que para Arendt significa aquella que se lleva a cabo en la palabra y en la acción. Por su parte, zoé alude a la vida en un sentido meramente biológico, y es lo que Agamben entiende como nuda vida. En Arendt la verdadera vida es aquella que se da en el espacio público, en lo político en donde se realiza el discurso, el habla y la acción. Esta acción fue tergiversada después de los griegos y los romanos, en la Edad Media cuando la mayor importancia se le dio a la contemplación, y en la Edad Moderna se canceló por el surgimiento de lo social, de la burocracia y sus mecanismos de la ley de nadie. 29 AGAMBEN, G. Homo Sacer, El poder soberano y la nuda vida, Valencia: Pre-textos, 2003, p. 151. 30 TODOROV, T. Frente al límite. México: Siglo XXI, 2004, p. 38. 31 Ibid, p. 38. 32 VILLORO, L. “Sobre el principio de la injusticia: la exclusión”, en Isegoría, 22, 2000, “Globalización y Derechos humanos”, p. 104. 33 Ibid, p. 103. Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 131 “proyectar lo que podría idealmente remediarla.”34 Con ello, y como lo propone Javier Muguerza estaríamos generando una “alternativa del disenso” que es la que ha de fundar los derechos humanos.35 Partamos entonces, desde las causas de la exclusión en la que vivimos. 4. CAUSALES DE LA EXCLUSIÓN “Las causas de la exclusión pueden ser distintas para quienes las padecen, los resultados vienen a ser los mismos”36. Z. Bauman La fragmentación es por desgracia unos de los más grandes males de la humanidad y de la que desafortunadamente no estamos exentos en nuestro días, porque quienes perpetran los diversos modos de exclusión lo hacen desde una quiebra moral. Y esta ruptura se lleva a cabo sobre los seres humanos que son despojados de la confianza en sí mismos, así como de la autoestima necesaria para mantener también su supervivencia social. Todos ellos han devenido superfluos, inútiles, innecesarios, indeseados, despreciables. Son los declassés que no poseen ningún estatus definido y por ellos son considerados sobrantes. Por desgracia y como sabemos, la meta central que ha prevalecido –como ha sido durante los siglos– se adscribe fundamentalmente al interés y a la ganancia de carácter económico. La absolutización de lo económico –que no considera los valores, la ética y la cultura– en todos los ámbitos de la vida ha generado enormes problemas y hunde sus raíces ahí donde hay un menoscabo del orden gubernamental y una clara inaplicabilidad de la ley. Los efectos y las consecuencias conocidos y que ya hemos apuntado, generan la esclavización, la cosificación y aniquilación de los seres humanos en tanto personas. Es una de las consecuencias de la movilidad contemporánea y de las migraciones de quienes se trasladan de un sitio a otro en donde se convierten en <<residuos humanos>>.37 Esta situación es, –a decir de Bauman– un efecto secundario de la misma construcción del orden, de modo que en este último hay quienes están dentro y quienes están <<fuera de lugar>>, que significa que son los indeseables y son los no aptos. Es también el efecto secundario del mismo “progreso económico” que no ha podido proceder sin humillar, sin degradar, sin devaluar las formas de “ganarse la vida”. 34 VILLORO, L. “Sobre el principio de la injusticia: la exclusión”, en Isegoría, 22, 2000, “Globalización y Derechos humanos”, p.104. 35 MUGUERZA, J. Ética, disenso y derechos humanos, Madrid: Argés, 1998. 36 BAUMAN, Z. Vidas desperdiciadas. Barcelona: Paidós, 2005, p. 58. 37 Ibid, p. 16. 132 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Como sabemos, a partir de la Modernidad, las regiones atrasadas y subdesarrolladas se han convertido en reducto para la exportación de “<<seres humanos superfluos>> y conspicuos vertederos dispuestos para los residuos humanos de la modernización.”38 La pregunta obligada se dirige hacia un elemento central –señalado renglones arriba de este apartado, a saber: la aplicación de la ley. ¿Dónde está la ley que coarte los comportamientos destructivos de lo humano y que confine los tratos humillantes y desvalorizadores de quienes hay que proteger? Apreciar este mundo exige -como apunta Bauman– dirigir otra mirada a esta realidad que compartimos. La condición de aquellos seres humanos excluidos tiene efectos absolutamente destructivos porque generalmente las implicaciones de su utilización lo convierten en lo que Agamben llamó el homo sacer39 –es decir, aquellos que son sacrificables en su nuda vida–40. Esta situación se lleva a cabo en un contexto político deteriorado y minado en lo más hondo. El paradigma del concepto de nuda vida está en los prisioneros de los campos de concentración que funge como un concepto modélico de la exclusión y el expolio en donde las vidas humanas simplemente no tienen valor alguno. Esos personajes, los más ruines y más sometidos y por ello nombrados por Primo Levi como el “musulmán” –término retomado por Giorgio Agamben– alude a aquellos seres humanos que perdieron toda dignidad e inutilizaron todo afán de resistencia y de honorabilidad humana. Al ser desvalijados de toda su humanidad se definen como aquellos que simplemente buscan no morirse de hambre, por lo que son “lo intestimoniable”41. Después de ver estas figuras casi subhumanas se puede afirmar con Arendt que en este mundo “todo es posible” y “todo está permitido”42. 38 BAUMAN, Z. Vidas desperdiciadas. Barcelona: Paidós, 2005, p.16. Homo sacer que es la principal categoría de los residuos humanos según Giorgio Agamben. 40 El concepto de nuda vida, se entiende como la vida natural o biológica es un concepto central en Agamben y se remite a Hannah Arendt en la distinción de Bios y zoe. ARENDT, H. La Condición Humana, Barcelona: Ed. Paidós, 1998, p.111. También cfr., FOUCAULT, M. Vigilar y Castigar, México: Siglo XXI, 1991, pp. 24ss. 41 Este término tiene orígenes inciertos y parece que tiene que ver con el fatalismo que se atribuye al islamismo y a la posición de postración que tienen los árabes cuando están orando, posición en la que se veía a los prisioneros. Lo intestimoniable por sufrir las situaciones más abyectas e indecibles. 42 Como lo señaló Arendt cuando afirmaba “allí donde estas nuevas formas de dominación asumen su estructura auténticamente totalitaria superan este principio, que sigue ligado a los motivos utilitarios y al interés propio de los dominadores y penetran en un terreno que hasta ahora nos resultaba completamente desconocido: el terreno donde <<todo es posible>>. […] Lo que se rebela contra el sentido común no es el principio nihilista de que <<todo está permitido>>, que se hallaba ya contenido en la concepción utilitaria y decimonónica del sentido común. Lo que el sentido común y la <<gente normal>> se niegan a creer es que todo sea posible. ARENDT, H. Orígenes del totalitarismo: Totalitarismo, España: Alianza Editorial, 1987, p.656. 39 Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 133 Todo esto se acompaña de una situación de excepción, en donde la nuda vida –entendida como la vida a la que se puede dar muerte– es sustituible y superflua. Ahí se insertan también las Versuchenpersonen43, que son aquellas personas manejadas y consideradas –como diría Bauman44– como residuos humanos. Esos seres humanos quedan a-bandonados, de modo tal que en esa ambigüedad está excluido-incluido en la comunidad y por ende está dentro y está fuera de la ley. Aquéllos que están en tal situación de “excepción” resultan ser innecesarios para la sociedad que no los incluye, o como apunta Bauman, esos grupos son “desechables” al constituir un conjunto de residuos humanos a través de los cuales se evidencia ese ámbito en el que se suspende cualquier viso de legalidad, aún para quienes deberían ejercerla45. Lo más grave del asunto es que ese estado se perpetúa y se convierte en la regla, que sumado a la indiferencia hace que, –como apunta Primo Levi en Naufragés–: “para que el mal se realice no es suficiente que se produzca la acción de algunos; hace falta todavía que la gran mayoría esté a su lado, indiferente…”46 como sucede con quienes sufren la extrema pobreza. Dentro de las esferas de la moralidad no cabría la posibilidad de pensar en la vida de algún individuo como una vida que “no merece ser vivida”. Por ello la existencia de vidas que resultan innecesarias y por lo tanto se pueden desechar porque están de más y no entran en el diseño de las formas de la convivencia humana.47 Todos ellos son consumidores fallidos de nuestra sociedad de consumo, implican un costo y no involucran un apoyo; son, siguiendo a Bauman: “<<víctimas colaterales>> del progreso económico, imprevistas y no deseadas.”48 Por ello es que pueden ser excluidas, y en ese margen utilizadas y esclavizadas sin problema. Desde ahí es que si existe insatisfacción de las necesidades requeridas significa que además de la exclusión se precisa hablar de un concepto concomitante, al menos en el ámbito social: la pobreza. Dar cuenta de ella nos hace –según Sen- que reconozcamos su dimensión relativa que se compagina con el entorno social, pero además existe una dimensión absoluta, es decir, que hay condiciones mínimas indispensables –relacionadas con capacidades y funciones básicas– necesarias para perseguir y diseñar los planes de vida, en aquellas cuestiones que son posibles de alcanzar. 43 AGAMBEN, G. Homo Sacer, El poder soberano y la nuda vida, Valencia: Pre-textos, 2003, p.195 y ss. En el texto es traducido como cobayas, entendiéndolo según el Diccionario de la Real Academia como los “conejillos de Indias”, www.rae.es. 44 BAUMAN, Z. Vidas desperdiciadas. Barcelona: Paidós, 2005, pp. 24 y 25. 45 Ibid. 46 LEVY, P. Les naufragés et les rescapés, París: Gallimard, 1989, citado en TODOROV, T. Frente al límite. México: Siglo XXI, 2004, p. 166. 47 BAUMAN, Z. Vidas desperdiciadas. Barcelona: Paidós, 2005, p. 46. 48 Ibid, p.57. 134 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 El desbordamiento de lo moral del que hemos venido hablando, niega cualquier trazo deseable de justicia. De ahí que el fenómeno de la pobreza muestre que la desigualdad material entre las personas no sólo se queda ahí, sino que se extiende en graves diferencias en la posibilidad de participación y por ende, de la distribución del poder político. Esto hace posible la dominación de unos sobre otros49. Sen considera a las capacidades en tanto categorías generalmente no tomados en cuenta por la política de la justicia distributiva de los Estados. Desde esta consideración es importante apuntar que ni la riqueza, ni los bienes, ni los recursos se traducen automáticamente en bienestar y libertad de las personas. Pobreza y justicia social constituyen los ejes para una reflexión contemporánea en torno a una ciudadanía igualitaria, inclusiva y por ende participativa. El autorrespeto que significa “igualdad en igual reconocimiento, respeto y garantía de los derechos y libertades políticas”50. En este reconocimiento se implica el que sean seres humanos iguales pero lo que se insiste es que por serlo deben recibir justamente la distribución de la riqueza, de los recursos, de los bienes y las oportunidades. Todo esto posibilita llevar a cabo la libertad en el sentido de agencia y poder y toma enorme fuerza cuando se presenta ante los grupos sistemáticamente excluidos por la falta de reconocimiento. Esto se traduce en una acumulación de desventajas sociales en relación con los demás ciudadanos y que se convierten en “problemas prácticos relativos al ejercicio de las libertades civiles.51 Es importante insistir como lo ha hecho Nancy Fraser, que la dimensión política de los derechos básicos que ha de ser reconocida por todos y por ello es fundamental, para el alcance de la justicia que se lleve a cabo, además del reconocimiento, la redistribución. La pobreza imposibilita la participación, porque desde la desigualdad se niega su reconocimiento, y por ende se excluye y no se permite compartir la decisión pública. A su vez y por el otro lado, cerrando el círculo podemos ver que en lo político es en donde se generan las instituciones que van a propiciar y a defender tanto a los miembros de esa asociación política, y también se defenderán sus acciones, sus búsquedas en el espacio de la participación y decisión política. Sólo así podrán pensarse como verdaderos ciudadanos, como respetables. Por ello es que los programas asistencialistas poco ayudan dado que se centran en la mera distribución de bienes, como programas únicos y focalizados y 49 SAHUÍ, A. Igualmente libres. Pobreza , justicia y capacidades, México: Ed. Coyoacán, 2009, p. 20. Ibid, p. 36. 51 Ibid, p.58. 50 Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 135 no en la cuestión de la libertad como desarrollo centrada en las capacidades y en la posibilidad de acciones de aquellos que están peor ubicados en un tejido de las relaciones sociales. Amartya Sen no se equivocaba cuando al hablar del desarrollo como libertad apuntaba que quien carece de medios para tener una vida mejor no tiene la libertad para hacer muchas cosas para sí y para otros, que como un humano responsable podría realizar. Las sociedades que prosperan a costa del hambre, del sufrimiento, del escarnio, y de situaciones como la trata de personas no pueden ser aceptadas bajo ningún pretexto, de modo que ante la visualización de estos problemas es fundamental la toma de conciencia de la misma ciudadanía para la defensa continua de los derechos de estas personas de una manera responsable y solidaria. Así, si la exclusión significa la condición fundamental de la injusticia52, significa que es preciso insertar a aquellos que juegan un papel de dentro-fuera, ya que los excluidos no están realmente fuera de la sociedad porque cooperan en ella. El problema es que no se les reconoce como iguales en los procesos y mecanismos de decisión. Sus voces discordantes no se toman en cuenta por no considerarse relevantes en la construcción de la agenda pública y en los procesos decisorios. Una forma de violencia es la corrupción que ha logrado el dominio de la sociedad traspasando el umbral de la política, como lo fue para Arendt el fenómeno del totalitarismo que tuvo como objetivo la dominación y el infierno construido por el hombre.53 Una de las ideas del nazismo fue precisamente que existían personas de diversas especies, unas superiores y otras inferiores. El efecto de esta consideración es de todos conocida, y ha sido deplorada basándonos en la apuesta contraria, a saber: que nuestra especie es una y está compuesta por individuos quienes merecen una idéntica consideración moral.54 Esta intuición está incorporada en el lenguaje de los derechos humanos en el que la capacidad de considerar un número cada vez mayor de personas que pretenden que se les trate como nos gustaría a todos que nos trataran, de modo que con ello se pretendería la deseada universabilidad de tales derechos. La historia vivida nos ha mostrado que cuando los seres humanos gozan de derechos defendibles, es decir, cuando se protege y mejora su agencia como individuos, es menos probable que existan abusos sobre ellos. 52 VILLORO, L. “Sobre el principio de la injusticia: la exclusión”, en Isegoría, 22, 2000, p. 104. ARENDT, H. Totalitarismo, 2, Imperialismo, Madrid: Alianza Editorial, 1987. 54 Ibid, p.30. 53 136 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 5. A MODO DE CONCLUSIÓN La destrucción de lo humano no es novedad, lo que sí lo es son las formas en que se destruye. Y para esto necesitamos refrendar e insistir en la realización e implementación de aquello que defiende lo humano, es decir, recurrir a los derechos humanos que han sido conquistas históricas importantísimas. Los matices que haya que hacer nos obligan a repensarlos, pero no a desecharlos. Desde ahí tenemos que pensar en lo que se constituye como propiamente humano para no soslayar su relevancia y mostrarnos responsables ante la violación de tales derechos. Afirmar que los derechos humanos son obligatorios y de alta prioridad, significa que han de ser considerados como normas que mandan y no meras metas, y esto significa que es preciso alcanzar sus demandas dado que obligan y han de prevalecer como normas de suprema prioridad. Por ello, frente a la experiencia de su recurrente violación, los defensores de estos derechos deberán ver estrategias para los cambios políticos para alcanzar tales estrategias, que se constituyen en metas. Una de las mediaciones que han de considerarse para el alcance de los fines es la urgencia en la implementación de leyes que impulsen la implementación de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar nuestro, la promulgación de leyes parece no ser todavía suficiente para la realización de los derechos humanos; la implementación de leyes no garantiza su respeto y realización, por ello, como podemos ver, sólo pueden garantizarse en aquellas sociedades que tienen la suerte de haber generado actitudes en la gente y en los gobiernos que comprenden los derechos y su necesidad por sí mismos, y no necesitan de la obligatoriedad. Pero la solución no será completa si no hay una conjunción de esfuerzos que intervengan en los cambios reales. Por un lado, se busca alcanzar las metas legislativas en torno a los derechos humanos, pero además es preciso generar políticas apoyen fácticamente a través de intervenciones que generen cambios plausibles, desde las comunidades más pequeñas hasta comprender a toda la sociedad. Con ello se irá trabajando en círculos concéntricos, a la manera de los círculos de la Metáfora de Hierócles55 para ir ampliando la comprensión y la comprehensión de los derechos humanos, de modo 55 Mencionados en Martha C. Nussbaum. Hierócles el estoico planteó una teoría de “círculos morales” que consiste en que existen varios niveles de grupos humanos a los que se les aplica nuestra consideración moral, de modo que en los primeros círculos estamos nosotros mismos, luego los círculos de la familia, la ciudad, la patria y finalmente el círculo de la humanidad entera. Y el ser humano tiene como tarea el acercamiento de los círculos yu así considerar a quienes están más alejados tan digno de aprecio como nosotros mismos. N USSBAUM , M.C. “Patriotismo y cosmopolitismo”, en NUSSBAUM, M.C. Identidad pertenencia y “ciudadanía mundial”, Barcelona: Paidós, 1999. Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 137 que en todos los ámbitos se entienda y se asuma la defensa de la misma humanidad. Esto se realizaría mediante la generación de programas de inclusión, mediante educación y políticas que generen la mejora de los más empobrecidos, que generalmente son los excluidos. Y a la par de los programas formativos que insistan en el fundamental crecimiento humano alude a un crecimiento moral y no únicamente económico. Estos programas han de entenderse a toda la sociedad porque los que excluyen son los mejor situados. Es necesario ampliar los ámbitos de la responsabilidad humana y el desarrollo de una conciencia prudencial que pueda sopesar lo que es fundamental para los seres humanos para que así nos centremos en lo verdaderamente importante. Desde ahí es que el tema de la exclusión ha de formar parte de los debates políticos académicos, en donde se tienen que considerar la marginación, la privación y la pobreza, como cuestiones centrales. Quienes sufren exclusión sufren desventajas generalizadas en términos de educación, empleo, vivienda, recursos financieros, así como falta de oportunidades para tener acceso a la distribución de tales oportunidades y por ende son sustancialmente menores que las del resto de la población y la persistencia de tales desventajas permanece a lo largo del tiempo.56 La exclusión es un fenómeno social cultural ético-político que cuestiona y amenaza los valores de la sociedad57, por ello no es únicamente la insuficiencia de ingresos, sino que revela algo más que la desigualdad social, y tiene implicaciones que evidencian el peligro de una sociedad fragmentada, con lo que se amenaza la cohesión social de los Estados por la recurrente injusticia. De este modo, como algunos teóricos han señalado: la exclusión viene dada por la negación o inobservancia de los derechos sociales, que incide en el deterioro de los derechos políticos y económicos. Es cierto que la exclusión se relaciona generalmente con la pobreza, y se evidencia sobre todo en los países más pobres. Los derechos humanos han de ser más morales y consecuentemente sus implicaciones legales y políticas serán más humanizadas y desde ahí habrían de ser vistos como un lenguaje, no para la proclamación y la promulgación de verdades eternas, sino como un discurso para la mediación de los conflictos y amenazas en contra de la humanidad. El consenso que pueda generase puede ser una condición necesaria para un acuerdo deliberativo que presuponga un desarrollo del respeto y reconocimiento mutuo y la cancelación de cualquier forma de esclavitud, además de un compromiso común en relación con los universales morales, que nos hacen pensar en el alcance de los derechos humanos. 56 ARAHAMSON, P. “Exclusión social en Europa:¿vino viejo en odres nuevos?” en MORENO, L. (comp.), Unión Europea y Estado de Bienestar, Madrid: CSIC, 1997, p.123. 57 Ibid, p.123. 138 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Actualmente y en nuestro país la principal amenaza para los derechos humanos no proviene únicamente de la tiranía sino también de la anarquía y la indiferencia, y parece que ahí es donde se quedan esas brechas en las que se cuela la situación de exclusión. Por ello, la necesidad del orden estatal y de una ciudadanía consciente y pensante ya que ella que funge como garantía para los derechos. Esta situaciones nos obligan a buscar una transformación en la imaginación ético-política como señala Zizek58, que significa desarrollar una ética que habrá de generar cambios reales porque acepta la contingencia, pero que está “dispuesta a arriesgar lo imposible” en el sentido de romper posiciones estandarizadas. Por ello, podemos pensar que la ética sigue proporcionando el referente normativo para que, como dice Javier Muguerza podamos abrigar una modesta esperanza que lejos de ser pasiva, se liga al disenso en tanto nos neguemos a aceptar aquello que no es tolerable por injusto y por indigno.59 58 59 ZIZEK, S. Arriesgar lo imposible, Madrid: Trotta, 2004, p.25. MUGUERZA, J. Ética, disenso y derechos humanos, Madrid: Argés, 1998. Desbordamiento de los mínimos morales en los derechos humanos: exclusión y justicia 139 REFERENCIAS ABRAHAMSON, Peter. Exclusión social en Europa: ¿vino viejo en odres nuevos? En: MORENO, Luis (comp.). Unión Europea y estado de bienestar. Madrid: CSIC, 1997. AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer, el poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-textos, 2003. p. 16. ARENDT, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1998. ______. Lectures on Kant’s political philosophy. Chicago: University of Chicago Press, 1995. ______. Between past and future, eight exercises in political thought. New York: Penguin Books, 1993. ______. Los orígenes del totalitarismo – 2. Imperialismo. Madrid: Alianza Universidad, 1987. ______. Orígenes del totalitarismo: totalitarismo. Madrid: Alianza, 1987. BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiciadas. Barcelona: Paidós, 2005. ______. En busca de la política. Buenos Aires: FCE, 2003. BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós, 1998. CORTINA, Adela. Por una ética del consumo. Madrid: Taurus, 2003. FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar. Ciudad de México: Siglo XXI, 1991. GIORGI, Gabriel & RODRÍGUEZ, Fermín (comps.). Prólogo. En: DELEUZE, Gilles; FOUCAULT, Michel; NEGRI, Antonio; ZIZEK, Slavov & AGAMBEN, Giorgio. Ensayos sobre biopolítica – excesos de vida. Barcelona: Paidós, 2006. G UERRA , Maria José & A RAMAYO , Roberto R. Los laberintos de la responsabilidad. Madrid: CSIC/Plaza y Valdés, 2007. GUERRA, Maria José. Responsabilidad “ampliada” y juicio moral. En: GUERRA, Maria José & ARAMAYO, Roberto R. Los laberintos de la responsabilidad. Madrid: CSIC/Plaza y Valdés, 2007. LEVI, Primo. Les naufragés et les rescapés. Paris: Gallimard, 1989, citado en TODOROV, Tzvetan. Frente al límite. Ciudad de México: Siglo XXI, 2004. LIPOVETSKY, Gilles. El crepúsculo del deber. Barcelona: Anagrama, 1998. MUGUERZA, Javier. Citado en GUERRA, Maria José & ARAMAYO, Roberto R. Los laberintos de la responsabilidad. Madrid: CSIC/Plaza y Valdés, 2007. 140 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 ______. Ética, disenso y derechos humanos. Madrid: Argés, 1998. NUSSBAUM, Martha Craven. Patriotismo y cosmopolitismo. En: NUSSBAUM, Martha Craven. Identidad pertenencia y “ciudadanía mundial”. Barcelona: Paidós, 1999. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Disponible en: <http://www.rae.es>. REYES MATE, Manuel. La justicia de las víctimas. En: Revista Portuguesa de Filosofía, Tomo LVIII, fasc. 2, Braga, 2002. RIDOUX, Nicolas. Menos es más: introducción a la filosofía del decrecimiento. Barcelona: Los Libros del Lince, 1999. SAHUÍ MALDONADO, Alejandro. Igualmente libres. Pobreza, justicia y capacidades. México, DF: Coyoacán, 2009. SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Madrid: Planeta, 2000. SUTTON, Sara. La exclusión social y el silencio discursivo. En: Voces y contextos, año I, n. II, Ciudad de México, Otoño, 2006. TODOROV, Tzvetan. Frente al límite. Ciudad de México: Siglo XXI, 2004. VILLICAÑAS BERLANGA, José Luis. Responsabilidad y esferas de acción. En: GUERRA, Maria José & ARAMAYO, Roberto R. Los laberintos de la responsabilidad. Madrid: CSIC/Plaza y Valdés, 2007. VILLORO, Luis. Sobre el principio de la injusticia: la exclusión. En: Isegoría: revista de filosofía moral y política, n. 22, “Globalización y Derechos humanos”, p. 103142, 2000. ZIZEK, Slavoj. Arriesgar lo imposible. Madrid: Trotta, 2004. 141 Conceito de minorias e discriminação 10 Conceito de minorias e discriminação Concept of minorities and discrimination Concepto de las minorías y la discriminación JAMILE COELHO MORENO Advogada; bacharel em Direito, pela Instituição Toledo de Ensino – ITE, de Bauru, São Paulo; mestranda em Direito no Centro de Pós-Graduação da Instituição Toledo de Ensino – ITE. E-mail para correspondência: [email protected] . RESUMO Sob qualquer aspecto, ao analisar-se o processo de formação da sociedade brasileira (e dos demais países do Novo Mundo), visualiza-se, como indispensável menção, o relevante papel dos grupos minoritários em relação ao restante da sociedade. Antes de se estudar a respeito dos direitos das minorias, é mister estudar mais acerca das chamadas minorias. É imprescindível que a defesa de tais grupos seja promovida não apenas no que tange aos direitos individuais e coletivos, mas também em face e em defesa dos interesses de todo o restante da população. Para tanto, há necessidade de uma prévia análise acerca da discriminação a que essa camada da população está sujeita. Nesse esteio, para que efetivamente se consiga promover a defesa de tais grupos, é importante conceituar o que seria essa discriminação, bem como apontar as diferenças existentes entre este ato da sociedade, o preconceito e a intolerância. Palavras-chave: conceito, minorias, discriminação. 142 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 ABSTRACT In any way, in analyzing the process of formation of Brazilian society (and other new world countries), we see as essential to mention the important role of minority groups in relation to the rest of society. Before studying the rights of minorities, it is necessary studying more about the so-called minorities. It is essential that the defense of such groups is promoted not only in terms of both individual and collective rights, but also in face and in the interests of the rest of the population. Therefore, there is need for a previous analysis about the discrimination that this population is subject. In this mainstay, to actually succeed in promoting the protection of such groups, it is important to conceptualize what would be this discrimination, and point out the differences between this act of society, prejudice and bigotry. Keywords: concept, minorities, discrimination. RESUMEN En todo sentido, para examinar el proceso de formación de la sociedad brasileña (y de otros países en el nuevo mundo), es esencial decir el importante papel de los grupos minoritarios en relación con el resto de la sociedad. Antes de estudiar los derechos de las minorías, importante estudiar más sobre las llamadas minorías. Es esencial para promover la protección de estos grupos no sólo en lo que respecta a los derechos individuales y colectivos, sino también en el interés del resto de la población. Por lo tanto, hay una necesidad de análisis previo de la discriminación que este sector de la población está sujeta. En esta línea, de manera que podamos promover la protección de esos grupos, es importante conceptualizar esta discriminación, y señalando las diferencias entre este acto de la sociedad, el sesgo y la intolerancia. Palabras clave: concepto, minorías, discriminación. 1. INTRODUÇÃO Antes de se estudar a respeito dos direitos das minorias, da proteção constitucional, infraconstitucional e internacional ou, ainda, a respeito dos instrumentos para efetivação de tais direitos, é mister estudar mais acerca das chamadas minorias. Cabe a todos, enquanto estudantes e praticantes do Direito, promover a defesa de tais grupos não apenas no que tange aos direitos individuais e coletivos, mas também em face e em defesa dos interesses de todo o restante da população. Por isso, é fundamental analisar alguns aspectos básicos deste tema prévio. Historicamente, sempre se fez presente, no Brasil, uma cultura importada, baseada em valores estrangeiros, herdada dos colonizadores europeus que aqui pouco Conceito de minorias e discriminação 143 tencionavam investir, mas somente queriam extrair riquezas, fazendo do País um simples produtor de matérias-primas e produtos agrários (NASCIMENTO, 2005: 120). Com efeito, observou-se, desde a formação do País, uma cultura escravagista, iniciada com a mão de obra indígena, depois substituída pela negra e, por que não, já no começo do século XX, pela imigrante. Numa cultura escravagista, sabe-se que o trabalho era coisa para escravos e o valor das pessoas era aferido de acordo com as suas relações, seus parentescos e suas posses, sedimentando a cultura clientelística, cultura esta que, lamentavelmente, ainda está em vigência na política brasileira. Ao longo dos tempos, é certo que muito desta cultura se esvaiu, mas não o suficiente para que determinadas práticas discriminatórias não se façam presentes. Sabe-se que o legislador constituinte originário cuidou de vedar quaisquer tipos de preconceito ou discriminação, explicitamente. Todavia, na prática, tais vedações não se apresentam completamente eficazes, nem se resumem à previsão constitucional. Após os dramáticos acontecimentos na ex-União Soviética e na ex-Iugoslávia, ou seja, após o colapso dos regimes comunistas, o tema minorias voltou a se destacar na agenda internacional, situação que não ocorria desde o período entreguerras (quando o debate se deu no âmbito da Liga das Nações). Os condenáveis acontecimentos da Segunda Guerra Mundial ocasionaram o reconhecimento do vínculo existente entre o respeito à dignidade do ser humano e à paz. Da mesma forma, houve o reconhecimento de que as ordens jurídicas nacionais, sujeitas a alterações de acordo com o regime político atuante, não eram suficientemente eficazes para tutela dos direitos dos indivíduos. Nesse esteio, a Carta das Nações Unidas estampa tais considerações e pode ser considerada como vetor para o ulterior processo de universalização dos direitos humanos. Em prosseguimento, no ano de 1947, a Comissão de Direitos Humanos criou uma subcomissão com a finalidade de prevenção da discriminação e de proteção das minorias. Ao ver rejeitadas todas as propostas de definição do termo minoria, esta subcomissão decidiu, em meados da década de 1950, condensar suas atividades na prevenção da discriminação, restringindo-se a recomendar a inclusão de uma provisão referente à proteção de minorias nos instrumentos internacionais de direitos humanos a serem elaborados dali em diante. Então, a visão preponderante era a de que os direitos das minorias estariam suficientemente protegidos pelo enfoque individual e universal que os direitos humanos assumiram no período pós-guerra. Esta visão, ao seu turno, fez com que, em meados da década de 1950, o tópico minorias passasse a ser excluído da agenda internacional (WUCHER, 2000: 4). 144 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 De todo o contexto histórico de descolonização, que consagrou o princípio da não discriminação, foi somente a partir da inclusão do artigo 27 no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, que novamente abordou-se acerca do tema minorias. Em 18 de dezembro de 1992, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração sobre os Direitos de Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas. Apesar de seu caráter jurídico e não vinculativo, esta declaração é considerada o instrumento de abrangência global mais generoso em termos de “discriminação positiva”, vale dizer, a que mais confere direitos especiais às minorias (PIRES apud WUCHER, 2000: 03). A sobredita declaração proíbe a discriminação com base na raça, no sexo, na língua e na religião. Porém, é omissa em relação à efetiva proteção das minorias. Assim, após o fim da estrutura bipolar do mundo, no âmbito da ONU, a Declaração de 1992 pode e deve ser considerada como o marco inicial dos novos debates sobre as minorias. 2. CONCEITO DE DISCRIMINAÇÃO Discriminação é a prática de ato de distinção contra pessoa do qual resulta desigualdade ou injustiça, sendo essa distinção baseada no fato de a pessoa pertencer, de fato ou de modo presumido, a determinado grupo. Discriminar é excluir, é negar cidadania e, via de consequência, a própria democracia. Todavia, para que a igualdade seja garantida a todos, não basta apenas a eliminação das diferenças, mas sim a obtenção da igualdade e, para tanto, torna-se necessário identificar as verdadeiras origens da desigualdade. Nessa linha, é importante colacionar as palavras de Elida Séguin: Inicialmente, deve-se procurar o sentido das palavras discriminação, preconceito e intolerância. Discriminar é diferençar, distinguir, discernir, separar, especificar (Aurélio Buarque de Holanda). Sérgio Abreu afirma que a palavra discriminação surgiu no fim do século XIX, na França e na Alemanha, “utilizada na Psicologia, sem a ideia de tratamento desigual”, somente no século XX passou a ser ligada, “em matéria econômica e sobretudo no Direito e na política, para as minorias e todas as formas de tratamento desigual”. No entender de Norberto Bobbio, por discriminação entende-se uma diferenciação injusta ou ilegítima porque vai contra o princípio fundamental de justiça, segundo o qual devem ser tratados de modo igual aqueles que são iguais (2002: 108-109). Nesse sentido, o renomado filósofo explicou que: Conceito de minorias e discriminação 145 Num primeiro momento, a discriminação se funda num mero juízo de fato, isto é, na constatação da diversidade entre homem e homem, entre grupo e grupo. Num juízo de fato deste gênero, não há nada reprovável: os homens são de fato diferentes entre si. Da constatação de que os homens são desiguais, ainda não decorre um juízo discriminante. O juízo discriminante necessita de um juízo ulterior, desta vez não mais de fato, mas de valor: ou seja, necessita que, dos dois grupos diversos, um seja considerado bom e o outro mau, ou que um seja considerado civilizado e o outro bárbaro, um superior (em dotes intelectuais, em virtudes morais etc.) e o outro inferior... Um juízo deste tipo introduz um critério de distinção não mais factual, mas valorativo (BOBBIO, 2002). Em prosseguimento, Bobbio concluiu que: A relação da diversidade, e mesmo a de superioridade, não implica as consequências da discriminação racial... Da relação superior-inferior podem derivar tanto a concepção de que o superior tem o dever de ajudar o inferior a alcançar um nível mais alto de bem-estar e civilização, quanto a concepção de que o superior tem o direito de suprimir o inferior. Somente quando a diversidade leva a este segundo modo de conceber a relação entre superior e inferior é que se pode falar corretamente de uma verdadeira discriminação, com todas as aberrações decorrentes (BOBBIO, 2002). A despeito da evolução das ciências, as pessoas quedaram-se silentes aos novos tempos, bem como à necessidade de aceitar segmentos especiais ou diferenciados da sociedade, surgindo, assim, o preconceito. Desta forma, preconceito pode ser conceituado como: Conceito ou opinião formado antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos, ideia preconcebida; julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que os conteste; prejuízo (ABREU apud SÉGUIN, 2002: 55). O preconceito, por sua vez, está associado não só aos que são diferentes, mas também àqueles cuja ação do tempo os modifica. Nessa esteira, é importante colacionar as palavras de Elida Séguin (2002) ao abordar o mesmo tema: [...] Para dar uma pálida ideia, o preconceito contra o idoso chegou a tal ponto que foi cunhada a expressão etarismo. Interessante observar que a questão está sendo revertida pelo mercado consumista: descobre-se que os menos jovens constituem uma possibilidade de consumo que deve ser explorada. Não se pode deixar de consignar que o próprio grupo social aceita e cria uma estigmatização positiva a determinados comportamentos, como os delitos de trânsito, típicos da classe média. O motorista amador que provoca acidentes, 146 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 muitas vezes evitáveis, é visto como uma vítima da fatalidade. São cidadãos respeitáveis que involuntariamente causaram danos, tão vítimas quanto suas vítimas, desconhecendo o grupo social que o comportamento gerador foi leviano, imprudente e inconsequente. É o grupo se autodefendendo. A postura dos Tribunais vem sendo alterada para enxergar nos delitos de circulação um dolo eventual (SÉGUIN, 2002: 57). O ilustre Professor Dalmo de Abreu Dallari (apud VIANA & RENAULT, 2000: 14) viu como raízes subjetivas do preconceito, a ignorância, a educação domesticadora, a intolerância, o egoísmo e o medo. Para ele, o preconceito não só acarreta a perda de respeito pela pessoa humana como introduz a desigualdade e a injustiça. O referido autor ressaltou, ainda, o preconceito da polícia e dos juízes em relação às camadas mais pobres da população. Afirmou, além disso, o renomado jurista que ninguém nasce com preconceitos e, para evitar o preconceito, propôs uma autofiscalização: É preciso estarmos sempre muito atentos quando for proferir julgamentos sobre uma pessoa, uma ideia, uma crença. Mas além disto acredito muito na educação libertadora de Paulo Freire... Acho que assim como o preconceito é incutido pela educação, ele pode ser eliminado pela educação (...). Eu acredito na existência de direitos universais. Resguardados estes direitos é indispensável que se resguarde também o direito à diferença. Aliás, é interessante, existe uma declaração contra o preconceito, aprovada pela Unesco e que acentua exatamente isto, o direito à diferença. Quer dizer, eu não posso exigir que todos sejam iguais, não posso valorizar mais um do que o outro (DALLARI apud VIANA & RENAULT, 2000: 14). Sobre esse aspecto, historicamente, desde o Código de Hamurabi, havia a previsão de castigos proporcionais ao mal causado, assim como se faziam distinções nas penas de acordo com a classe social da vítima. Ou seja, ferir ou matar um escravo era menos grave do que alguém do clero. Com o advento do Código de Manu, já não se levava em conta a classe da vítima, mas apenas a proteção dos valores dos brâmanes, cujo poder se encontrava no ápice dos demais poderes da sociedade hindu. A Lei das XII Tábuas, diferentemente dos demais códigos, estabeleceu, ainda que provisoriamente, uma igualdade social inédita, excluindo do Direito Penal toda e qualquer distinção de classes sociais. É importante distinguir o preconceito e a discriminação da intolerância. A intolerância deve ser compreendida de uma melhor forma através do estudo de seu antônimo, ou seja, do conceito de tolerância: Condescendência ou indulgência para com aquilo que não se quer ou não se pode impedir. Boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas Conceito de minorias e discriminação 147 às suas. Med. Faculdade ou aptidão que o organismo dos doentes apresenta para suportar certos medicamentos1. Nesse sentido, a Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino (UNESCO, 1960) adotou “princípios de tolerância”, conceituando o termo da seguinte forma: Tolerância é respeito, aceitação e apreciação da rica diversidade de nossas culturas mundiais, nossas formas de expressão e formas de ser humano. Isto é reforçado através do conhecimento, da abertura, da comunicação e da liberdade de pensamento, consciência e crença. Tolerância é harmonia na diferença. Não é apenas um dever moral, é também um requisito político e legal. A legislação brasileira, principalmente a Lei Maior, veda diversas práticas discriminatórias, baseadas em diferentes critérios. Ao final, a questão principal das vedações previstas tanto em normas constitucionais como infraconstitucionais é a garantia do princípio da igualdade, previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal. Todavia, não é suficiente a criação de novos tipos penais ou a majoração das penas já existentes. A sociedade deve atacar a discriminação e a intolerância no âmago da questão: através da educação, verdadeiro agente de modificação social (SÉGUIN, 2002: 59). Ao final, pode-se dizer que, em verdade, todos são diferentes, já que cada indivíduo é uno e irrepetível, um patrimônio da humanidade, sendo certo que só determinado indivíduo pode dar a sua pequena parcela de contribuição ao acervo humano. Por outro lado, os seres humanos são todos iguais. Para Hannah Arendt (apud VIANA & RENAULT, 2000: 19), filósofa e pensadora política que se preocupou não só em entender como explicar a política e a violência dos dias atuais, notadamente a partir do nazismo e do bolchevismo, as pessoas não nascem iguais, pois se tornam iguais como membros de uma coletividade em virtude de uma decisão conjunta que garante a todos direitos iguais. A igualdade, na visão da referida filósofa, pressupõe uma sociedade onde prevaleça, necessariamente, um mínimo de igualdade no plano econômico (frisese, muito diferente da situação econômica atual do Brasil). Segundo a pensadora alemã, a igualdade resulta da organização humana, pois as pessoas não nascem iguais e não são iguais nas suas vidas. É a lei que torna (ou deveria tornar) os homens iguais, ou seja, as diferenças deveriam ser igualadas por meio das instituições e, da mesma forma, a igualdade 1 TOLERÂNCIA. In: PRIBERAM. Dicionário da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 2009. Disponível em: <http://www.priberam.pt/dldlpo>. Acesso em: 12 de junho de 2009. 148 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 deveria ser garantida e ter espaço na esfera pública (já que a diferença tem lugar na esfera privada). E, concluindo, Arendt afirmou que, se os homens fossem iguais, não poderiam entender-se; se não fossem diferentes, não precisariam nem da palavra, nem da ação para se fazer entender. Sabe-se, então, que tanto a não discriminação quanto as reivindicações por medidas positivas se baseiam no princípio da igualdade, tão consagrado e previsto inúmeras vezes (e tal repetição não é despicienda) na Lei Maior. Na medida em que a não discriminação se constitui num princípio já consagrado pelo Direito Internacional (deixar-se-á aqui de aprofundar o tema nesse âmbito, especificamente, eis que não se está tratando acerca dos direitos das minorias), a adoção de medidas positivas – discriminação positiva – continua sendo matéria controvertida. Após a Segunda Guerra Mundial, o princípio da interdição da discriminação, melhor dizendo, o princípio da não discriminação, passou a integrar, exaustiva e sucessivamente, a maioria dos instrumentos internacionais de direitos humanos no âmbito da ONU que tratam das diversas categorias de direitos e pessoas a serem protegidas. Portanto, dispositivos de não discriminação e de igualdade encontramse, atualmente, em vários documentos, desde a Carta das Nações Unidas até o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Com efeito, este princípio consagrou-se como universal do direito internacional de direitos humanos e, por assim ser, como cardeal de proteção das minorias, constituindo-se como respaldo normativo amplo às reivindicações das minorias. Já as medidas de discriminação positiva caracterizam-se por ser medidas especiais que permitem a preservação das características das minorias, que visam a assegurar a pessoas pertencentes a grupos particularmente desfavorecidos uma posição idêntica às dos outros membros da sociedade, proporcionando, portanto, uma igualdade no exercício de direitos. Diferentemente do que ocorreu com o princípio da não discriminação, estas medidas foram aos poucos complementadas pelo legislador internacional, em razão da constatação da insuficiência das regras de não discriminação em relação a determinados grupos de pessoas. Então, tanto o princípio de não discriminação quanto as medidas de discriminação positiva assentam-se no princípio da igualdade. Atualmente, o entendimento primeiro é fundamentado na concepção aristotélica de que deve ser dado tratamento igual ao que é igual e tratamento desigual ao que é diferente. Como já dito alhures, muito ao contrário do já consagrado princípio da não discriminação, a questão da discriminação positiva é altamente controversa. Deveras, a inércia dos Estados em aceitar as medidas positivas de discriminação em benefício de determinados grupos, quando previstas em Conceito de minorias e discriminação 149 instrumentos internacionais, é, na maioria das vezes, motivada por receios de que possa haver certa ingerência em assuntos internos por parte da comunidade internacional (WUCHER, 2000: 55). Todavia, aqui já se iniciou, de uma forma mais direta, a abordagem acerca do tema minorias. Mas, para abordar qualquer assunto sobre tal tema, é mister aprofundar mais as questões a respeito das chamadas minorias. 3. CONCEITO DE MINORIAS No plano internacional, a falta de consenso em torno dos elementos centrais do conceito minoria impede êxito na elaboração de uma definição universalmente aceita. A atual problemática das minorias é, sem sombra de dúvidas, um tema mais do que amplo, eis que a complexidade da questão expressa-se, notadamente pelo seu caráter interdisciplinar, não só no âmbito internacional público, mas pelo fato de o tema transcender o campo jurídico. A questão mais relevante a ser considerada no momento de se conceituar minoria é saber identificar quais indivíduos pertencem à determinada minoria, em meio à diversidade de minorias e seus respectivos contextos em todo o mundo. É importante aqui ressaltar a impossibilidade da existência de dois contextos idênticos, envolvendo minorias de diferentes Estados, vez que cada minoria, da mesma forma que a situação em que se encontra, tem suas próprias características, diferenciandose, com efeito, em graus diferentes, de contextos a respeito dos grupos minoritários em cada Estado, quando analisado individualmente. A palavra minoria inúmeras vezes aparece acompanhada de um adjetivo indicativo da origem da própria destinação. Ou seja, as minorias “nacionais”, “étnicas”, “religiosas” e “linguísticas” estampam a própria proteção internacional das minorias e seus respectivos direitos. Referindo-se aos direitos atinentes a minorias, O’Donnel constatou que: “Sin embargo, su aplicación también se dificulta por la falta de una definición clara y universalmente aceptada del término minoría” (apud WUCHER, 2000: 43). Ou seja, os problemas de definição devem ser analisados na grande e considerável diversidade de minorias, bem como seus respectivos contextos em todo o mundo. O conceito de “minorias históricas”, segundo Gabi Wucher, portanto, ao se opor ao de “minorias novas”, exclui, a priori, “grupos vulneráveis” outros que as tradicionais minorias étnicas, linguísticas e religiosas (2000: 51). A fim de buscar um significado para minoria, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira definiu o termo como “inferioridade numérica; parte menos numerosa duma corporação deliberativa, e que sustenta ideias contrárias às do maior número” (1994: 11). 150 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Ou, ainda, pode-se encontrar o significado de minoria como inferioridade em número; a parte menos numerosa de um corpo deliberativo2. De fato, nem mesmo a Organização das Nações Unidas conseguiu chegar a um conceito universalmente aceito, já que sempre houve muita hesitação sobre o assunto: a Declaração Universal não tratou particularmente dos direitos das minorias, ficando esta tarefa ao encargo do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966), primeiro instrumento normativo internacional da ONU a tratar sobre o tema, mas que, ainda assim, não forneceu uma definição segura de minoria, pregando de modo genérico o respeito aos direitos dos grupos minoritários, como evidenciado em seu artigo 27, in verbis: Artigo 27 – Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. Nessa esteira, José Augusto Lindgren Alves (1997) salientou que as argumentações para tamanha hesitação têm origem na dificuldade de conciliação das posições assimilacionistas dos Estados do Novo Mundo (formados por populações imigrantes) e as dos Estados do Velho Mundo, com grande gama de grupos distintos em seus territórios nacionais. E, ainda, o mesmo autor advertiu que as razões mais profundas para as hesitações nessa área se acham expostas no prefácio de Francesco Capotorti em seu estudo sobre minorias, datado de 1977 (para a regulamentação do artigo 27 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos), a saber: desconfianças dos Estados em relação aos instrumentos internacionais de proteção dos direitos das minorias, vistos como pretextos para interferência em assuntos internos; ceticismo quanto ao fato de se abordarem, em escala mundial, as situações distintas das diversas minorias; a crença na ameaça à unidade e à estabilidade interna dos Estados pela preservação da identidade das minorias em seu território e, finalmente, a ideia de que a proteção a grupos minoritários constituiria uma forma de discriminação. Diante da necessidade de uma definição de minoria, a Subcomissão para a Prevenção da Discriminação e a Proteção das Minorias, criada pela ONU, encomendou ao perito italiano Francesco Capotorti (anteriormente citado) um estudo que resultou na seguinte definição de minoria que, por sua vez, será a definição adotada no presente trabalho: 2 MINORIA. In: PRIBERAM. Dicionário da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 2009. Disponível em: <http://www.priberam.pt/dldlpo>. Acesso em: 5 de junho de 2009. Conceito de minorias e discriminação 151 Um grupo numericamente inferior ao resto da população de um Estado, em posição não dominante, cujos membros – sendo nacionais desse Estado – possuem características étnicas, religiosas ou linguísticas diferentes das do resto da população e demonstre, pelo menos de maneira implícita, um sentido de solidariedade, dirigido à preservação de sua cultura, de suas tradições, religião ou língua (CAPOTORTI apud WUCHER, 2000: 78). Infere-se dessa definição que o citado autor elencou o elemento numérico, o da não dominância, da nacionalidade e da solidariedade entre os membros da minoria como constitutivo de uma minoria. Não há, todavia, consenso no que diz respeito ao elemento numérico, qual seja, o tamanho de uma minoria. De um lado, tem-se que as medidas especiais em benefício de uma minoria muito pequena seriam inversamente proporcionais à capacidade financeira do Estado. Por outro lado, tem-se que a titularidade ou o exercício propriamente dito de direito individual não poderia depender do tamanho do grupo ao qual o indivíduo pertence. Inegavelmente, o elemento numérico, por si só, não é suficiente para caracterizar uma minoria que necessite de proteção especial do Estado. Já o elemento nacionalidade, por sua vez, levanta outras controvérsias, na medida em que é questionável se, para reivindicar direitos, as pessoas pertencentes às minorias devem ser cidadãos do Estado em que, de fato, vivem. Nesse sentido, a subcomissão, em primeira sessão, afirmou que pessoas que pertencem às minorias precisam ser nacionais do Estado em que vivem (WUCHER, 2000: 47). Em prosseguimento, o elemento da solidariedade entre os membros da minoria, visando à preservação de sua cultura, suas tradições, sua religião ou seu idioma, tem grande importância, eis que implica critério subjetivo, vale dizer, na manifestação de vontade implícita ou explícita de preservação das próprias características. Com efeito, na visão do Tribunal Permanente de Justiça Internacional, pertencer a uma minoria é mais uma questão de fato que de vontade: No que respeita ao elemento subjectivo da noção de minoria, o Tribunal Permanente de Justiça Internacional rejeitou o argumento segundo o qual a declaração de pertença a uma minoria era o único factor que condicionava a possibilidade de exercício dos direitos previstos pelos Tratados [...]. O Tribunal declarou que as minorias eram definidas por elementos objectivos, como a raça ou a religião, e não por simples declarações de vontade das pessoas. Essa declaração deve constituir a constatação de um facto, e não a expressão de uma vontade, o que excluía assim o elemento subjectivo da noção de minoria (PIRES apud WUCHER, 2000: 48). A questão de maior relevância, neste aspecto, é determinar qual o indivíduo que, de fato, pertence a uma minoria, ou seja, que pode reivindicar direitos dados a 152 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 uma determinada minoria. É necessário salientar que há duas definições para caracterizar minorias, envolvendo as concepções sociológica e antropológica. Na sociologia, o termo “minoria” normalmente é um conceito puramente quantitativo, referindo-se ao subgrupo de pessoas que representa menos da metade da população total, sendo certo que, dentro da sociedade, ocupa uma posição privilegiada, neutra ou marginal. Todavia, no aspecto antropológico, a ênfase é dada ao conteúdo qualitativo, referindo-se aos subgrupos marginalizados, ou seja, minimizados socialmente no contexto nacional, podendo, inclusive, constituir uma maioria em termos quantitativos. Dessa forma, para ser objeto de tutela internacional, a minoria deve, necessariamente, ser caracterizada pela posição de não dominância que ocupa no âmbito do Estado em que vive. O elemento de não dominância, por si só, é o que caracteriza os chamados grupos vulneráveis. A despeito da confusão entre os conceitos de minorias e grupos vulneráveis (as primeiras caracterizadas por ocupar uma posição de minoria no país onde vivem, no sentido literal da palavra, enquanto os segundos podem se constituir de grande contingente numérico destituído de poder, mas que guarda certa cidadania e os demais elementos que poderiam transformá-los em minorias, como as mulheres, as crianças e os idosos), deixar-se-á aqui de ater-se à diferença existente, posto que, na prática, ambos sofrem sobremaneira de discriminação e intolerância por parte da sociedade. Via de regra, quando se fala em minorias e grupos vulneráveis, logo se pensa em crianças, mulheres, idosos, aidéticos, homossexuais, pessoas com deficiência. Todavia, a cada dia surgem novos grupos ou, ainda, reconhece-se tratamento diferenciado – e discriminatório – recebido por determinadas pessoas que apresentam alguma característica peculiar, como a população carcerária ou os egressos do sistema penitenciário. 3.1. Critérios de classificação O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, muitas vezes criticado, traz, em seu dispositivo já transcrito alhures, somente questões acerca das minorias étnicas, linguísticas e religiosas. As minorias étnicas são grupos que apresentam, entre seus membros, traços históricos, culturais e tradições comuns, diferentes dos verificados na maioria da população. Minorias linguísticas são aquelas que usam uma língua, sem levar em consideração se esta é escrita ou não, distinta da língua da maioria da população ou da adotada oficialmente pelo Estado. Por sua vez, minorias religiosas caracterizam-se por grupos que professam uma religião distinta da professada pela Conceito de minorias e discriminação 153 maior parte da população, mas não apenas uma outra crença, como o ateísmo. No entanto, não é possível ater-se somente a tais minorias, visto que o critério de identificação das minorias envolve aspectos tanto objetivos quanto subjetivos. O aspecto objetivo envolve a visualização da realidade das minorias, por meio de documentos históricos e testemunhas que corroborem os laços étnicos, linguísticos e culturais destes grupos. Já o critério subjetivo envolve o reconhecimento da minoria, da sua existência reconhecida pelo Estado. Vale ressaltar aqui que o não reconhecimento de uma minoria por parte do Estado não o dispensa de respeitar os direitos do grupo minoritário. A partir da distinção apontada, no que diz respeito ao elemento objetivo ou subjetivo, outra classificação de minorias é viabilizada segundo os objetivos das minorias e de seus membros: a diferenciação entre “minorities by force” e “minorities by will” (WUCHER, 2000: 50). No entender do autor, entende-se por by force aquelas minorias e seus membros que se encontram numa posição de inferioridade na sociedade em que vivem e que almejam, tão somente, não ser discriminados em relação ao resto da sociedade e, ato contínuo, querem adaptar e assimilar-se a esta. De outra sorte, as minorias by will e seus membros exigem, além de não ser discriminados, a adoção de medidas especiais as quais lhes permitam a preservação de suas características coletivas (culturais, religiosas e linguísticas). Tais minorias, visando a preservar as indigitadas características, não querem se assimilar à sociedade em que, de fato, vivem, mas sim integrar-se a ela (o que, diga-se de passagem, é muito diferente; todavia, não há o propósito de ater-se, no presente trabalho, a tais distinções, em virtude de não ser o foco do mesmo) como unidade distinta do restante da população. Gabi Wucher (2000) asseverou ainda que: Esta distinção é de suma importância para o presente trabalho, visto que a definição aqui adotada enfoca as minorias by will, ou seja, as minorias combativas e autoafirmativas que aspiram à preservação de suas próprias características e rejeitam ser assimiladas à maioria da população. É necessário, nessa linha, mencionar ainda a existência de outros grupos, tais como as pessoas portadoras de deficiência, os homossexuais e os transexuais, dentre outros que, em princípio, não se enquadrariam nos modelos étnicos, linguísticos e religiosos. 4. CONCLUSÃO O conceito antropológico, que envolve o aspecto qualitativo e não quantitativo, parece mais adequado à situação do tema, tendo em vista que considera o real 154 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 quadro de submissão dos grupos minoritários aos majoritários. No Brasil, onde o preconceito é um elemento constante nas atitudes da sociedade, não podem de forma alguma ser deixadas de lado as comparações entre aqueles grupos conflitantes, visto que são necessárias à conscientização dos membros da própria minoria de que seus direitos estão sendo violados. Com referência às questões de definição, a ênfase conferida aos acordos bilaterais e, principalmente, àqueles programas de cooperação técnica, justamente pelo enfoque político, aponta uma solução bastante pragmática, tendo em vista que tais acordos já se referem a determinado grupo de minorias, o que impede uma maior abrangência quando da aplicação dos direitos destes grupos. Dessa forma, a proposta central deste trabalho se restringe em classificar minorias, ao invés de defini-las, a despeito de eventuais problemáticas de uma subsequente “escala de direitos”, conforme proposto por Gabi Wucher (2000: 136). Em relação ao princípio da não discriminação e a medidas positivas, a breve abordagem enfatizou a necessidade de se alcançar uma igualdade de fato para todos. Aliás, é de ressaltar que a própria Lei Maior desequipara as pessoas com base em múltiplos fatores, quais sejam, raça, cor, sexo, renda, situação funcional e nacionalidade, dentre outros. Assim, ao contrário do que se poderia supor à vista da literalidade da matriz constitucional da isonomia, o princípio, em muitas de suas incidências, não apenas não veda o estabelecimento de desigualdades jurídicas, como, ao contrário, impõe o tratamento desigual. Não obstante, ainda, as citações da legislação internacional sobre o tema, a falta de especificação do mesmo no ordenamento jurídico pátrio leva, muitas vezes, à impunidade e à omissão do Estado, sendo certo que é justamente nessa esteira que se faz necessário um trabalho de educação e respeito de toda a sociedade, que também tem o dever de resguardar os direitos do próximo. Dessa forma, mesmo considerando todas as dificuldades enfrentadas pelas minorias, bem como as barreiras impostas à modificação dessa situação, percebese a intensa luta desses grupos pela sua sobrevivência e pela manutenção dos seus costumes. Para ajudá-los na manutenção de sua identidade, é preciso que a própria sociedade, munida do poder de participação que possui, realize mudanças sociais que venham a preservar a cultura e os direitos de tais grupos, contribuindo para efetiva integração social de todos. Conceito de minorias e discriminação 155 REFERÊNCIAS ALVES, José Augusto Lindgren. A arquitetura dos direitos humanos. São Paulo: FTD, 1997. AMARAL, Lígia Assumpção Amaral. Conhecendo a deficiência (em companhia de Hércules). São Paulo: Robe, 1995. ARAUJO, Luiz Alberto David. Defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. ______. A proteção constitucional dos portadores de deficiência. 3. ed. Brasília: Corde, 1994. ARAUJO, Luiz Aberto David & RAGAZZI, José Luiz (Orgs.). A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. Revista do Advogado, ano XXVII, n. 95, p. 42-50, São Paulo, dezembro, 2007. BARNES, Colin. Las teorias de la discapacidad y los orígenes de la opresión de las personas discapacitadas en la sociedad occidental. In: BARNES, Colin. Discapacidad y sociedad. Madrid: Morata, 1998. BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 10. ed. Brasília: UnB, 1997 ______. Elogio da serenidade e outros escritos morais. São Paulo: Unesp, 2002. CARVALHO, Willian Ricardo do Amaral. 2006. Exigibilidade judicial dos direitos fundamentais sociais. 240f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de PósGraduação da Instituição Toledo de Ensino. Bauru: ITE. CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O direito à diferença. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. N ASCIMENTO , Sônia Aparecida Costa Mascaro. A vedação de práticas discriminatórias no ordenamento jurídico brasileiro. Revista do Advogado, ano XXV, n. 82, p. 120-126, São Paulo, junho, 2005. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. In: XXI ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. New York: ONU, 1966. PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Max Limonad, 1998. 156 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 PRIETO, Jesús Souto. Los depidos por violación de derechos fundamentales y libertades públicas. In: Cuadernos de Derecho Judicial, n. 5, ejemplar dedicado a Constitución y justicia social, Madrid, Lerko Print, 2003. ROBERT, Cinthia. O direito do deficiente. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 1999 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed., rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. SÉGUIN, Elida. Minorias e grupos vulneráveis: uma abordagem jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2002. ______. (Coord.). Direito das minorias. Rio de Janeiro: Forense, 2001. UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION – UNESCO. Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino. In: 11ª CONFERÊNCIA GERAL DA UNESCO. Paris: Unesco, 1960. VIANA, Márcio Túlio & RENAULT, Luiz Otávio Linhares. Discriminação. São Paulo: LTr, 2000. VILAS-BÔAS, Renata Malta. Ações afirmativas e o princípio da igualdade. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003 WUCHER, Gabi. Minorias: proteção internacional em prol da democracia. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. . 157 A nova pirâmide jurídica: a prisão do depositário infiel vista pelo STF 11 A nova pirâmide jurídica: a prisão do depositário infiel vista pelo STF The new juridical pyramid: the unfaithful trustee prison on the STF view CARLOS JOÃO EDUARDO SENGER Advogado; procurador de Justiça; doutor em Direito, pela Universidad del Museo Social Argentino – UMSA, em Buenos Aires; professor e consultor do curso de Direito da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS. WALLACE C. DIAS Bacharelando em Direito, pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS. E-mail para correspondência: [email protected] . RESUMO A pirâmide jurídica, proposta na obra de Hans Kelsen, recebeu um novo patamar a partir do julgamento sobre prisão do depositário infiel. O Supremo Tribunal Federal refez sua posição clássica de escalonar os tratados internacionais como lei ordinária, de sorte que, na visão hodierna, os pactos de direitos humanos merecem um status supralegal, posição esta não prevista pelo constituinte de 1988. Neste trabalho, serão estudados os reflexos desta decisão e como ela pode alterar o Direito como um todo, seja na esfera internacional, seja na nacional. Palavras-chave: direitos humanos, depositário infiel, pirâmide jurídica. ABSTRACT The juridical pyramid proposal in the work of Hans Kelsen received a new level from the trial on arresting of an unfaithful trustee. The Supreme Court has remade his classic position to scale the international treaties and statutory law, in view of today’s human rights pacts worth a supra-status, position not foreseen for the constituent in 1988. This work will study the consequences of this decision and how it can alter the law as a whole, within the international or national sphere. Keywords: human rights, unfaithful trustee, juridical pyramid. 158 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 1. HISTÓRICO DO CASO O caso estudado por este trabalho é especificamente o Habeas Corpus n. 87.585-8/TO, tendo como relator o Ministro Marco Aurélio de Mello, que foi julgado em 03/12/2008, representando verdadeira inovação no Direito brasileiro. O processo refere-se à legitimidade da prisão do depositário infiel, positivada pelo Código Penal no inciso III do parágrafo 1º do artigo 168. O referido Código, em vigor desde a década de 1940, estabelece a pena de reclusão de um a quatro anos e multa. Em 1988, com o advento da Constituição cidadã, novamente destacou-se a possibilidade da prisão do depositário infiel. Aliás, impende destacar que isto ocorre sob amparo de cláusula pétrea, vez que é no artigo 5º, inciso LXVII, que se encontra a positivação, in verbis: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel” (grifou-se). O egrégio Superior Tribunal Federal já havia se posicionado em matéria sumulada de número 619, constatando que: “A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de depósito”. Os tribunais estaduais também conferiam vigência e eficácia à prisão do depositário, pois nada obstava a aplicação da pena tão bem fixada nos ordenamentos nacionais e amplamente aceita pelos juristas à época. Quando tudo indicava pacificação do tema em aceitar a prisão do depositário infiel, perfez-se conflito normativo quando o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica (ou Convenção Americana de Direitos Humanos) pelo Decreto n. 678/92. Tal pacto tornou expressamente defesa a prisão por dívida, apenas permitindo no caso de pensão alimentícia: Artigo 7º (...) 7 – Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar1. Poucos anos depois da ratificação, em 1997, o pacto já gerava efeitos na jurisprudência. O Tribunal de Justiça de São Paulo, 7ª Câmara de Direito Público, julgou o Habeas Corpus n. 059.816-5/9-00, tendo como relator o Desembargador Barreto Fonseca, e por votação unânime proferiu a seguinte ementa: “Em face da 1 Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/m_678_1992.htm>. Acesso em: 21 de outubro de 2009. A nova pirâmide jurídica: a prisão do depositário infiel vista pelo STF 159 adesão do Brasil ao Pacto de São José da Costa Rica, não subsiste mais a prisão civil de depositário infiel”2. Os ínclitos desembargadores do julgado entenderam que o referido pacto havia obstado tacitamente o instrumento normativo constitucional que declarava a prisão civil do depositário. Apesar de não haver manifestação expressa sobre a recepção do pacto como parte integrante da Constituição, há indícios disso quando se trata do artigo 5º, LXVII: “É que no caput do artigo estão declaradas garantias constitucionais mínimas, que podem ser ampliadas por tratados constitucionais (parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República)”3. A jurisprudência caminhava no entendimento de o pacto ter força constitucional, aceitando-no como parte integrante do rol das garantias individuais tuteladas por cláusulas pétreas, porém um novo fato incidiria no tema. Mais adiante, no ano de 2004, atribulando ainda mais a já tormentosa questão, o Congresso, por meio de Emenda Constitucional n. 45, redefiniu o artigo 5º da Constituição, acrescentandolhe o parágrafo 3º. Tal parágrafo permitiu força constitucional a todo tratado de direito humano aprovado em votação de 3/5 de ambas as Casas Legislativas. Por certo que o Pacto de São José da Costa Rica não havia sido votado nestes termos; contudo, ele já recebia os benefícios da aplicação assegurada pelo parágrafo 2º do mesmo artigo constitucional. Estaria tal pacto escalonado como norma constitucional pelo parágrafo 2º ou, por uma interpretação sistemática, só com aprovação do Congresso adquiriria tamanha força? A Emenda n. 45 poderia afetar a vigência constitucional de pacto constituído outrora? Estas são questões de direito que tornaram ainda mais complexa a prisão do depositário infiel, de tal modo que a submeteram até o grau máximo de jurisdição nacional, o Supremo Tribunal, protetor dos elementos constitucionais com repercussão geral. Já era chegada a hora de uma definição concreta delimitar os ditames do Pacto de São José da Costa Rica. Um tema de tanta relevância clamava por pacificação, de maneira que não é mera coincidência o fato de a doutrina posicionar-se e observar atentamente o resultado que traria a concepção do Supremo. Os institutos do Direito internacional e direitos humanos estavam em avaliação. Estes elementos enfrentados pelo Supremo foram transcritos em linha temporal para melhor didática: 2 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1307348>. Acesso em: 31 de setembro de 2009. 3 HC n. 059.816-5/9-00. Rel. Desembargador Barreto Fonseca, julgado em 03/11/1997. 160 ○ ○ Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 ○ ○ ○ ○ 19 40 Código Penal 19 88 CF/88 19 92 Ratificação do Pacto de São José 20 04 20 08 ○ Emenda n. 45/2004 ○ ○ ○ ○ ○ Posição do STF Com facilidade, nota-se quão complexo foi o julgado, que teve a missão de definir um conjunto de abordagens jurídicas das mais diversas áreas: Direito Constitucional, Internacional, Penal, Civil e, até mesmo, Filosofia e Teoria Geral do Direito. De maneira resumida, pode-se afirmar que os caminhos dos votos cruzaram os aspectos jurídicos descritos abaixo. a) Prevalência de norma: Direito nacional X Direito internacional. b) Eficácia de normas constitucionais (plena ou limitada). c) Hermenêutica constitucional do inciso LXVII do artigo 5º e parágrafos. d) Escalonamento de normas na pirâmide kelseniana4. e) Valores dos direitos humanos. f) Direito comparado. 2. O PACTO NO ORDENAMENTO NACIONAL Diante da ratificação, em 1992, é refutável questionar sobre a inclusão do Pacto de São José da Costa Rica no Direito brasileiro. A problemática está em qual escala do Direito nacional encontra-se este instrumento, ou seja, não se questiona se ele faz parte, mas como faz parte. O Supremo defendeu, na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 1.4803/DF, a paridade dos pactos com leis ordinárias, mantendo-as como normas igualmente escalonadas. Todavia, no julgamento focado por este trabalho, os ministros estudaram duas posições totalmente diversas para o Pacto de São José: 4 Hans Kelsen não utilizava a expressão “pirâmide” em sua teoria. Aqui, fez-se uso do termo de maneira puramente pragmática. 161 A nova pirâmide jurídica: a prisão do depositário infiel vista pelo STF a) com força constitucional imediata, pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da CF; b) com força supralegal, em virtude de não ter sido votado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da CF, podendo, contudo, tornar-se constitucional caso esta votação seja feita. Abandonou-se, desta forma, para os instrumentos internacionais de direitos humanos, a clássica posição de que os tratados são leis ordinárias. Posição esta que seria a terceira hipótese não defendida no julgado, como se demonstra abaixo na pirâmide jurídica: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Constitucional ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Constituição ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Supralegal ○ ○ ○ ○ ○ ○ Pacto São José da Costa Rica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ordinário ○ ○ 5 Lei ordinária (Código Penal) ○ ○ Lei complementar ○ ○ ○ Resoluções, decretos, portarias A figura acima demonstra as possíveis soluções para escalonar o pacto, das quais prevaleceu a inovadora tese defendida pelo Ministro Gilmar Mendes: classificálo como supralegal. Assim, cria-se um novo “degrau” que supera as leis, mas não alcança o salutar título de norma constitucional até que seja votado como emenda. No curso do processo, o Ministro Gilmar Mendes frisou que, caso os pactos tornem-se dispositivos impreterivelmente com força constitucional, haveria o risco de “revogação de normas constitucionais com o advento dos tratados”6. O referido jurista destacou, também, que seria trabalhoso definir quando a Constituição absorveu ou não o instrumento internacional: “(...) fico a imaginar a confusão, diria até a babel que nós poderíamos instaurar. Primeiro, com a pergunta sobre se determinado tratado é tratado de direitos humanos (...)”7. 5 Nem todos os doutrinadores aceitam a supremacia da lei complementar sobre a ordinária. Para estes, ambas estão no mesmo patamar, em igualdade. 6 HC n. 87.585/TO. Rel. Ministro Marco Aurélio de Mello, julgado no dia 03/12/2008, publicado no dia 26/06/2009. 7 Idem. 162 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Por outro lado, o Ministro Celso de Mello, defensor da constitucionalidade dos tratados de direitos humanos, argumentava que o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal é “(...) – verdadeira cláusula geral de recepção – autoriza o reconhecimento de que os tratados internacionais de direitos humanos possuem hierarquia constitucional (...)”8. Além disso, destacava, também, que, na dúvida de classificação e aplicação dos tratados humanos, sob a perspectiva hermenêutica, “valorizar-se-á o sistema de proteção aos direitos humanos (...)”9, conferindo, desta forma, força de norma constitucional. O Ministro Sepúlveda Pertence lembrou, em ocasião oportuna, que o egrégio Supremo estaria por refazer sua posição quando disse: “Temos decisões posteriores à ratificação do Pacto San José, insistindo na legitimidade da prisão”10. Inquestionavelmente um empecilho obstaria a solução do Ministro Gilmar Mendes: o pacto em questão, enquanto supralegal, está acima do Código Penal; contudo, ainda submete-se à Constituição (que autoriza a prisão do depositário infiel). Como, então, não o tornar inconstitucional? Isto é o que demonstra o próximo item deste trabalho, trazendo a solução do próprio ministro para o caso. 3. EFICÁCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXVII, DA CONSTITUIÇÃO Antes de verificar a argumentação para resolver o conflito do Pacto de São José da Costa Rica com a Constituição, é preciso observar a diferença entre vigência e eficácia. O tema não é moderno: a diferença entre vigência e eficácia encontrou grande teorização com o célebre Hans Kelsen. Este jurista (KELSEN, 2006) definia a vigência como a existência formal da lei dentro do ordenamento jurídico, enquanto que a eficácia era a existência fundada na aplicabilidade concreta das leis. Segundo ele: Como vigência da norma pertence à ordem do dever-ser e não à ordem do ser, deve também distinguir-se a vigência da norma da sua eficácia, isto é, do fato real de ela ser efetivamente aplicada e observada, da circunstância de uma conduta humana conforme a norma se verificar na ordem dos fatos11. Assim sendo, a vigência relaciona-se com o conflito normativo constitucional; já a eficácia, ao fiel cumprimento e vontade de aplicação normativa. Entretanto, é 8 HC n. 87.585/TO. Rel. Ministro Marco Aurélio de Mello, julgado no dia 03/12/2008, publicado no dia 26/06/2009. 9 Idem. 10 Idem. 11 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. p. 11. 163 A nova pirâmide jurídica: a prisão do depositário infiel vista pelo STF errado imaginar que basta a vigência para a norma ser válida; para isto, é necessário que, além de obedecer às exigências formais da lei, esta contenha, no mínimo, certa eficácia, de maneira que não seja letra morta válida tão somente na abstração. Este foi o fato atestado por Kelsen (2006): Uma norma que nunca e em parte alguma é aplicada e respeitada, isto é, uma norma que – como costuma dizer-se – não é eficaz em uma certa medida, não será considerada como norma válida (vigente)12. Já para Miguel Reale, a norma possui três elementos: validade formal ou técnico-jurídica (vigência), validade social (eficácia) e validade ética (fundamento da norma)13. A parte técnica formal da norma é definida por agente competente para legislar (e.g. norma federal), pela competência material (e.g. norma de trânsito), bem como pela legitimidade de procedimento (e.g. votação em quórum de 3/5)14. Cumpridos estes três pressupostos, a norma é válida no plano de vigência. Este insigne jurista brasileiro, embora de doutrina tridimensionalista, coadunou-se com Kelsen na importância da eficácia, dizendo de forma semelhante a ele: “O certo é, porém, que não há norma jurídica sem um mínimo de eficácia, de execução no seio do grupo”15. Quando se estudam normas, é preciso estar atento para ambos os elementos – os dois possuem igual importância para o jurista, obviamente que o sociólogo está mais próximo da eficácia na medida em que o jurista está da vigência; contudo, só por meio de um mutualismo científico pode-se estruturar a validade da norma. Perfazendo de maneira mais visualizável estas ideias defendidas por Reale e Kelsen, poder-se-ia estruturá-las no seguinte esquema: Vigência Validade formal Norma supostamente válida Norma válida Eficácia 12 Validade material KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. p. 12. REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. p. 105. 14 Ibidem, p. 110. 15 Ibidem, p. 113. 13 164 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 O caso aqui estudado, referente ao Pacto de São José da Costa Rica, é de matéria constitucional. Tais normas não costumam enfrentar problemas de vigência, vez que são de escalonamento mais alto; estando no topo da pirâmide jurídica, só podem conflitar com outras normas constitucionais. No plano constitucional, as normas possuem a máxima vigência (constituem o topo da pirâmide), porém apresentam diversos tipos de eficácia. Esta divisão dos tipos de eficácia não é matéria pacífica porquanto José Afonso da Silva, Celso Ribeiro Bastos e Maria Helena Diniz formularam teorias diferentes de classificação16. Insta dizer que a divisão de José Afonso da Silva (2002) é mais utilizada e conhecida, inclusive pelo Superior Tribunal Federal em julgamento do Mandado de Injunção n. 438-2-GO, publicado no DJU, em 16 de agosto de 199517. Esta divisão é feita da seguinte forma18: a) normas de eficácia plena: autoaplicáveis, efeitos imediatos; b) normas de eficácia limitada: sem eficácia até regulamentação infraconstitucional posterior; c) normas de eficácia contida: sujeitas às restrições de aplicabilidade por meio de norma infraconstitucional. Estas informações foram essenciais para o Supremo Tribunal Federal caracterizar a supralegalidade do Pacto de São José da Costa Rica sem gerar conflito com o artigo 5º, LVXII, da Constituição. Caracterizando o artigo 5º, LVXII, como norma de eficácia limitada, entendeu o Ministro Marco Aurélio de Mello que o legislador regulou a prisão civil do depositário infiel de forma permissiva e não vinculada, ou seja, permitiu à norma infraconstitucional tornar crime o depositário infiel, mas apenas se desejasse, pois é ato discricionário. O Pacto de São José agora proíbe tornar eficaz a prisão civil por meio do Código Penal; contudo, não proíbe a Constituição de autorizá-lo. A prisão do depositário é vigente na Constituição, mas sem eficácia por não contar com norma infraconstuticional que torne possível a pena. Sendo o Código Penal lei ordinária, o pacto proíbe os seus dispositivos contrários. 16 ARAUJO, Luiz Alberto David. Curso de Direito Constitucional. p. 18-24. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(4382. NUME.%20OU%204382.ACMS.)&base=baseAcordaos>. Acesso em: 23 de agosto de 2009. 18 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. Revista dos Tribunais, p. 89-91. 17 165 A nova pirâmide jurídica: a prisão do depositário infiel vista pelo STF Manifestou-se, neste sentido, o Ministro Marco Aurélio de Mello, valendose da teoria da eficácia das normas para que o Pacto de São José, mesmo estando abaixo da Constituição, tenha efeitos jurídicos plenos. Segundo ele: “(...) a Constituição Federal continua a prever a possibilidade (...). Só que esta norma, para ter eficácia e concretude, depende da regulamentação da prisão, inclusive quanto ao instrumental, para alcançar-se esta mesma prisão”19. O Ministro Celso de Mello, em análise hermenêutica da intenção do legislador, definiu que a eficácia infraconstitucional da pena é discricionária ao legislador: Na realidade, as exceções à cláusula vedatória da prisão civil por dívida devem ser compreendidas como um afastamento pontual da interdição constitucional dessa modalidade extraordinária de coerção, em ordem a facultar, ao legislador comum, a criação desse meio instrumental nos casos de inadimplemento voluntário e justificável de obrigação alimentar e de infidelidade depositária20. E também frisou, em concordância com o Ministro Marco Aurélio de Mello, que “(...) a regra inscrita no inciso LXVII do artigo 5º da Constituição não tem aplicabilidade direta, dependendo, ao contrário, da intervenção concretizadora do legislador (...)”21. Em síntese, o Pacto de São José não impede que a Constituição autorize, mas impede que norma ordinária torne aplicável a prisão, incidindo no momento em que o Código Penal concederia eficácia, e não quando a Constituição permitiu. Por estar acima da lei ordinária, o referido pacto tem poder de intervir na aplicação do Código Penal, mas jamais poderia fazer isto no texto constitucional. O procedimento ocorre, portanto, desta forma: Constituição Autoriza a prisão Norma ordinária (Código Penal) ○ ○ ○ ○ ○ Norma aplicável Pacto de São José Veta a eficácia infraconstitucional 19 HC n. 87.585/TO. Rel. Ministro Marco Aurélio de Mello, julgado no dia 03/12/2008, publicado no dia 26/06/2009. 20 Idem. 21 Idem. 166 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 4. A CONSEQUÊNCIA DO JULGAMENTO (NOVOS VALORES) Os direitos humanos, que já foram e ainda hoje são negados por muitos juristas, consistem numa destas questões tão complexas que retornam quando se presume já estarem superadas. Michel Villey, jurista francês, lutou arduamente contra o conceito de direito humano. Chegou até mesmo a dizer que “o aparecimento dos direitos humanos atesta a decomposição do conceito do direito”22. Mais adiante, confirmando esta posição, ressaltou-a com mais vigor, condenando: “Esses não juristas, que foram os inventores dos direitos humanos, sacrificaram-lhe a justiça, sacrificaram o direito”23. Desde os jusnaturalistas, há uma luta para listar os direitos inerentes do homem, aqueles que o acompanham enquanto ser existente, e não somente na qualidade de cidadão – valores que constituem a supremacia da racionalidade e do amor e preocupação ao próximo. O problema foi encontrar uma paridade de direitos: o homem não é o mesmo em todos os tempos e em todos os espaços. A ideia de normas transcendentais, que parecia uma falácia coberta por argumentos sofismáveis, sofreu inúmeras críticas de Kelsen: “Os seus representantes não proclamam um único Direito natural, mas vários Direitos naturais, muito diversos entre si e contraditórios uns com os outros”24. Cada vez mais, via-se a impossibilidade de atingir um direito do homem. Este é ser biologicamente constituído como tal, enquanto que o Direito apresenta maior interesse no cidadão, ou seja, no indivíduo juridicamente vinculado a algum preceito normativo. Alegou, de forma semelhante à Kelsen, o jurista francês Villey (2008): Ó medicamento admirável! – capaz de tudo curar, até as doenças que ele mesmo produziu! Manipulados por Hobbes, os direitos do homem são uma arma contra anarquia, para a instauração do absolutismo; por Locke, um remédio contra o absolutismo, para a instauração do liberalismo; quando se revelam os malefícios do liberalismo, foram a justificação dos regimes totalitários e dos hospitais psiquiátricos25. Talvez não existam os “direitos” humanos, mas valores internacionais existem, conforme o próprio Villey confessou26. Transformados em pactos, eles possuem uma maior aplicabilidade, são positivados, recebem eficácia e vigência no ordenamento. 22 VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. p. 163. Idem. p. 164. 24 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. p. 245. 25 VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. p. 162. 26 Ibidem. p. 94. 23 A nova pirâmide jurídica: a prisão do depositário infiel vista pelo STF 167 O Pacto de São José da Costa Rica trouxe para o Direito nacional novos valores que não só auxiliaram o constituinte (pois o pacto é anterior à Constituição), como também alterou toda a ideia clássica da pirâmide kelseniana. O Supremo Tribunal Federal convenceu-se da relevância do pacto em questão quando o escalonou em nível totalmente novo: a supralegalidade, em outras palavras, aquilo que não é constitucional por vigência, mas com tão grande eficácia axiológica que supera as leis comuns. Os instrumentos internacionais de direitos humanos demonstram iniciar o caminho indireto para o constitucionalismo mundial proposto por Luigi Ferrajoli (2007)27, célebre jurista italiano. Na medida em que constituições são revistas para melhor se adequarem aos valores formalizados pelos pactos, tem-se uma inversão na antiga ordem social: a sacramental soberania interna, que era comumente defendida no século XVIII, está enfraquecendo e cedendo espaço para uma soberania pactual-valorativa internacional. A prisão do depositário infiel gera muitas suscitações não apenas nas mais altas cortes, mas em todo o Judiciário nacional. A doutrina debruça sobre o tema: Álvaro Villaça Azevedo (1993), por exemplo, criticou a efetividade da prisão civil28, mesmo ressaltando o poder intimidatório que exerce. Em que pesem os benefícios advindos, a interpretação da Suprema Corte não foi totalmente recepcionada nos círculos acadêmicos. O jurista Ingo Wolfgang Scarlet, durante uma palestra do XXIX Congresso Brasileiro de Direito Constitucional, disse que: “A prevalência da Constituição possibilitaria a prisão. Nesse caso, o Supremo está afirmando a supraconstitucionalidade dos tratados”29. Este jurista acredita que o Supremo esvaziou o poder infraconstitucional, impedindo-o de receber um poder regulamentar que a Constituição emitiu. Disse, ainda, que esta decisão foi política porquanto o STF alargou a competência quando não tornou o pacto um dispositivo com força constitucional (permitindo ao STJ também julgar tais casos)30. Outros doutrinadores argumentam que a vedação do pacto não atinge todo tipo de depositário infiel, mas tão somente os oriundos de alienação fiduciária. De encontro a isso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu em ementa: “(...) 27 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. passim. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Prisão por dívida. p. 159-160. 29 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2009-jun-11/constitucionalista-questiona-proibicaoprisao-depositario-infiel>. Acesso em: 29 de setembro de 2009. 30 Idem. 28 168 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Porém, tendo o STF estendido a vedação constitucional à hipótese de infidelidade no deposito de bens, inclusive nos casos de alienação fiduciária (...)”31. Notadamente, ao valer-se da palavra “inclusive”, o Tribunal do Rio de Janeiro incluiu todos os casos de depósito infiel, e não apenas os de alienação fiduciária. A jurisprudência cada vez mais se mostra inclinada a aceitar a posição do STF, e o mesmo tribunal tornou explícita a concordância em outra ementa: Habeas Corpus. Decreto de prisão de depositário infiel. Inadimissibilidade. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Concessão da ordem32. A tendência é que, devido à grande aceitação do Pacto de São José, o Congresso convoque votação para conferir-lhe força constitucional, elevando ainda a importância dos pactos no Direito brasileiro e resolvendo de vez certa dúvidas que ainda existem. 5. CONCLUSÃO Em suma, O Pacto de São José foi mais do que recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro, ele foi valorizado, posto em posição extremamente vantajosa, ainda que não atinja o ápice da constitucionalidade. A decisão do acórdão conferiu grande aplicabilidade para os instrumentos internacionais, configurando verdadeira segurança jurídica para a assinatura destes. Além disto, reestruturou o escalonamento normativo, reavaliou os valores clássicos da jurisprudência e, até mesmo, refez o posicionamento da Suprema Corte. Não se pode, contudo, escusar-se de destacar os problemas que permanecem: se os tratados de direitos humanos são supralegais, qual é o critério para caracterizar um tratado como sendo de direito humano? Tal controle será feito de forma discricionária pelo Judiciário até que o Supremo defina-se sobre a matéria? É mesmo possível confirmar a existência de direitos humanos? Estaria o STF atestando que há jusnaturalismo, vez que aceita o termo “direitos humanos” e até utiliza-o? A questão propedêutica de o Direito provir da razão humana ou das normas estatais, ou melhor, do jusnaturalismo contra o positivismo não terminou e está longe de terminar. Contudo, é inegável perceber que o positivismo está perdendo a sua força, que possuía desde o início do século XX. 31 32 TJ-RJ. Apelação n. 2009.001.48179. Rel. Paulo Maurício Pereira. Julgado em 23/09/2009. TJ-RJ. HC n. 2009.144.00302. Rel. Antonio Carlos Esteves Torres. Julgado dia 13/10/2009. A nova pirâmide jurídica: a prisão do depositário infiel vista pelo STF 169 Os tempos hodiernos revelam que o constitucionalismo não é tão inflexível; aliás, sequer é sinônimo de normativismo. Os valores conduzem o Judiciário atual de tal forma que os pactos de direitos humanos receberam força superior à própria norma interna do país, àquela elaborada na Casa Legislativa do povo e dos Estados-membros. Há, de fato, a possibilidade de que, fortificando os valores comuns das nações, torna-se tangível uma norma mundial geral, uma constituição das constituições (nas linhas de Ferrajoli). Por certo que este é um tema futuro, mas o caminho já mostra sinais de possibilidade. REFERÊNCIAS ARAUJO, Luiz Alberto David & NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9. ed., rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2005. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Prisão civil por dívida. São Paulo: RT, 1993. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1998. FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Milenium, 2003. KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1997. REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27. ed., ajustado ao novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. ______. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. VILLEY, Michael. O Direito e os direitos humanos. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 170 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Anotações Exegese sobre a “relativização” da coisa julgada: o que há por trás desta tendência? 171 12 Exegese sobre a “relativização” da coisa julgada: o que há por trás desta tendência? Exegesis about the “relativization” of res judicata: what’s behind this tendency? JOSÉ NADIM DE LAZARI Advogado; mestrando em Direito, pelo Centro Universitário Eurípedes de Marília/SP – Univem; pesquisador do Grupo de Iniciação Científica “Novas Perspectivas no Processo de Conhecimento”, sob orientação do Prof. Dr. Gelson Amaro de Souza. E-mail para correspondência: [email protected]. GELSON AMARO DE SOUZA Procurador do Estado de São Paulo aposentado; mestre em Direito, pela Instituição Toledo de Ensino – ITE, de Bauru, São Paulo; doutor em Direito das Relações Sociais – com área de concentraçã o em Direito Processual Civil–, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP; integrado ao corpo docente do Mestrado em Direito e na graduação em Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná – Uenp; ex-diretor e atual professor dos cursos de graduação e pósgraduação em Direito, das Faculdades Integradas “Antônio Eufrásio de Toledo” de Presidente Prudente – Fiaetpp, São Paulo. Leciona também na graduação das Faculdades Adamantinenses Integradas – FAI, de Adamantina, São Paulo; é professor convidado da Escola Superior de Advocacia – ESA, de São Paulo e da pós-graduação das Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO, São Paulo, da Escola Superior de Direito de Mato Grosso – Esud, de Cuiabá, e das Faculdades Integradas de Três Lagoas – Aems, Mato Grosso do Sul; advogado militante em Presidente Prudente, São Paulo. E-mail para correspondência: [email protected]. RESUMO Por intermédio dos métodos lógico e dedutivo, o presente ensaio trata da relativização da coisa julgada e de seus desdobramentos na esfera constitucional da segurança jurídica. Isto porque se mostra como medida plausível e consciente saber até que ponto tal instituto pode ser mitigado em prol do anseio por um pronunciamento não ofensivo aos ditames da justiça e da constitucionalidade. Palavras-chave: coisa julgada, relativização, segurança jurídica, inconstitucionalidade, injustiça. 172 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 ABSTRACT Through logical and deductive methods, this essay discusses the relativization of the res judicata and its consequences to legal security. In this sense, will compare reviews favorable and contrary about the application this institutes. Keywords: res judicata, relativization, legal security, unconstitutionality, injustice. 1. LINHAS PREAMBULARES O homem é fruto da sua contradição. Ao passo que se perfilha a proposições benéficas que lhe são judicialmente reconhecidas, inclusive invocando-as e valendose de tais como “escudo protetor” ante a possibilidade de sua ofensa (como deve ser, na verdade), busca incansavelmente desconstituir o que lhe é desfavorável, mesmo que isso importe negar o que outrora já foi absolutamente revestido de imutabilidade a bem de outrem. Sem circunlóquios, é assim que funciona com a coisa julgada e sua relativização: após um dilatado período de batalhas nos tribunais, através das querelas judiciais e da “guerra de nervos” que apelações, agravos, embargos etc. proporcionam, o “combatente” se vê diante de um pronunciamento judicial que encerra a lide e proclama a “paz entre as partes”. Todavia, mesmo após o “fechar das cortinas”, mas antes ainda do “apagar das luzes”, há a possibilidade de “atos extras” que desconstituam a res judicata – quais sejam: a ação rescisória, nos termos dos artigos 485 e seguintes do Código de Processo Civil; a impugnação (ou embargos) sobre título judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, com base no artigo 475-L, parágrafo 1º, e artigo 741, parágrafo único, da Lei Adjetiva; e a possibilidade de revisão da coisa julgada por denúncia de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos, formulada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos1 – para que o vencedor possa, enfim, tranquilizar-se acerca da decisão proferida. Então, suplantados todos os entreveros, quando menos se espera, acena-se pela possibilidade de injustiça ou inconstitucionalidade em um julgamento e surge a proposta de “relativizar” a coisa julgada por meios não convencionais, porém lícitos. 1 Acrescentou-se às duas convencionais modalidades de desconstituição da coisa julgada esta terceira modalidade, lembrada por Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (2008: 579). Exegese sobre a “relativização” da coisa julgada: o que há por trás desta tendência? 173 Quando se fala em decisão “inconstitucional”, parece clarividente que faz alusão àquela que fere os ditames da Lei Max brasileira. Mas, quando se fala em decisão injusta, o que seria ela afinal? Sintetizando e “relativizando” uma definição – assim como se quer relativizar a coisa julgada –, uma decisão injusta seria aquela que não atende aos anseios de um indivíduo, embora ela seja justa para outro, que propôs uma ação contra o primeiro e obteve êxito. Ademais, falar em “relativização da coisa julgada” remonta à nominação questionável: afinal, ou “é” ou “não é” coisa julgada; e não “pode ser” coisa julgada2. Até mesmo porque “relativizar” a coisa julgada é inviabilizar, de plano, a segurança jurídica que uma decisão imutável proporciona. Ao que parece, este “sopro processual nos ouvidos ansiosos por novidades” acompanha a moda de relativizar tudo, seguindo a ideia “einsteniana” de que tudo no mundo é relativo. Nem tudo é relativo, contudo. É com base na questão envolvendo a segurança jurídica ao ordenamento material-processual, bem como atentando a uma suposta “mitigação” deste instituto, que este ensaio quer se debruçar sobre a matéria. 2. DA COISA JULGADA MATERIAL E A QUESTÃO ENVOLVENDO A SEGURANÇA JURÍDICA Preceitua o artigo 467 do Código de Processo Civil acerca da coisa julgada substancial, espécie de coisa julgada que interessa a bem da formulação deste ensaio: “Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. Como bem se vê, trata-se da hipótese em que foi proferida, nos autos, decisão definitiva, nos termos do artigo 269 do Diploma Processual, e contra este pronunciamento não mais cabe qualquer tipo de recurso que permita a manifestação da parte irresignada. 2 É importante deixar no papel, para efeitos de análise e crítica à nominação “relativização da coisa julgada”, a opinião, diferente e complementar àquela formulada pelo autor desta exegese, de José Carlos Barbosa Moreira (2008: 225): “É que, quando se afirma que algo deve ser ‘relativizado’, logicamente se dá a entender que se está enxergando nesse algo um absoluto: não faz sentido que se pretenda ‘relativizar’ o que já é relativo. Ora, até a mais superficial mirada ao ordenamento jurídico brasileiro mostra que nele está longe de ser absoluto o valor da coisa julgada material: para nos cingirmos, de caso pensado, aos dois exemplos mais ostensivos, eis aí, no campo civil, a ação rescisória e, no penal, a revisão criminal, destinadas ambas, primariamente, à eliminação da coisa julgada. O que se pode querer – e é o que no fundo se quer, com dicção imperfeita – é a ampliação do terreno ‘relativizado’, o alargamento dos limites da ‘relativização’”. 174 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Melhor explicando-a, asseverou Câmara (2004: 469): Por tal motivo, as sentenças definitivas, as quais contêm resolução do objeto do processo [...], devem alcançar também a coisa julgada material (ou substancial). Esta consiste na imutabilidade e indiscutibilidade do conteúdo (declaratório, constitutivo, condenatório) da sentença de mérito, e produz efeitos para fora do processo. Formada esta, não poderá a mesma matéria ser novamente discutida, em nenhum outro processo. “Imutabilidade” e “indiscutibilidade”. São estas as duas palavras-chave pelas quais tanto se almeja quando se ingressa numa peleja judicial, as quais estão contidas no universo constitucional da chamada “segurança jurídica”, nobre axioma alçado à esfera de cláusula pétrea no 36º inciso do artigo 5º da Constituição Federal pátria, e que expressamente trata, em seu terceiro item, da “coisa julgada”3. Neste prumo, conveio a Didier Jr., Braga & Oliveira (2008: 552) conciliar o instituto da coisa julgada com a questão envolvendo a segurança jurídica: A coisa julgada é instituto jurídico que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, assegurado em todo Estado Democrático de Direito, encontrando consagração expressa, em nosso ordenamento, no artigo 5º, XXXVI, da CF. Garante ao jurisdicionado que a decisão final dada à sua demanda será definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada – seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário4 (grifou-se). Entretanto, em que pese o status de “porto seguro” adquirido pela res judicata ao longo dos tempos, o que permitiu sua acoplagem ao princípio da segurança jurídica num “casamento” perfeito, parece haver uma temerária tendência em desconsiderá-la como tal, em razão de possíveis decisões injustas ou inconstitucionais cristalizadas, o que teria colocado em xeque a soberania da coisa julgada. 3 “Artigo 5º: [...] XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (grifou-se). Fica clarividente, pois, que a Carta de 1988 recepcionou o parágrafo 3º do artigo 6º do Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), o qual prevê: “Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba mais recurso”. Assim, apesar de sua definição se dar no plano infraconstitucional (tanto no CPC como na LICC), a essência da res judicata encontra-se “petrificada” no quinto artigo da Constituição Federal, o que lhe garante a condição de direito fundamental explícito. 4 Também relacionando a coisa julgada ao princípio da segurança jurídica, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina (2003: 21) definiram a res judicata como um “[...] instituto cuja função é a de estender ou projetar os efeitos da sentença indefinidamente para o futuro. Com isso, pretende-se zelar pela segurança extrínseca das relações jurídicas, de certo modo em complementação ao instituto da preclusão, cuja função primordial é garantir a segurança intrínseca do processo, pois que assegura a irreversibilidade das situações jurídicas cristalizadas endoprocessualmente” (grifou-se). Exegese sobre a “relativização” da coisa julgada: o que há por trás desta tendência? 175 Acerca deste processo de “desconsideração”, bem observou Baptista da Silva (2008: 307): Vivemos um tempo singular, que alguém qualificou de a “era da incerteza”. [...] As coisas que pareciam perenes, mesmo as coisas sagradas, ou aquelas tidas como naturais, como a família, acabam desfazendo-se ante a voracidade das transformações culturais. [...] Neste quadro natural, não deve surpreender que a instituição da coisa julgada, tida como sagrada na “primeira modernidade”, entre em declínio5. Em verdade, tal posicionamento tem se tornado crescente em razão de um “processo de esquecimento” acerca da real função da coisa julgada, qual seja, a de fornecedora de “garantia de segurança”, e não de “justiça”, como idealizam os “relativizadores”. Neste diapasão, coube a Didier Jr., Braga & Oliveira (2008: 552) fazer tal distinção: A coisa julgada não é instrumento de justiça, frise-se. Não assegura a justiça das decisões. É, isso sim, garantia da segurança, ao impor a definitividade da solução judicial acerca da situação jurídica que lhe foi submetida (grifou-se). Sublinham-se, na citação supra, as assertivas de que “[...] a coisa julgada não assegura a justiça [...]”, mas sim “[...] a garantia da segurança das decisões”. Neste prumo, convém dissecar a frase para melhor entendê-la: com relação à primeira afirmativa, há que se considerar que o conceito de “justiça” é demasiadamente complexo para uma definição final e objetiva. Há um pluralismo de fatores que a norteiam, mas, de certa forma, todos eles estão ligados à questão da vulnerabilidade humana a possíveis falhas que possam transformar o justo em injusto num “piscar de olhos”6. Assim, às vezes, diante de um deslize do litigante 5 Na mesma direção, Eduardo Talamini (2005: 61) tratou este processo mitigatório como um “ciclo natural das coisas”, ao afirmar que: “A íntima vinculação entre coisa julgada e o princípio da segurança jurídica comporta ainda outra indagação. Trata-se de saber em que medida a própria segurança jurídica, no Estado moderno, não teria perdido seu relevo sistemático em prol de outros valores – hipótese em que a coisa julgada poderia ter tido o mesmo destino”. 6 Tal asserção encontra guarida nas palavras de Donaldo Armelin (2008: 99). Veja-se: “A desarmonia entre a decisão judicial transitada em julgado e o valor Justiça pode ocorrer em razão de várias circunstâncias. Algumas podem ser suscitadas por serem consideravelmente mais frequentes e podem ser reconhecidas, tal como supra examinado, até mesmo no rol das hipóteses de cabimento da ação rescisória de sentença. São elas: (a) o erro, dolo ou fraude do órgão judicante; (b) a fraude da parte ou dos órgãos auxiliares da Justiça; (c) o erro ou a inércia da parte no seu desempenho processual, nisso compreendido o erro, dolo ou omissão de seu representante técnico; (d) a evolução do estado da técnica, em se tratando de meio de prova; (e) má aplicação do direito à espécie sub judice”. Observa-se, portanto, que as causas enumeradas pelo ilustre doutrinador como capazes de influir no resultado de uma decisão, e que são, segundo ele, “consideravelmente mais frequentes”; amoldam-se à questão da vulnerabilidade do homem a possíveis falhas, sejam elas acidentais, intencionais, ou até mesmo inevitáveis, como é o caso do item “d”, acima elencado. 176 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 em sua empreitada na busca pela verdade, como a ausência de um documento ou a perda de um prazo, o Estado-juiz profere decisão que não reflete o real direito daquele, mas, mesmo assim, esta decisão terá sido justa, vez que um pronunciamento final deve estar isento de benevolências ou malevolências quanto à falha que o ensejou; caso contrário, estar-se-ia manchando a imparcialidade do órgão julgador. Da mesma maneira, a injustiça pode advir do outro lado. A título ilustrativo, a falibilidade pode se dar na figura de um médico que não consegue salvar seu paciente mesmo na mais corriqueira das cirurgias. Às vezes, pode se dar na pessoa de um alpinista que falha em sua empreitada ao cume de uma montanha. E como não podia deixar de ser, ela também pode se dar na figura de um magistrado que peca em sua decisão, proferindo-a contra a forma ou contra matéria dispositiva. Em ambos os casos, em não sendo percebido o vício, o pronunciamento proferido pelo juiz pode convalidar caso se esgote a via recursal ou a via de ação (leiase ação rescisória). Verifica-se, assim, que mesmo uma sentença eivada de vícios pode fazer coisa julgada. Por isso, diz-se que a coisa julgada não assegura a justiça. Já com relação à segunda afirmativa, começa-se a explicá-la com um questionamento: afinal, o que a coisa julgada objetiva garantir então? Com efeito, a coisa julgada vem oferecer respaldo à segurança jurídica das partes, de maneira que visa a evitar o desrespeito a um pronunciamento judicial. Assim, se o pronunciamento é injusto e já está cristalizado, que se valham as partes dos típicos meios processuais desconstituidores da coisa julgada já enumerados no primeiro capítulo deste ensaio. Por fim, para reforçar a necessidade de manutenção da soberania da res judicata, insta acrescentar que a coisa julgada não é somente questão de segurança jurídica às partes; é também instrumento de manutenção da supremacia do Judiciário como poder solucionador de conflitos, como bem observou Barbosa Moreira (2008: 233): A estabilidade das decisões é condição essencial para que possam os jurisdicionados confiar na seriedade e na eficiência da máquina judicial. Todos precisam saber que, se um dia houverem de recorrer a ela, seu pronunciamento terá algo mais que o fugidio perfil nas nuvens. Sem essa confiança, crescerá fatalmente nos que se julguem lesados a tentação de reagir por seus próprios meios, à margem dos canais oficiais. Escusado sublinhar o dano que isso causará à tranquilidade social. Sob este ângulo, pode-se dizer que a coisa julgada é o “carimbo” que confere o rótulo de “obrigatório” ao pronunciamento concluso; caso contrário, a peleja terá sido em vão. Exegese sobre a “relativização” da coisa julgada: o que há por trás desta tendência? 177 Desta forma, as três modalidades revisoras da coisa julgada que foram singelamente citadas no capítulo anterior, na qualidade de medidas excepcionais que são, não visam a comprovar a fragilidade da res judicata, mas sim o compromisso que o Judiciário assume de tentar ser o mais perfeito possível quando de sua resposta jurisdicional. Logo, se fosse possível sintetizar todos os parágrafos acima em um só, poder-se-ia dizer que a coisa julgada não guarda qualquer relação com a justiça, embora seja esse seu objetivo. Quanto à segurança jurídica, contudo, ambas são absolutamente interdependentes. Assim, quando se fala na abstratização da coisa julgada, isto se dá pelo lapso memorial de que o compromisso da coisa julgada é com a segurança jurídica, e não com a justiça. 3. DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA: INADMISSIBILIDADE OU PERTINÊNCIA? Como bem dito anteriormente, ao longo dos tempos a coisa julgada edificouse sobre as pilastras da segurança jurídica às partes e ao processo. Trata-se de ícone absoluto, imperioso, de maneira que, ao contrário do que se pensa, os três institutos revisores vistos no primeiro capítulo não são a possibilidade de mitigá-lo, mas sim de preservá-lo soberano. Doutrinariamente, contudo, há quem transpasse a tríade reformuladora da res judicata, abrindo uma “cláusula geral de revisão”, a qual proporciona que a decisão judicial jamais se solidifique quando injusta ou inconstitucional. Esta proposta apregoa a possibilidade atemporal de reaver uma decisão, portanto, por meios que não os processualmente reconhecidos. Trata-se da “relativização da coisa julgada atípica”. Adepto da possibilidade de desconstituição em havendo dissonância com a Lei Max pátria, Nascimento (2003: 13) propôs o “banimento” da sentença cristalizada com essa qualidade, por intermédio da decretação de sua nulidade, conforme se pode observar: A coisa julgada é intocável, tanto quanto os atos executivos e legislativos, se, na sua essência, não desbordar do vínculo que deve se estabelecer entre ela e o texto constitucional, numa relação de compatibilidade para que possa revestirse de eficácia e, assim, existir sem que contra a mesma se oponha qualquer mácula de nulidade. Essa conformação de constitucionalidade tem pertinência, na medida em que não se pode descartar o controle do ato jurisdicional, sob pena de perpetuação de injustiças. Por esse motivo, nula é a sentença que não se adequa ao princípio da constitucionalidade, porquanto impregnada de carga lesiva à ordem jurídica. Impõe, desse modo, sua eliminação do universo processual com vistas a restabelecer o primado da legalidade. Assim, não havendo a possibilidade de sua substituição no mundo dos fatos e das ideias, deve ser decretada sua irremediável nulidade (grifou-se). 178 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Por sua vez, Delgado (2003: 46) foi fenomenológico ao defender a possibilidade de abstratização. Veja-se: O avanço das relações econômicas, a intensa litigiosidade do cidadão com o Estado e com o seu semelhante, o crescimento da corrupção, a instabilidade das instituições e a necessidade de se fazer cumprir o império de um Estado de Direito centrado no cumprimento da Constituição que o rege e das leis com ela compatíveis, a necessidade de um atuar ético por todas as instituições políticas, jurídicas, financeiras e sociais, tudo isso submetido ao controle do Poder Judiciário, quando convocado para solucionar conflitos daí decorrentes, são fatores que têm feito surgir uma grande preocupação, na atualidade, com o fenômeno produzido por sentenças injustas, por decisões que violam o círculo da moralidade e os limites da legalidade, que afrontam princípios da Magna Carta e que teimam em desconhecer o estado natural das coisas e das relações entre os homens. A sublimação dada pela doutrina à coisa julgada, em face dos fenômenos instáveis supracitados, não pode espelhar a força absoluta que lhe tem sido dada, sob o único argumento (sic) que há de se fazer valer o império da segurança jurídica. Valendo-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a mitigação da segurança jurídica e, consequentemente, da res judicata, asseveraram Theodoro Júnior e Cordeiro de Faria (2003: 112): Não há de se objetar que a dispensa dos prazos decadenciais e prescricionais na espécie poderia comprometer o princípio da segurança das relações jurídicas. Para contornar o inconveniente em questão, nos casos em que se manifeste relevante interesse na preservação da segurança, bastará recorrer-se ao salutar princípio constitucional da razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, o Tribunal, ao declarar a inconstitucionalidade do ato judicial, poderá fazê-lo com eficácia ex nunc, preservando os efeitos já produzidos como, aliás, é comum no direito europeu em relação às declarações de inconstitucionalidade. Em posição intermediária, Freitas Câmara (2008: 32) perfilhou-se à possibilidade de abstratização, sobretudo quando a questão relacionar-se à inconstitucionalidade (e não à injustiça) da decisão, formulando uma espécie de “relativização condicional da coisa julgada”: É, pois, possível relativizar a coisa julgada, afastando-a, sempre que o conteúdo da sentença firme contrariar norma constitucional. Deste modo, não havendo qualquer fundamento constitucional para impugnação da sentença transitada em julgado, será impossível relativizar-se a coisa julgada material, podendo esta ser afastada apenas nos casos previstos em lei como geradores de rescindibilidade (artigo 485 do Código de Processo Civil), no prazo e pela forma legais (grifou-se). Exegese sobre a “relativização” da coisa julgada: o que há por trás desta tendência? 179 No extremo oposto, há aqueles que pendem pela inaceitabilidade da abstratização da res judicata. Assim, contrariamente à hipótese de relativização da coisa julgada pela utilização de instrumentos metajurídicos, podem-se utilizar os argumentos de Marinoni (2008: 282-283): A “tese da relativização” contrapõe a coisa julgada material ao valor justiça, mas surpreendentemente não diz o que entende por “justiça” e sequer busca amparo em das modernas contribuições da filosofia do direito sobre o tema. Aparentemente parte de uma noção de justiça como senso comum, capaz de ser descoberto por qualquer cidadão médio (l’uomo della strada), o que torna imprestável ao seu propósito, por sofrer de evidente inconsistência [...]. O problema da falta de justiça não aflige apenas o sistema jurídico. Outros sistemas sociais apresentam injustiças gritantes, mas é equivocado, em qualquer lugar, destruir alicerces quando não se pode propor uma base melhor ou mais sólida. Por sua vez, Nery Júnior (2006: 598) implodiu a ideia de desconstituição da coisa julgada por uma suposta causa maior, qual seja, a inquebrantabilidade da Constituição Federal, ao alegar que: A supremacia da Constituição é a própria coisa julgada, enquanto manifestação do Estado Democrático de Direito, fundamento da República (CF, 1º caput), não sendo princípio que possa opor-se à coisa julgada como se esta estivesse abaixo de qualquer outro instituto constitucional. Quando se fala na intangibilidade da coisa julgada, não se deve dar ao instituto tratamento jurídico inferior, de mera figura do processo civil, regulada por lei ordinária, mas, ao contrário, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada com a magnitude constitucional que lhe é própria, ou seja, de elemento formador do Estado Democrático de Direito, que não pode ser apequenado por conta de algumas situações, velhas conhecidas da doutrina e da jurisprudência [...]. Sem extremismos, mas não menos legalista, Santos Lucon (2008: 345) partiu para um interessante posicionamento, qual seja: [...] é o caso de se ampliar casos para a ação rescisória. No caso de descoberta científica apta a demonstrar o erro na solução dada ao caso concreto quando era impossível valer-se de determinada prova, seria o caso de admitir a ação rescisória a partir do momento em que o interessado obtém o laudo, em vez do trânsito em julgado da sentença rescindenda (grifou-se)7. 7 A opinião do autor em muito se assemelha à do processualista José Maria Rosa Tesheiner (<http:/ /www.tex.pro.br/wwwroot/33de020302/relativizacaodacoisajulgada.htm>. Acesso em: 21/10/2003), segundo Alexandre Freitas Câmara (2008: 27), o qual afirmou, em análise às palavras de Tesheiner, que “[...] há um tendência, bem moderna, de desdenhar, senão de eliminar o instituto da coisa julgada”. Sustentou o autor, então, que o melhor seria, para os casos – relativamente raros – de sentenças “objetivamente desarrazoadas”, abrir-se a possibilidade de sua rescisão a qualquer tempo. 180 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Ademais, jurisprudencialmente, a questão está longe de ser pacificada. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido tanto pela possibilidade como pela vedação à abstratização da coisa julgada, senão veja-se: Processual civil. Recurso especial. dúvidas sobre a titularidade de bem imóvel indenizado em ação de desapropriação indireta com sentença transitada em julgado. Princípio da justa indenização. Relativização da coisa julgada. 1. Hipótese em que foi determinada a suspensão do levantamento da última parcela do precatório (artigo 33 do ADCT), para a realização de uma nova perícia na execução de sentença proferida em ação de desapropriação indireta já transitada em julgado, com vistas à apuração de divergências quanto à localização da área indiretamente expropriada, à possível existência de nove superposições de áreas de terceiros naquela, algumas delas objeto de outras ações de desapropriação, e à existência de terras devolutas dentro da área em questão. 2. Segundo a teoria da relativização da coisa julgada, haverá situações em que a própria sentença, por conter vícios insanáveis, será considerada inexistente juridicamente. Se a sentença sequer existe no mundo jurídico, não poderá ser reconhecida como tal, e, por esse motivo, nunca transitará em julgado. 3. “A coisa julgada, enquanto fenômeno decorrente de princípio ligado ao Estado Democrático de Direito, convive com outros princípios fundamentais igualmente pertinentes. Ademais, como todos os atos oriundos do Estado, também a coisa julgada se formará se presentes pressupostos legalmente estabelecidos. Ausentes estes, de duas, uma: (a) ou a decisão não ficará acobertada pela coisa julgada, ou (b) embora suscetível de ser atingida pela coisa julgada, a decisão poderá, ainda assim, ser revista pelo próprio Estado, desde que presentes motivos preestabele- E concluiu: “O que absolutamente não pode prevalecer é a ideia de que possa qualquer juiz ou tribunal desrespeitar a coisa julgada decorrente de decisão proferida por outro órgão judiciário, de igual ou superior hierarquia, a pretexto de sua nulidade ou erronia”. Já José Carlos Barbosa Moreira (2008: 248) não entendeu que seja o caso de se “ampliar as hipóteses de ação rescisória”. Contudo, o autor debruçou-se especialmente sobre a questão da precisão técnica que se consubstancia quando já há pronunciamento consolidado e afirmou: “O mais importante, ao menos do ponto de vista prático, é o da descoberta científica suscetível de demonstrar a erronia da solução dada anteriormente ao litígio, em época na qual não era possível contar com determinada prova. Para a hipótese do exame de DNA, como registrado, a jurisprudência já vem atenuando, por via interpretativa, o rigor do texto do Código (artigo 485, VII), para admitir a rescisória com fundamento no laudo pericial, incluído no conceito de ‘documento novo’. O socorro hermenêutico tem, contudo, alcance limitado: não serve para o caso de já haver decorrido o biênio decadencial (artigo 495) quando da realização do exame. Atenta a relevância da matéria, julgamos conveniente modificar aí a disciplina, não para abolir o pressuposto temporal – pois, com a ressalva que se fará adiante, relutamos em deixar a coisa julgada, indefinidamente, a mercê de impugnações -, mas para fixar o termo inicial do prazo no dia em que o interessado obtém o laudo, em vez do trânsito em julgado da sentença rescidenda” (grifou-se). Exegese sobre a “relativização” da coisa julgada: o que há por trás desta tendência? 181 cidos na norma jurídica, adequadamente interpretada.” (WAMBIER, Tereza Arruda Alvim & MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 25). 4. “A escolha dos caminhos adequados à infringência da coisa julgada em cada caso concreto é um problema bem menor e de solução não muito difícil, a partir de quando se aceite a tese da relativização dessa autoridade – esse, sim, o problema central, polêmico e de extraordinária magnitude sistemática, como procurei demonstrar. Tomo a liberdade de tomar à lição de Pontes de Miranda e do leque de possibilidades que sugere, como: (a) a propositura de nova demanda igual à primeira, desconsiderada a coisa julgada; (b) a resistência à execução, por meio de embargos a ela ou mediante alegações incidentes ao próprio processo executivo; e (c) a alegação incidenter tantum em algum outro processo, inclusive em peças defensivas.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Coisa julgada inconstitucional Coordenador Carlos Valder do Nascimento. 2. ed.. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. p. 63-65). 5. Verifica-se, portanto, que a desconstituição da coisa julgada pode ser perseguida até mesmo por intermédio de alegações incidentes ao próprio processo executivo, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 6. Não se está afirmando aqui que não tenha havido coisa julgada em relação à titularidade do imóvel e ao valor da indenização fixada no processo de conhecimento, mas que determinadas decisões judiciais, por conter vícios insanáveis, nunca transitam em julgado. Caberá à perícia técnica, cuja realização foi determinada pelas instâncias ordinárias, demonstrar se tais vícios estão ou não presentes no caso dos autos. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 622.405/SP. Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 14/08/2007, DJ 20/09/2007, p. 221) – cabimento. Agravo regimental. Recurso especial. Precatório complementar. Juros moratórios. Incidência até o depósito da integralidade da dívida. Coisa julgada. Relativização da coisa julgada. Não aplicação. I – Havendo expressa determinação na sentença exequenda, já transitada em julgado, da inclusão dos juros moratórios no precatório complementar, não há mais espaço para discussão sobre os referidos juros, em virtude do princípio da coisa julgada. II – Esta c. Corte entende que estão fora do alcance do parágrafo único do artigo 741 do CPC as sentenças transitadas em julgado anteriormente a sua vigência, ainda que eivadas de inconstitucionalidade. Precedente (EREsp n. 806.407/RS, DJU de 14/4/2008). Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1012068/RS. Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/06/2008, DJe 04/08/2008.) 182 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Postos todos os posicionamentos, em que pese o tecnicismo em exteriorizálos aos olhos do leitor, aquele que veda incondicionalmente o fenômeno da abstratização é o que deve prosperar. Com efeito, desconsiderar a coisa julgada “inconstitucional” ou “injusta” parece uma fidalga tentativa a princípio, mas cuja boa vontade dos que a defendem não sopesa uma consequência temerária em segundo instante. Isto porque, se há uma decisão inconstitucional, como “último suspiro” do litigante inconformado, há a possibilidade de recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, de modo que, se por algum motivo não houver tal possibilidade, é porque a decisão não é de fato inconstitucional ou a parte não foi capaz de utilizar em seu “leque de cartas” o recurso extraordinário por desídia própria. Desta forma, desconsiderar atipicamente a res judicata inconstitucional não seria a “atividade saneadora ao julgado aviltante”, como se subintitula a relativização, mas sim um prêmio à incompetência daquele que esteve diante de uma suposta decisão inconstitucional e, quando realmente pôde, nada fez. É mais fácil jogar a culpa no Judiciário. Ou, ainda, alegar-se-ia que mesmo o STF, guardião da Constituição pátria, pode equivocar-se em seu posicionamento? Porque, se afirmativa a resposta, pode-se dizer que o povo estará diante de uma grave situação: nem mais na mais alta cúpula judicial do País poder-se-á confiar nas palavras de um pronunciamento final. Por outro lado, o ato de abstratizar uma decisão injusta se daria meramente por motivos metajurídicos, principiológicos, fenomenológicos ou, simplesmente, não legislados; ao passo que, caso se modificasse a decisão antes cristalizada, a injustiça ficaria “trocando de lado” infindavelmente; ou alguém discorda de que, se for possível relativizar a coisa julgada uma vez, este mesmo pronunciamento relativizado não poderá sê-lo novamente, e novamente, enquanto houver argumentos das partes? Com maestria, sobre a questão opinou Barbosa Moreira (2008: 245-246): Suponhamos que um juiz, convencido da incompatibilidade entre certa sentença e a Constituição, ou da existência, naquela, de injustiça intolerável, se considere autorizado a decidir em sentido contrário. Fatalmente sua própria sentença ficará sujeita à crítica da parte agora vencida, a qual não deixará de considerála, por sua vez, inconstitucional ou intoleravelmente injusta. Pergunta-se: que impedirá esse litigante de impugnar em juízo a segunda sentença, e outro juiz de achar possível submetê-la ao crivo de seu próprio entendimento? O óbice concebível seria o da coisa julgada; mas, se ele pôde ser afastado com relação à primeira sentença, por que não poderá sê-lo quanto à segunda? É claro que a indagação não se porá uma única vez: a questão poderá repetir-se, em princípio, ad infinitum, enquanto a imaginação dos advogados for capaz de descobrir inconstitucionalidades ou injustiças intoleráveis nas sucessivas sentenças (grifou-se). Exegese sobre a “relativização” da coisa julgada: o que há por trás desta tendência? 183 Ademais, “abrir” o artigo 485 do Código de Processo Civil a novos incisos, contrariando sua condição de numerus clausus, pode tornar a ação rescisória mais um “recurso” da parte derrotada contra o que lhe é desfavorável, e não é esse seu objetivo. Pode-se observar que o artigo 485 é situacional, e apenas para situações esporádicas que eventualmente possam ocorrer. Assim, a única modificação que este autor entende plausível, reiterando as palavras do brilhante doutrinador José Carlos Barbosa Moreira, é admitir, no caso da precisão técnica que somente se torna possível após já existir decisão consolidada, que o prazo da rescisória seja contado a partir da obtenção desse laudo “saneador”. A modificação, portanto, seria no artigo 495, e não no artigo 485 do Diploma Adjetivo. Em epítome, admitir a ação rescisória contra decisões “injustas” ou “inconstitucionais” a transformaria em mais um “recurso” (se é que assim se pode dizer) relutante e/ou meramente protelatório, ou seja, a título ilustrativo, admite-se a modificação da coisa julgada injusta ou inconstitucional no artigo 485 do CPC, e quando acabarem as armas da parte perdedora, ainda lhe sobrará a ação rescisória como chance derradeira. Isto é, senão arriscado demais à supremacia do Judiciário como poder, mais um duro golpe na luta da Justiça pelo processo civil teleológico e contra a morosidade processual. 4. LINHAS DERRADEIRAS Por todo o explanado, apesar da demonstração de posicionamentos diversos (o da possibilidade irrestrita de relativização, o da possibilidade da relativização somente ante um pronunciamento inconstitucional, o pendor pela inclusão de novos incisos no artigo 485 do Código de Processo Civil, e o que defende a vedação absoluta às hipóteses de relativização), perfilha-se este autor ao último posicionamento. Isto porque, em primeiro lugar, do contrário, fica a impressão da possibilidade de criação de um “mecanismo revisor amplíssimo”. Ora, em observando tal hipótese, verifica-se a existência de uma situação espectral: a coisa julgada, antes atributo de tranquilidade (em regra) ao litigante vencedor e de resignação ao perdedor, perderia este efeito diante da possibilidade de desconstituição. Em que pesem as melhores intenções dos que a defendem, parece um tanto abstrata sua admissão no ordenamento jurídico. Fala-se hodiernamente em “processo civil teleológico (ou finalístico)” e em “função social do processo”, de maneira que, pelo primeiro, deve-se zelar pela evicção de protelações desnecessárias e por um resultado o mais próximo possível do status quo ante; e pela “função social”, temse que é preciso observar a condução do processo da maneira mais equânime 184 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 possível. Falar em flexibilização da coisa julgada parece, por critério de exclusão, mais próximo do segundo item, ou seja, os valores “celeridade processual” e “segurança pelo resultado” são substituídos pelo valor “justiça social”. Contudo, a ideia da função social deve ser acoplada ao processo civil de resultado, para que ambos sejam interpretados harmoniosamente. Do contrário, admitir o casualismo da coisa julgada pode levar à seguinte situação: revisa-se a decisão transitada em julgado por ela ter ferido o princípio da razoabilidade, por exemplo, mas fere-se a ideia contemporânea do processo civil teleológico, vez que mesmo o resultado, pelo qual tanto se busca, não é mais absoluto. Ademais, valer-se de elementos fenomenológicos e “empossá-los” na condição de desestruturadores da res judicata pode ser arriscado, vez que, por não estarem previstos em codificação alguma, são passíveis de interpretações diversas, e nem sempre a diversidade é positiva. Isto porque os próprios conceitos de “justiça” e “constitucionalidade” são relativizados. Assim, na opinião deste autor, um instituto somente pode ser relativizado quando esta metamorfose for unicamente benéfica. Para que isto ocorra, é preciso que o “elemento relativizador” seja absoluto, o que não ocorre na hipótese da relativização da coisa julgada, pois os conceitos de “justiça” e “constitucionalidade”, elementos relativizadores da coisa julgada, são relativos, e não absolutos como necessitariam ser. Exegese sobre a “relativização” da coisa julgada: o que há por trás desta tendência? 185 REFERÊNCIAS A LMEIDA J ÚNIOR , Jesualdo Eduardo de. O controle da coisa julgada inconstitucional. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2006. ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JR., Fredie (Coord.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed. Salvador: JusPodium, 2008. CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini & DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 4. ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. DIDIER JR., Fredie (Coord.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed. Salvador: JusPodium, 2008. DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: direito probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação de sentença e coisa julgada. Vol. 2. 2. ed. Salvador: JusPodium, 2008. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 8. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil brasileiro. Vol. 2. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. LEAL , Rosemiro Pereira. Relativização inconstitucional da coisa julgada: temática processual e reflexões jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (a questão da relativização da coisa julgada material). In: DIDIER JR., Fredie (Coord.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed. Salvador: JusPodium, 2008. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. In: DIDIER JR., Fredie (Coord.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed. Salvador: JusPodium, 2008. NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 4. ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 9. ed. São Paulo: RT, 2006. 186 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil: processo de conhecimento. Vol. 1. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. SANTOS LUCON, Paulo Henrique dos. Coisa julgada, efeitos da sentença, “coisa julgada inconstitucional” e embargos à execução do artigo 741, parágrafo único. In: DIDIER JR., Fredie (Coord.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed. Salvador: JusPodium, 2008. S ILVA , Ovídio Araújo Baptista da. Curso de processo civil: processo de conhecimento. Vol. 1. 6. ed. São Paulo: RT, 2002. SOUZA, Gelson Amaro de. Curso de Direito Processual Civil. 2. ed. Presidente Prudente: Data Júris, 1998. TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: RT, 2005. TESHEINER, José Maria Rosa. Relativização da coisa julgada. Revista Nacional de Direito e Jurisprudência, n. 23, p. 11-17, Ribeirão Preto, novembro, 2001. Disponível em: <http://www.tex.pro.br/wwwroot/33de020302/relativizacaodacoisa julgada.htm>. Acesso em: 21/10/2003. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 38. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. THEODORO JÚNIOR, Humberto & FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 4. ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. VADE MECUM. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. WAMBIER, Luiz Rodriguez; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de & TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo de conhecimento. Vol. 1. 8. ed. São Paulo: RT, 2006. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim & MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização. São Paulo: RT, 2003. A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 187 13 A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade The environmental legal reserve as a tool on effective protection of biodiversity THIAGO FELIPE S. AVANCI Advogado; mestrando em Direito, pela Universidade Católica de Santos – Unisantos, área de concentração em Direito Ambiental; bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Privadas de Ensino Superior, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Prosup/Capes. E-mail para correspondência: [email protected]. RESUMO O debate sobre restringir ou não o direito de propriedade continua atual: a quem cabe suportar este ônus? O presente artigo objetiva expor argumentos favoráveis à reserva legal, bem como rebater alguns argumentos contrários a esta. Este estudo tem o propósito, ainda, de demonstrar a importância deste instituto como garantidor da biodiversidade. Palavras-chave: reserva legal, função social da propriedade, limitação da propriedade, biodiversidade. ABSTRACT Is it possible to restrict the right of property? And, if it is so, who shall bear this burden? This manuscript’s objective is to expose pros of the Environmental Legal Reserve, and, as well, to confront some arguments against this institute. Finally, the objective is to demonstrate the importance of this institute as a tool that guarantees the biodiversity. Keywords: environmental legal reserve, social function of property, restrictions on property, biodiversity. 188 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 1. INTRODUÇÃO A importância – ou não – da reserva legal sempre foi objeto de muitos estudos sob os mais diversos embasamentos: biológicos, ecológicos, jurídicos e, neste caso, com preponderância de direitos individuais, tais como sociais e coletivos. Objetiva-se demonstrar que este instrumento de efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é, sem sombra de dúvida, um dos mecanismos pelo qual a proteção à biodiversidade (ou diversidade biológica) será preservada. A reserva legal (RL) constitui um grupo constitucionalmente chamado de espaços especialmente protegidos (artigo 225, parágrafo 1º, III), neste podendo se enquadrar, ainda, as áreas de preservação permanente (APPs) e as unidades de conservação (UC). É necessário, contudo, distinguir a função jurídica de cada um destes espaços especialmente protegidos. Ao contrário das unidades de conservação, que objetivam a conservação ou a preservação1 de áreas maiores ou menores de um determinado ecossistema dentro de um bioma2, a reserva legal possui esta mesma função de proteção, porém disseminada por todas as propriedades rurais do País. Em assim sendo, por mais que o Poder Público se esforce na criação de unidades de conservação (que demandam verbas para sua criação e manutenção), nunca será capaz de criar tanto desta modalidade de espaço especialmente protegido quanto o necessário para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ecológico no Brasil. Reside nesta necessidade a reserva legal. Em linhas gerais, o artigo 225 da Constituição declara que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito e dever de todos. A reserva legal, enquanto faceta da função social da propriedade, constitui-se em efetiva limitação desse direito em benefício da coletividade. Mediante isto, a reserva legal será analisada como sendo um instrumento de garantia à conservação da biodiversidade. 1 Em fortes cores e apertada síntese, o conservacionismo de Gifford Pichot (século XIX) estabeleceu como meta o uso racional dos recursos naturais, procurando benefício para a maioria, inclusive para as gerações futuras; o preservacionismo de Aldo Leopold (século XX) objetivava a natureza intocável pela ação humana, preservando-a como ela é. Assim sendo, no presente artigo, a palavra “preservação” foi utilizada com o sentido de manutenção integral e a palavra “conservação”, com o sentido de usar os recursos da natureza de forma racional. 2 Bioma é um conjunto de ecossistemas com características similares em função de clima, altitude, latitude, regime hidrográfico, solo etc. A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 189 2. BIODIVERSIDADE 2.1. Análise conceitual Há, ainda hoje, uma dificuldade de comunicação entre os cientistas do Direito e os cientistas da Biologia e Ecologia. Em função desta dificuldade, os conceitos sobre biodiversidade tendiam a ser limitativos, uma vez que não abarcavam todos os aspectos deste objeto. Antes da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) – Rio/92, não era incomum ler que biodiversidade é ou a variedade de vida existente na Terra ou a variedade de vida, em diferentes aspectos, existente na Terra3. Mesmo após a CDB, ainda permanecia uma tendência da comunidade científica de, tal e qual seus antecessores, estabelecer conceitos semelhantes, mas puramente quantitativos4. Rompendo com esta tendência conceitual, a CDB alargou o leque de elementos componentes do conceito de biodiversidade, nos termos do artigo 2º: Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Em verdade, este conceito revela que a ausência de diálogo entre os cientistas pode levar a uma impropriedade etimológica. Ao observar a parte final do conceito apresentado pela CDB, tem-se que há a inclusão da expressão “diversidade (...) de ecossistemas”5. Ainda no artigo 2º da CDB, que foi reproduzido pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – Snuc (Lei n. 9.985/00, artigo 2º, inciso III), é dado o conceito como sendo “um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microorganismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional”. Eis a impropriedade. Etimologicamente, biodiversidade (biodiversidade, contração de diversidade biológica = do grego bios, vida; oikus, casa/lugar) necessariamente deve estar associada à vida, ao passo que incluir em um conceito de biodiversidade o termo “ecossistema” automaticamente se inclui, também, “o seu meio inorgânico”. 3 Neste sentido: GASTON, Kevin J. & SPICER, John I. Biodiversity: an introduction. 2. ed. Malden, MA: Blackwell Publishing. 2004. p. 3-4; e WILSON, Edward O. Biodiversity. Washington: National Academy Press, 1988. 4 “Andy Dobson (1996: 132) definiu biodiversidade como sendo a “soma de todos os diferentes tipos de organismos que habitam uma região, tal como o planeta inteiro, o continente africano, a Bacia Amazônica, ou nossos quintais” (tradução do autor). Apud MAGALHÃES (2006: 24). 5 No original, em inglês: “Biological diversity” means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems. 190 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Afora esta pequena impropriedade que a CDB cometeu6, seria possível dizer, acertadamente, que podem ser percebidos três elementos no conceito de biodiversidade, os quais, somados, servem de conceito a este objeto: variedade genética; variedade de espécies; variedade de vida em ecossistemas. Com isto, fica abarcada a variabilidade: de indivíduos, de espécies e de indivíduos e espécies na comunidade. Neste sentido, Wilson (1988), revendo o conceito quantitativo dado em 1988, agora forneceu um conceito qualitativo que permite a visualização dos três elementos acima descritos, em que biodiversidade pode ser definida como toda a variação hereditária, em todos os níveis de organização, desde os genes de uma determinada população ou espécie, passando pelas espécies dentro de um todo ou de parte de uma comunidade e, finalmente, englobando as próprias comunidades que compõem a parte viva dos multivariados ecossistemas do mundo7. 2.2. Aspectos da biologia e ecologia acerca da biodiversidade Muito se fala em biodiversidade e em sua importância em função de um valor intrínseco8. Se analisada sob um ponto de vista biocêntrico, a manutenção da biodiversidade é fundamental como medida de manutenção da própria biodiversidade, ou melhor, da vida como um todo no planeta Terra. Explicando melhor: a extinção de espécies é um evento que ocorre naturalmente. Todavia, a extinção de espécies por fatores naturais (salvo eventos esporádicos de extinção em massa) ocorre gradativamente, permitindo que espécies dependentes daquela espécie em processo de extinção consigam se adaptar às novas condições. É a amplitude da biodiversidade que faz com que estas espécies, em processo de adaptação, consigam fazê-lo de modo eficaz. Esta biodiversidade é importante, neste caso, sob duas perspectivas distintas: a primeira é a biodiversidade genética, garantindo que indivíduos mais bem adaptados às novas condições possam perpetuar a espécie; a segunda, a biodiversidade de espécies, em que se verifica uma maior probabilidade de substituição daquela espécie em extinção nos processos ecológicos e na cadeia alimentar. Sob um ponto de vista jurídico e, pelo fato mesmo, necessariamente, antropocêntrico, tem-se que é por meio da conservação da biodiversidade, que se permitirá a 6 Neste sentido, MAGALHÃES (2006: 24). REAKA-KUDLA; WILSON & WILSON (1997: 1): “(…) is defined as all hereditarily based variation at all levels of organization, from the genes within a single local population or species, to the species composing all or part of a local community, and finally to the communities themselves that compose the living parts of the multifarious ecosystems of the world.” 8 Preâmbulo da CDB. 7 A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 191 continuidade da existência do animal Homo sapiens no planeta Terra, uma vez que serão mantidos processos ecológicos necessários à agricultura, pecuária e pesca – base da alimentação humana – e até mesmo processos regulatórios do clima (temperatura, pluviosidade etc.). O equilíbrio dos diversos processos é tênue, de maneira que a menor alteração que resulte em extinção de espécies na base da cadeia alimentar ou na base dos processos naturais fará ruir toda a pirâmide sobre a qual se ergue. Como já foi dito, o processo de extinção de espécies é algo natural, que, independentemente da vontade humana, sempre ocorreu e sempre ocorrerá. No entanto, com a efetiva ação humana, os processos de extinção de espécies aumentaram drasticamente e de maneira muito mais acentuada. Repetindo o já dito acima, quanto mais rápido um processo de extinção, maior a probabilidade de que as espécies dependentes daquela não consigam se adaptar, o que gera um efeito dominó, com danos possivelmente irremediáveis ao bioma de que fazem parte. O impacto antrópico hodierno vai além da extinção de uma espécie apenas. Com o desenvolvimento tecnológico, necessidades de expansão da civilização (fronteira agrícola, avanço desenfreado urbano, busca de matérias-primas), há extinção de ecossistemas e biomas inteiros em questão de anos ou décadas. Quer por seu valor intrínseco, sob uma perspectiva ética, filosófica ou religiosa, quer sob um prisma jurídico e antropocêntrico, é por meio da biodiversidade que há maior probabilidade de a vida se sustentar no planeta Terra. 2.3. Biodiversidade e Direito nacional Todo o ordenamento jurídico, nacional e internacional desenvolveu uma série de normas que visam a proteger a biodiversidade pelos motivos já expostos no item anterior. É necessário frisar que um instrumento normativo não necessariamente mencionará a expressão “biodiversidade” ou “diversidade biológica”, mas, ainda sim, esta será objeto de sua tutela, direta ou indiretamente. Por óbvio, é possível afirmar que todo instrumento normativo que tutele a proteção ambiental resultará em proteção à biodiversidade, visto que é parte essencial e fundamental à manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mediante isto, é necessário encontrar nas normas nacionais e internacionais objetos de tutela específicos da biodiversidade. Reporta-se ao conceito de biodiversidade para encontrar estes objetos específicos: variedade genética, variedade de espécies e variedade de vida em ecossistemas. Bem assim, qualquer norma nacional, tratado ou declaração internacional que verse sobre proteção genética, proteção de espécies e proteção da vida ou da vida em ecossistemas estará, por força de consequência, tutelando a biodiversidade, independentemente de citar esta palavra. 192 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Eis que, quando a Constituição Federal declara, no artigo 225, caput, que é direito de todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual deve ser preservado para as presentes e futuras gerações, pressupõe-se que, para a prevalência deste direito, deve ser assegurada a biodiversidade. Neste mesmo sentido, quando o parágrafo 1º, incisos I, III e IV, determina que é obrigação do Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos e prover o manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas; definir espaços especialmente protegidos; exigir estudo prévio de impacto ambiental; bem como o parágrafo 4º daquele mesmo artigo define diferentes biomas e ecossistemas como patrimônio nacional, enfim, todos são uma faceta da biodiversidade, qual seja, a “diversidade de vida em ecossistemas”. Por outro lado, ficaria bem representada a faceta “variedade genética” no artigo 225, parágrafo 1º, inciso II, no qual consta a preocupação com o patrimônio genético nacional. Finalmente, a faceta “variedade de indivíduos” pode ser encontrada no inciso VII do mesmo parágrafo 1º, em que se determina ser obrigação do Poder Público proteger a fauna e a flora, vedando práticas que possam extinguir espécies ou que submetam animais a maus-tratos. Nota-se, com isto, que, muito embora a Constituição Federal não tenha, em momento algum, usado a expressão biodiversidade, ainda sim é um excelente exemplo de instrumento de sua tutela. E, para citar algumas outras leis que também lidam com o tema e não necessariamente o nomeiam, encontram-se os seguintes dispositivos legais: o Código Florestal (Lei n. 4.771/65); a Lei de Proteção à Fauna ou Código de Caça (Lei n. 5.197/67); Lei das Estações Ecológicas e das Áreas de Proteção Ambiental (Lei n. 6.902/81); Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81); Lei de Proteção aos Cetáceos (Lei n. 7.643/87); Decreto sobre Medidas de Proteção à Mata Atlântica (Decreto n. 750/93); Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei n. 9.985/00); a Política Nacional da Biodiversidade (Decreto n. 4.339/02); a Lei das Florestas Públicas (Lei n. 11.284/06). 3. RESERVA LEGAL COMO INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DA PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE 3.1. Conceito de reserva legal e diferenciação com área de preservação permanente e com unidade de conservação “Reserva legal”, “área de preservação permanente” e “unidade de conservação” são, indubitavelmente, exemplos de áreas especialmente protegidas a que se refere o inciso III do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Esses três institutos jurídicos têm finalidade comum mediata de garantir um meio ambiente ecologica- A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 193 mente equilibrado, sendo instrumento de manutenção da biodiversidade e, consequentemente, dos processos ecológicos. O que diferencia cada um destes institutos é seu fim imediato. Neste artigo, a análise dos outros dois institutos se dará de modo superficial, dado que o objeto central é a reserva legal. Do conceito dado às “áreas de preservação permanente” no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso II, do Código Florestal (incluído pela MP n. 2.166-67, de 2001), podem-se extrair alguns aspectos conceituais: é uma área protegida; pode estar coberta ou não por vegetação nativa, ou seja, pode encontrar-se desmatada, com vegetação exótica ou com vegetação nativa, mas ainda sim será APP; possui a função específica (ou imediata) de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; e apresenta função auxiliar de preservar a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora. Muito embora o legislador não tenha especificado ou diferenciado as funções da APP, é necessária uma análise dentro de um contexto legislativo. Da leitura do artigo 2º e do artigo 3º do mesmo Código Florestal9, percebe-se um fim específico da APP: preservar uma parte inorgânica frágil de um ecossistema por meio da preservação de sua parte orgânica, com o fim de se garantir o bem-estar das populações humanas. Não parece correto dizer que a preservação de uma montanha por meio de uma APP vise, imediatamente, à conservação da biodiversidade. Mais acertado será dizer que a preservação da biodiversidade é um instrumento que dará estabilidade geológica à referida montanha. E, da mesma forma, nascentes, mata ciliar, dunas, restingas, enfim, toda a biodiversidade que sustém os sistemas inorgânicos de um ecossistema. A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tal e qual as APPs e a reserva legal, também possui um fim mediato de garantir a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, manter a biodiversidade e proteger espécies ameaçadas, dentre outros aspectos (artigo 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.985/00). Seu fim específico, no entanto, será conservar10 um determinado espaço territorial e seus recursos ambientais com características naturais relevantes, nele 9 Com exceção do artigo 3º, alíneas “g” e “f”, que atribuem às APPs a função de proteger sítios de excepcional beleza e de asilar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção, o que se explica devido à falta de áreas especialmente protegidas – a lei do Snuc é de 2000 – quando da edição original do código, em 1965. 10 O legislador andou bem ao utilizar a expressão “conservar” ao invés de “preservar”. Deveras, o Snuc lida com preservação e com conservação, porém o instituto mais amplo abarca o mais específico, sendo certo que, dentro da ideia de conservação, há necessidade de preservação para manutenção do desenvolvimento sustentável. 194 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 incluindo as águas jurisdicionais (artigo 2º, inciso I, da mesma lei). Deveras, esta ideia de conservação de um determinado ecossistema e bioma por meio do estabelecimento de um local dotado de relevantes características naturais é o que difere “unidades de conservação” da “reserva legal”. Nas unidades de conservação, a atuação será feita em escala reduzida, uma vez que é impossível ao Poder Público criar, administrar e manter de unidades de conservação em quantidade necessária à manutenção de todos os processos ecológicos e climáticos. Eis aí a necessidade da reserva legal. Conforme já foi dito, a função imediata da reserva legal é similar à das unidades de conservação, no que tange à conservação de um determinado ecossistema e bioma. Difere, no entanto, a maneira como esta conservação se dará num e noutro instituto: nas unidades de conservação, muito embora possam ter área maior do que a reserva legal de uma propriedade, se somadas as reservas legais de todas as propriedades, tem-se que a área total deste instituto será, certamente, maior. Assim, conclui-se que a reserva legal promove uma proteção em maior escala aos ecossistemas e biomas. É interessante notar que a reserva legal não é fruto de uma simples “delegação” do Poder Público aos particulares de um dever que lhe competia. O artigo 225, caput, da Constituição Federal impõe concomitantemente ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual e futuras gerações. Em virtude disso, o legislador infraconstitucional está exercitando norma constitucional ao estabelecer a restrição da propriedade com a reserva legal. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito e dever de todos, constituindo-se em verdadeiro direito difuso ou direito fundamental de terceira geração. Em função disso, é necessária a imposição de limites à propriedade, direito típico de primeira geração de direitos fundamentais, de modo que esta esteja condizente com sua função social (direito fundamental de segunda geração) e com sua função ecológica (direito fundamental de terceira geração). O direito individual perde força em detrimento do direito social e do direito da coletividade. Bem assim, a reserva legal é uma limitação do direito de propriedade, situada em uma terceira geração de direitos fundamentais. Em suma, a reserva legal possui função mediata de realização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e função imediata de garantir o uso sustentável dos recursos naturais; conservar e reabilitar os processos ecológicos; conservar a biodiversidade e abrigar e proteger a fauna e a flora nativas (artigo 1º, parágrafo 2º, inciso III, do Código Florestal). A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 195 3.2. A coletividade e a reserva legal: constitucionalidade ou a tragédia dos comuns? Muitos autores, dentre eles Gandra S. Martins (2009), defendem que a reserva legal é inconstitucional porque transfere a um grupo muito pequeno – qual seja, o de proprietários rurais – o dever de manter a reserva legal11. O argumento utilizado é que o artigo 225 da Constituição Federal impõe o dito dever ao Poder Público e à coletividade. Ocorre que coletividade, no entender de Gandra S. Martins, não se constitui apenas em “um pequeno número de proprietários. Coletividade representa, no País, a comunidade geral, ou seja, 175 milhões de brasileiros, e não umas poucas centenas de milhares de grandes, médios e pequenos proprietários”12. O argumento é quase convincente, porém os defensores desta tese não levam em consideração que a interpretação da Constituição e de princípios gerais de direito deve ser feita em bloco, e não isoladamente. Três são os contrapontos que devem ser observados quando o tema é reserva legal e coletividade: enriquecimento ilícito dos proprietários, isonomia aristotélica e restrição justificada de um direito individual. A tragédia dos comuns ensinou a todos que existe uma tendência humana em se apropriar do lucro, transferindo os prejuízos à coletividade (ubi emolumentum, ibi onus) e cuja resposta jurídica foi a teoria do risco. Se assim não fosse, estarse-ia utilizando um modelo que prima pelo enriquecimento ilícito, ou seja, um modelo por meio do qual a sociedade arcaria com o ônus e o proprietário, apenas com o gozo. Tendo em vista que o Direito pátrio veda o enriquecimento ilícito, tem-se, por força de consequência, que aquele que irá receber os lucros também deverá arcar com o ônus. Com a reserva legal, a situação é a mesma. Senão veja-se: é fato que toda a coletividade, nela inclusa os próprios proprietários, irá se beneficiar com a instituição da reserva legal; porém, também é fato que os proprietários de terra são os únicos da coletividade que retiram daquela terra os lucros de sua exploração. Assim sendo, se existe uma porção da coletividade que recebe um único gozo (o meio ambiente ecologicamente equilibrado) e existe outra porção da mesma coletividade que obtém mais do que um gozo (o lucro da exploração da terra e o meio ambiente ecologicamente equilibrado), é compatível com a vedação ao enriquecimento ilícito que esta última porção da coletividade receba o ônus de arcar com a instituição e a manutenção da reserva legal. 11 Ainda neste sentido, VIEIRA DUTRA, Ozório. O discurso ideológico e a ilegalidade da “reserva legal”. Disponível em: <http://www.reservalegal.com.br/artigos.htm>. Acesso em: 09 de novembro de 2009. 12 GANDRA S. MARTINS, Ives. A defesa do meio ambiente. Valor Econômico, 25/03/2004. Disponível em: <http://www.reservalegal.com.br/artigos_ives.htm>. Acesso em: 09 de novembro de 2009. 196 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Deveras, tal princípio está muito ligado à isonomia aristotélica, defendida na Constituição brasileira. Aquele que possui maiores condições deve arcar com um ônus maior e, em contrapartida, aquele que possui condições mais limitadas deve arcar com um ônus menor. Não parece associado à ideia de isonomia o fato de um trabalhador urbano, que ganha muitas vezes um salário igual ou inferior a um salário mínimo, tenha que arcar com um novo tributo ou tenha que ver uma parcela de seus tributos ser destinada à criação e à manutenção de reserva legal de um latifúndio em que nunca sequer sonhou estar. Muito embora este trabalhador, citado no exemplo, receba o gozo do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a solução de sobretaxá-lo mostra-se absolutamente incompatível com a isonomia jurídica (e até mesmo tributária). Caberá ao referido trabalhador urbano promover o meio ambiente ecologicamente equilibrado por outros meios, e não arcando com o ônus deste instrumento, a reserva legal. Sempre que se fala em restrição de um direito individual, automaticamente se associa tal aspecto à ideia de Estado autoritário. Não é o caso. É princípio básico de direito que o interesse público prepondera sobre o particular.13,14 Para a construção de uma sociedade igualitária, livre, justa e solidária; a erradicação da pobreza e da marginalização; a redução das desigualdades sociais e regionais; e a promoção do bem de todos (artigo 3º, incisos I, III e IV, da Constituição Federal), é necessário que direitos limitem direitos. Bem assim, os direitos coletivos limitam os direitos sociais que limitam, por sua vez, os direitos individuais. Aqui surge um paradoxo: muitos proprietários de terra estão dispostos a respeitar os direitos do trabalhador rural (direito social ou direito fundamental de segunda geração), aceitando arcar com os ônus decorrentes da relação de emprego; paralelamente, muitos destes mesmos proprietários de terra não reconhecem e, por conseguinte, não estão dispostos a arcar com os ônus decorrentes da manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado (direito coletivo ou direito fundamental de terceira geração). Assim sendo, em resumo, não há inconstitucionalidade alguma na reserva legal. Trata-se de um instrumento de proteção ambiental, um ônus, destinado a quem é proprietário de terra, que recebe, além do gozo, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, o lucro pela utilização daquela terra. 13 Ao contrário do afirmado por Vieira Dutra: “Não existe mais prevalência do interesse público e coletivo sobre o interesse particular”. Op. cit. 14 O Projeto de Lei n. 5.397/09 propõe uma solução interessante: a remuneração por serviços ambientais. Esta solução, da forma como apresentada, não parece contrária ao sistema jurídico nacional, já que “os instrumentos econômicos serão concedidos sob a forma de créditos especiais, recursos, deduções, isenções parciais de impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, financiamentos” etc. Porém, entendese que esta remuneração deve ser feita no que diz respeito às realizações que vão além das obrigações, ou seja, as realizações voluntárias. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/ Prop_Detalhe.asp?id=437370>. Acesso em: 03 de novembro de 2009. A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 197 3.3. Peculiaridades sobre a reserva legal 3.3.1. Estabelecimento de porcentagens em biomas Apontou Granziera (2009) que a ideia do estabelecimento da reserva legal não é nova. O Código Florestal de 1934 (Decreto n. 23.793/34) estabelecia a proibição de derrubada de 25% (um quarto) de vegetação nativa da área da propriedade, sendo passível o infrator, inclusive, de detenção e multa (artigo 86 15 daquela lei) . O Código Florestal de 1965 revogou a referida lei de 1934, e, em sua redação original, não havia a disciplina deste instituto. Com o advento da Lei n. 7.803/89, o termo reserva legal foi instituído e o instituto foi revivificado, já que a antiga redação do artigo 16 do Código Florestal de 1965 apenas havia instituído a proteção às “florestas particulares”. Nela, foram fixados valores de reserva legal em 50% para as regiões Norte e para a parte norte da região Centro-Oeste (antiga redação do artigo 44 do Código Florestal) e 20% para o restante do Brasil (antiga redação do parágrafo 2º do artigo 16 da mesma lei). Com a edição da Medida Provisória n. 1.511, de 25 de julho de 1996, a porcentagem de reserva legal relativamente ao bioma Amazônia foi mantida nos 50% estabelecidos pela Lei n. 7.803/89. Esta porcentagem se manteve até a edição da Medida Provisória n. 2.080/00, quando foi fixada nova porcentagem àquele bioma, 80% (redação então dada ao artigo 44 do Código Florestal). Com a edição da Medida Provisória n. 2.166/01 e a efetivação legislativa das medidas provisórias por meio da Emenda Constitucional n. 32, este valor de 80% é o vigente para aquele bioma (artigo 16, I, do Código Florestal)16. No que tange ao cerrado, com o advento da Medida Provisória n. 1.736/99, o legislador excepcionou o cerrado localizado na chamada Amazônia Legal. Estabeleceu, assim, 50% de reserva legal para o bioma Amazônia e 20% para o bioma Cerrado, localizados na Amazônia Legal. Com a edição da Medida Provisória n. 2.080/00, foi fixada nova porcentagem àquele bioma, os atuais 35% (artigo 16, inciso II, do Código Florestal). Com a Exposição de Motivos n. 19/96, apresentada por Luiz Felipe Lampreia, então Ministro das Relações Exteriores, e por José Israel Vargas, então Ministro da Ciência e Tecnologia, o Presidente da República Fernando Henrique Cardoso 15 16 In: Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009. p. 355. O Projeto de Lei n. 1.876/99 objetiva a redução da reserva legal do bioma Amazônia da Amazônia Legal para 50% (e, possivelmente, o aumento da reserva legal para o bioma Cerrado, na mesma região, para o mesmo valor): “Artigo 6º. A reserva legal respeitará a seguinte proporção em relação à área de cada imóvel: I – cinquenta por cento na Região Amazônica; II – vinte por cento nas demais regiões.”. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=17338>. Acesso em: 03 de novembro de 2009. 198 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 passou a observar a necessidade de aumento da área de reserva legal no bioma Amazônia situado na Amazônia Legal. A referida exposição de motivos levou em conta um extenso estudo realizado principalmente na região Norte do País, no que dizia respeito ao avanço desenfreado da fronteira agropastoril, bem como à derrubada de árvores para a indústria madeireira. Assim, a referida exposição de motivos afirmou que: (...) para reverter o quadro de crescimento do ritmo do desflorestamento na Amazônia, é necessária não apenas a adoção de um conjunto de medidas que permitam, de um lado, intensificar o monitoramento e vigilância, em especial nas áreas críticas, e de outro lado, reduzir a pressão antrópica sobre o meio ambiente com a fiscalização dirigida e eficiente, como, também, promover a reorientação da atividade produtiva para um modelo de uso sustentável dos 17 recursos naturais da região . Por esta razão, seria necessária, dentre outras medidas, a “alteração do artigo 44 do Código Florestal, ampliando a reserva legal para, no mínimo, 80% de cada propriedade rural da região amazônica constituída de fitofisionomias florestais, onde não será permitido o corte raso; (...)”18. O bioma Amazônia possui uma característica de fragilidade muito peculiar. Apesar da exuberância de vida, a densa vegetação se sustenta em um solo excessivamente pobre e ácido. Com o passar de milhares de anos e decomposição vegetal, o solo amazônico ganhou uma relativamente fina camada de solo rica em nutrientes. Esta camada de solo se sustenta por conta da fixação das raízes vegetais e em função do ciclo de vida das formações vegetais. Com a eliminação das formações vegetais nativas, a região passaria a sustentar uma savana e, posteriormente, o processo resultaria na desertificação. O solo daquela região é muito diferente dos solos das regiões Nordeste, Sul e Sudeste que, há 500 anos, sustentam lavouras plantadas em regime contínuo. De uma forma ou de outra, o legislador não objetiva a inviabilidade econômica da terra quando estabelece uma reserva legal de 80%. Objetiva, sim, que o proprietário de terra adote medidas de preservação integradas com o seu desenvolvimento econômico. É possível a utilização econômica da área de reserva legal desde que previsto e observado o plano de manejo. O que não é possível para este bioma, em função de suas características frágeis, é o corte raso da mata 17 Disponível em: “Código Florestal Brasileiro – Blog” <http://cirosiqueira.blogspot.com/2009/01/ exposio-de-motivos-da-mp-que-elevou-os.html>. Acesso em: 03 de novembro de 2009. 18 Idem. A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 199 nativa. O bioma Amazônia, afora sua importância em termos de biodiversidade, é determinante no clima do Brasil e da América do Sul, de maneira que, se for relegado à desertificação, todo o continente e o mundo irão padecer. Nesta mesma época, percebeu-se a importância do bioma Cerrado, como sendo fonte de biodiversidade muito peculiar e de equilíbrio igualmente delicado. Além do mais, o bioma Cerrado mostra-se como importante área de transição entre o bioma Amazônia e os demais biomas do Brasil. Por estas razões, o Executivo estabeleceu proteção ligeiramente maior do que a ordinariamente atribuída ao restante do País, fixando a porcentagem de 35% de reserva legal. 3.3.2. Posse e averbação O artigo 1º, parágrafo 2º, inciso III, do Código Florestal determina que a reserva legal deve existir tanto em caso de posse quanto no caso de propriedade. Neste último caso, a reserva legal deverá ser averbada à margem da matrícula do imóvel. Tendo em vista a óbvia ausência de documentação de detentores de posse rural, o legislador resolveu a questão determinando que o possuidor se comprometa com a manutenção da reserva legal mediante assinatura de termo de ajustamento de conduta – TAC. Por meio do referido documento, com força de título executivo, é estabelecida a localização da reserva legal, suas características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação, tudo conforme consta no artigo 16, parágrafo 10, do Código Florestal. A averbação, prevista no parágrafo 8º do artigo 16 do Código Florestal, possibilita a fixação e consequente estabilidade da reserva legal em uma determinada área da propriedade rural. A exigência da averbação é imediata19, porém somente será punida administrativamente após 11 de dezembro de 2009, nos termos do artigo 152 do Decreto n. 6.514/0820. Assim, o equilíbrio biológico propiciado pela reserva legal será mantido, independentemente da transmissão, do desmembramento ou da retificação de área. Alguns magistrados interpretaram que há apenas a necessidade de averbação da reserva legal em áreas onde seja encontrada formação 19 Muito embora o Código Florestal não estipule prazo, isto não significa a desobrigação de averbar a reserva legal. No item 4, “a”, deste artigo, será visto que a Lei n. 7.803/89 reinstituiu a reserva legal no País. Assim, ao contrário, significa que a reserva legal deverá ser averbada imediatamente à vigência daquela lei ou, quando muito, dentro de um prazo razoável. Passados 20 anos daquela lei, ainda se discute a necessidade de averbação ou não deste instituto... 20 O governo sinaliza possibilidade de prorrogação do prazo para imposição da referida multa administrativa pela não averbação da reserva legal para 11 de junho de 2010. Último Segundo, 28/10/ 2009. Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2009/10/28/stephanes+ve+ problemas+em+adiar+averbacao+de+reserva+legal+8963943.html>. Acesso em: 10 de novembro de 2009. 200 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 vegetal nativa. Porém, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sobre a averbação da reserva legal, que “é dever do proprietário ou possuidor de imóveis rurais, mesmo em áreas onde não houver florestas, adotar as providências necessárias à restauração ou à recuperação das formas de vegetação nativa” 21, sendo certo que “a exigência de averbação da reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no ofício de registro de imóveis competente, não se aplica somente às áreas onde haja florestas, campos gerais ou outra forma de vegetação nativa”22. 3.3.3. Localização Eis aqui outra diferença fundamental entre as APPs e a reserva legal, recapitulando os conceitos de ambos os institutos. A APP, pelo fato de ter uma função imediata de garantir a preservação de um determinado recurso natural inorgânico, é automaticamente fixada por força do conteúdo dos artigos 2º e 3º do Código Florestal. Diferentemente, o artigo 16, parágrafo 4º, do Código Florestal, por interpretação inversa, confere ao proprietário da terra escolher o local em que será constituída a reserva legal, desde que aprovada pelo órgão ambiental competente, atendidos alguns critérios. Com isto, deve ser observado o plano de bacia hidrográfica, o plano diretor municipal, o zoneamento ecológico-econômico e outras categorias de zoneamento ambiental. Além disto, a reserva legal deve estar em proximidade com outras reservas legais, APPs, UC ou outra área legalmente protegida, com o fim de criar os chamados “corredores ecológicos”, que possibilitam a conservação da biodiversidade por meio do fluxo gênico. 3.3.4. Plano de manejo florestal sustentável Tendo em vista a conservação da biodiversidade, dos recursos naturais, dos processos ecológicos e a proteção da fauna e da flora nativas, o legislador impôs a impossibilidade de supressão em corte raso das formações vegetais dentro da reserva legal (artigo 16, parágrafo 2º, do Código Florestal e artigo 10 do Decreto n. 5.975/06). No entanto, isto não significa que o proprietário da terra irá ficar impedido de utilizar aquela área de reserva legal. Em verdade, o mesmo artigo 16, parágrafo 2º, do Código Florestal impõe ao proprietário a elaboração de um plano de manejo florestal sustentável – PMFS. Nos termos o artigo 2º, parágrafo único, do Decreto n. 5.975/06, é o documento técnico que determinará as diretrizes para a administra21 RMS n. 22.391/MG. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 2006/0161522-1. Relator(a) Ministra Denise Arruda (1.126). Órgão julgador T1 – Primeira Turma, data do julgamento, 04/11/ 2008, data da publicação/Fonte DJe, 03/12/2008. 22 Idem. A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 201 ção daquela reserva legal, visando à obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais. Assim sendo, manejo florestal sustentável é, nos termos do artigo 3º, inciso VI, da Lei n. 11.284/06: (...) a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal; (...) Tem-se, pois, que o PMFS constitui-se em um verdadeiro estatuto destinado àquela determinada área de reserva legal, elaborado com o fim de estabelecer normas de conduta do proprietário, possibilidade de extração vegetal, possibilidade de corte, possibilidade de exploração turística, tudo levando em conta a capacidade de absorção de impactos do referido ecossistema. De fato, constitui-se infração administrativa, prevista nos artigos 48, 51 e 51A do Decreto n. 6.686/08: impedir ou dificultar a regeneração natural de reserva legal; destruir, desmatar, danificar ou explorar qualquer tipo de vegetação nativa em área de reserva legal; executar manejo florestal sem autorização prévia do órgão ambiental competente, enfim, infrações puníveis com multa que variam de R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00 por hectare ou fração, dependendo da infração. 3.3.5. A pequena propriedade e a reserva legal O artigo 1º, parágrafo 2º, inciso I, conceitua pequena propriedade rural (ou posse rural familiar) como sendo aquela explorada por força do trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família. A atuação de outros trabalhadores nestas áreas é admitida, o que normalmente ocorre em épocas de colheita. Porém, esta ajuda de terceiro deve necessariamente ser eventual. A definição restringe, ainda, no tocante à renda bruta, que esta deverá ser proveniente, no mínimo, 80% de atividade agroflorestal ou do extrativismo. Finalmente, há limitação da área da propriedade: • cento e cinquenta hectares, se localizada nos Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões situadas ao norte do paralelo 13ºS, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44ºW, do Estado do Maranhão ou no pantanal matogrossense ou sul-mato-grossense; • cinquenta hectares, se localizada no polígono das secas ou a leste do meridiano de 44ºW, do Estado do Maranhão; e • trinta hectares, se localizada em qualquer outra região do País. 202 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Nota-se que o legislador procurou privilegiar os proprietários de terra que foram, nas décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980, para a região Norte, atendendo aos incentivos de ocupação promovidos pelos programas governamentais de desenvolvimento da Amazônia e da região Norte (Sudam23 etc.). Por este motivo, houve ampliação da área da pequena propriedade para aqueles Estados. No chamado “polígono das secas”, a motivação é clara: o legislador objetiva promover incentivos para que o proprietário permaneça em sua terra, gozando do status de pequena propriedade terras com até 50 hectares ou 350 mil metros quadrados. Mais uma vez mostrando sensibilidade, o legislador estabeleceu permissivo para as pequenas propriedades incluírem o plantio de espécies arbóreas frutíferas ornamentais ou, mesmo, espécies exóticas industriais, tudo com o fim de facilitar a viabilidade econômica da terra. O parágrafo 3º do artigo 16 do Código Florestal exige, no entanto, que o plantio destas espécies seja feito de modo intercalado ou em consórcio com as espécies nativas. Com efeito, apesar do permissivo para aumento e manutenção da viabilidade econômica da terra, o legislador não afastou o fim da reserva legal, determinando que haja, de modo intercalado ou em consórcio, a existência de espécies nativas. Em sede de interpretação lógico-linguística, os sistemas intercalar e consorcial pressupõem que haja, pelo menos, metade de um grupo principal e outra metade de outro grupo. Assim, deve ser respeitada pelo menos a metade de espécies nativas, uma vez que é o grupo principal, posto que o fim da reserva legal é a conservação de um ambiente natural24. Nada obstante, se o órgão ambiental entender que determinada área, de extrema sensibilidade ecológica, não pode ser alterada, sob pena de grave prejuízo ambiental, poderá e deverá estabelecer porcentagem superior ao mínimo de 50%, decisão que deve prevalecer. No entanto, o órgão ambiental não poderá conceder autorização para manejo com espécies exóticas em porcentagem que ultrapasse o mínimo de 50% para a cobertura vegetal nativa. Outro exemplo de proteção que a legislação ambiental fornece ao pequeno proprietário encontra-se na questão da recomposição de área de reserva legal, situação em que o órgão ambiental estadual deverá oferecer suporte técnico para implementação desta medida (artigo 44, parágrafo 1º, do Código Florestal). Além desta, pode-se citar outro exemplo de proteção ao pequeno proprietário no que 23 24 Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Neste sentido, o Projeto de Lei n. 4.524/2004 e o Projeto de Lei n. 4.091/2008 objetivam a fixação de porcentagem de manutenção de 50% de vegetação nativa em áreas protegidas exploráveis economicamente. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=271008>. Acesso em 03 de novembro de 2009. A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 203 tange à averbação graciosa da reserva legal, nos temos do parágrafo 9º do artigo 16 da mesma lei. 3.3.6. Cômputo de APP como RL Mais uma vez mostrando interesse pela manutenção da viabilidade econômica de uma área rural, o legislador estabeleceu determinados limites a extensões de terra especialmente protegidas que, se somadas, não poderão ultrapassar determinada porcentagem. Em outras palavras, estas áreas especialmente protegidas, mais especificamente as APPs, poderão ser computadas como reserva legal em determinadas situações. Bem assim, o parágrafo 6º do artigo 16 do Código Florestal autoriza o cômputo de áreas de preservação permanente como reserva legal em propriedades rurais em que aquelas primeiras, somadas, atinjam porcentagem superior a25: • 80% sobre a propriedade rural situada na Amazônia Legal; • 50% sobre a propriedade rural situada no restante do País; • 25% sobre a pequena propriedade rural com menos 50 hectares, localizada no polígono das secas; • 25% sobre a pequena propriedade rural com menos 30 hectares, localizada em qualquer outra região do País. No entanto, esta exceção não muda o regime jurídico de uso e proteção nas APPs computadas como reserva legal: o parágrafo 7º do artigo 16 do Código Florestal institui uma reserva legal com regime jurídico de uso e proteção de APP. Exemplificando, uma propriedade rural situada em qualquer lugar do Brasil (exceto na Amazônia Legal) que possua APPs em porcentagem de 45% de sua área terá que instituir uma reserva legal de 5,1% pelo menos. Neste exemplo, as APPs naquela área rural (45% da área) serão consideradas reserva legal, porém com regime diferenciado de APP; deverá o referido proprietário instituir reserva legal propriamente dita em porcentagem de 5,1% de sua área, reserva legal esta que terá regime tradicional. Com isto, esta propriedade terá uma área de reserva legal de 50,1%. 25 Neste caso, muito embora o legislador não tenha especificado, trata-se de porcentagem superior, e não igual e superior. Isto porque as propriedades rurais situadas na Amazônia Legal já possuem reserva legal de 80%. Assim, se fosse incluído o valor inicial (por exemplo, 80%), automaticamente todas as propriedades na Amazônia Legal teriam 1% pelo menos de sua área enquadrada nesta exceção de cômputo de áreas protegidas, o que seria ilógico dentro do contexto legal. 204 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Se uma determinada propriedade, por outro lado, contiver APPs que totalizem área superior àquelas instituídas no parágrafo 6º do artigo 16 do Código Florestal, por exemplo, 90%, ainda assim deverão ser mantidas tanto as APPs quanto a reserva legal com regime de APP. Neste exemplo, 50,1% da propriedade será considerada reserva legal com regime jurídico de APP e o restante, 39,9%, continuará sendo APP propriamente dita. Este mecanismo de compensação especial não autoriza, por exemplo, que o proprietário desta fazenda mantenha apenas 50,1% da área de sua propriedade que constitui APP e derrube para utilização o restante. 3.3.7. Possibilidades ao proprietário no caso de RL inferior ao mínimo: recomposição, regeneração, compensação (condomínio e servidão) e doação de áreas para o Estado para desapropriação nas unidades de conservação?26 A lei ambiental federal prevê quatro hipóteses para o restabelecimento da área de reserva legal em porcentagem inferior à legalmente exigida. Estas medidas podem ser adotadas isolada ou conjuntamente, todas previstas no artigo 44 do Código Florestal. Em uma primeira análise, poder-se-ia interpretar que a legislação federal não estabelece uma ordem de preferência na aplicação destes mecanismos, uma vez que, no caput do artigo 44 da citada lei, consta a expressão “deve adotar as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente”. Entrementes, não é o caso. Em uma análise contextual da lei, observando o fim precípuo da reserva legal como sendo instrumento de manutenção da biodiversidade e resguardo de uma parte de um ecossistema e bioma, observa-se ser necessário o respeito à ordem imposta pela lei, ou seja, preferencialmente recomposição e regeneração, secundariamente compensação e, por fim, a doação de áreas para regularização fundiária27. Já que não houve estabelecimento claro na ordem de 26 O Projeto de Lei n. 1.876/99 apresenta algumas soluções interessantes, como oferecer “incentivo” à recomposição da reserva legal bem como assegurar de seu registro, previstas em seu artigo 7º: o parágrafo 1º do referido projeto decreta que são nulos todos os atos notariais relativamente àquele imóvel que não averbou sua reserva legal; o parágrafo 2º consolida o que a jurisprudência já vinha julgando, ao efetivamente declarar que as áreas de reserva legal não recompostas são tributadas normalmente pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR; o parágrafo 3º apresenta uma das melhores soluções para o problema, pois estabelece que todos os estabelecimento oficiais ficam proibidos de fornecer crédito aos proprietários que não tenham regularizado sua reserva legal. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/ Prop_Detalhe.asp?id=17338>. Acesso em: 03 de novembro de 2009. 27 O Projeto de Lei n. 6.424/05 propõe a reforma do Código Florestal, permitindo a recuperação de reservas legais com espécies exóticas, anistia para os desmatamentos realizados antes de julho de 2006 (sem obrigatoriedade de recuperação) e definição das áreas de preservação permanentes pelos poderes locais. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=310397>. Acesso em: 03 de novembro de 2009. A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 205 aplicação destes mecanismos, cabe ao órgão ambiental responsável estipular a melhor solução ao bioma e ecossistema, não cabendo a escolha do mecanismo apenas pela vontade do proprietário. A recomposição é o processo pelo qual se restaura um determinado pedaço devastado de um ecossistema. O inciso I do artigo 44 estabelece que a recomposição se dará com o plantio de espécies nativas, de forma que, a cada três anos, a décima parte da área total da reserva legal da propriedade seja recuperada. Esta recuperação é dificultosa, uma vez que as espécies vegetais se dividem de acordo com suas características e capacidade de sobrevivência ante as condições. Assim, existem espécies pioneiras (ou formações pioneiras), ou seja, espécies melhor adaptadas às condições de terreno e clima propiciam condições mais favoráveis para que outras formações vegetais tenham condições de ali se instalar. O legislador observou esta necessidade natural e estabeleceu o concessivo de que, para a criação da mata secundária, sejam utilizados, em um primeiro momento, formações pioneiras, mesmo que exóticas (caso em que serão utilizadas de modo temporário), as quais irão propiciar condições às demais formações vegetais nativas (artigo 44, parágrafo 2º, do Código Florestal). A regeneração, por sua vez, diferentemente da recomposição, pressupõe a existência de vegetação nativa, a qual se encontra mais ou menos atingida ou devastada. Este mecanismo também tem como objetivo a recondução daquela determinada área ao status quo ante o impacto (normalmente antrópico), de forma a restabelecer o ecossistema original. A sua viabilidade será observada pelo órgão ambiental competente, o qual poderá determinar o isolamento da área em regeneração, tudo nos termos do parágrafo 3º do artigo 44 do Código Florestal. Esta legislação federal ainda protege áreas em regeneração, estabelecendo a proibição da “implantação de projetos de assentamento humano ou de colonização para fim de reforma agrária, ressalvados os projetos de assentamento agroextrativista, respeitadas as legislações específicas” (parágrafo 6º do artigo 37A) e a criminalização das ações de “impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação”, contravenção passível de pena de três meses a um ano ou multa (artigo 26 e alínea “g”). A compensação prevista no artigo 44, inciso III, do Código Florestal implica a não instituição da reserva legal em uma dada propriedade rural mediante o estabelecimento desta mesma reserva legal em “outra área equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia”. A importância da localização da área em que será instituída a reserva legal compensada está em consonância com a finalidade daquele instituto. Ora, 206 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 se a reserva legal tem como função a conservação ambiental de uma determinada fatia de um ecossistema de um bioma, seria ilógico promover a conservação de outro ecossistema ou, ainda, de outro bioma. Assim, o legislador optou por estabelecer como critério o estabelecimento dentro de uma microbacia, já que os cursos de água e formações lacustres são determinantes para a formação de um ecossistema. Outro motivo para a instituição da reserva legal compensada na mesma microbacia encontra-se na (delicada) relação floresta-solo-água, ou seja, no equilíbrio do ciclo hidrológico que somente se dá com o estabelecimento de formação da vegetação nativa. Na absoluta impossibilidade de compensação na mesma microbacia, o legislador concede permissivo de o órgão ambiental estabelecer a reserva legal na “maior proximidade possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para compensação, desde que na mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado” (parágrafo 4º do artigo 44 do Código Florestal), e desde que também respeitadas as demais condicionantes fixadas no inciso III do artigo 44. A servidão florestal (artigo 44A) e o condomínio (parágrafo 11 do artigo 16) são exemplos legalmente previstos de medidas de compensação28. Sem que haja aprofundamento incompatível com o conteúdo deste artigo, é necessário destacar alguns pontos acerca destes dois institutos, todos observados por normativa do Código Florestal. Assim, se forem estabelecidos, deverão se encontrar dentro de uma mesma microbacia (artigo 44, III); respeitar a reserva legal e a APP da propriedade que receberá, por compensação, a reserva legal da outra propriedade (artigo 44-A); ser aprovados pelo órgão ambiental (artigo 16, parágrafo 11); e ser averbados no Registro de Imóveis (artigo 16, parágrafo 8º). A última medida para restabelecimento da área de reserva legal em porcentagem inferior à legalmente exigida é a doação de áreas para o Estado para regularização fundiária das unidades de conservação, prevista no artigo 44, parágrafo 6º. Inicialmente, a Medida Provisória n. 2.166-67/01 desonerava o proprietário da necessidade da reserva legal pelo período de 30 anos. Porém, com a Lei n. 11.428/06, a referida norma foi alterada para uma desoneração definitiva. Por este mecanismo, o proprietário que não possui reserva legal poderá comprar uma determinada área equivalente à sua reserva legal em uma unidade de conservação que, muito embora de domínio público, ainda possua processos de expropriação pendentes de regularização. Em outras 28 Tecnicamente, a doação de áreas para o Estado para regularização das unidades de conservação também seria uma medida de compensação, porém, dadas as suas características peculiares, será observada como categoria separada. A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 207 palavras, o Estado delegou ao particular a permissão de não instituir a reserva legal (em suas próprias terras) se “ajudar” o Poder Público a pagar as indenizações de expropriação das terras particulares situadas no interior das unidades de conservação de domínio público. A problemática é a seguinte: muito embora unidades de conservação tenham fim mediato idêntico à reserva legal, sua função imediata é diferenciada. Hodiernamente, não há respeito a uma ordem dos processos de restabelecimento da reserva legal, ou seja, o órgão ambiental dificilmente impõe que primeiramente seja estudada a possibilidade de recomposição ou de regeneração da área. Desta feita, em não havendo benefício de ordem para tentativa de aplicação da recomposição e da regeneração de uma área, a doação de áreas pendentes de regularização fundiária pode vir a ser utilizada em larga escala como permissivo para a não implementação da reserva legal. Não há, aqui, um posicionamento contrário a esta medida: se por um lado esta medida pode (e deve) ser mantida, por outro lado deve ser utilizada apenas na mais absoluta impossibilidade de se restabelecer a reserva legal por outras formas. Assim, cabe ao órgão ambiental o bom senso em sua utilização. 4. CONCLUSÃO Foi visto exaustivamente que a reserva legal é instrumento de consecução da conservação da biodiversidade. Sua função peculiar é distinta das outras modalidades de espaços especialmente protegidos. Toda vez que um determinado direito individual é limitado para a realização de um direito social ou coletivo (transindividual), haverá comoção dos detentores do referido direito individual. Historicamente, mutantis mutandi, um bom exemplo desta comoção é aquela efetuada pelos ricos industriais no período anterior às leis trabalhistas. Em um primeiro momento, aqueles se opuseram às tentativas de estabelecimento de condições de trabalho humanamente aceitáveis, uma vez que isto implicaria a diminuição do lucro (mais-valia marxista). Contudo, posteriormente, estes mesmos industriais perceberam que o empregado satisfeito com seus ganhos e com seu ambiente de trabalho é capaz de fornecer um lucro ainda maior. No caso da proteção ambiental, a sistemática é a mesma. Neste primeiro momento, os empresários, agricultores e pecuaristas se opõem ao estabelecimento de medidas ambientais que irão reduzir prima facie o seu lucro. Contudo, ainda não houve o insight de que o “fim do mundo com as condições de suportar a vida humana” (o que certamente se dará com a devastação dos recursos naturais) não é lucrativo... O que as gerações passadas diziam ser um evento que, se ocorresse, 208 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 o seria em um futuro longínquo, a geração presente observa que o futuro longínquo não é tão distante assim: o futuro é agora. A reserva legal é um dos mecanismos necessários ao impedimento da perda da biodiversidade, mediante a manutenção de uma pequena área de um determinado ecossistema. Mesmo nos casos em que a área de reserva legal é substancialmente grande (como ocorre no bioma Amazônia), a conservação de um bioma frágil prepondera sobre os interesses econômicos da exploração das atividades agropastoris. Ao contrário do afirmado por alguns autores29, o interesse público (mais precisamente o interesse da coletividade) prepondera sobre o interesse privado, já que o Brasil ainda é um Estado democrático de direito, e não uma anarquia ou um sistema político-econômico liberalista que se pauta em “laissez faire, laissez aller, laissez passer”. 29 Vide nota 13. A reserva legal como instrumento de efetividade da proteção da biodiversidade 209 REFERÊNCIAS DOBSON , Andrew P. Conservation and biodiversity. New York: Scientific American Library, 1996. GANDRA S. MARTINS, Ives. A defesa do meio ambiente. Valor Econômico, 25/03/ 2004. Disponível em: <http://www.reservalegal.com.br/artigos_ives.htm>. Acesso em: 09 de novembro de 2009. GASTON, Kevin J. & SPICER, John I. Biodiversity: an introduction. 2. ed. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2004. Disponível em: <http://books.google.com.br/ books?id=8M7yvHgwQm4C&pg=PP1&dq=Biodiversity:+an+introduction#v =onepage&q=&f=false>. Acesso em: 03 de novembro de 2009. GRAZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009. LEME MACHADO, Paulo Afonso. Direito Ambiental brasileiro. São Paulo: RT, 1982. MAGALHÃES, Vladimir Garcia. Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB): a necessidade da revisão do seu texto, substituindo o termo “recursos genéticos” por “recursos biológicos” nos artigos 1º, 9º, 15, 16 e 19. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, v. 1, n. 1, p. 16-32, Santa Maria, março, 2006. Disponível em: <http://www.ufsm.br/revistadireito/arquivos/v1n1/a2.pdf>. Acesso em: 03 de novembro de 2009. REAKA-KUDLA, Marjorie L.; WILSON, Don E. & WILSON, Edward O. Biodiversity II: understanding and protecting our biological resources. Washington: Joseph Henry Press, 1997. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=m6W7psTx9csC &printsec=frontcover&dq=Biodiversity+II:#v=onepage&q=Biodiversity%20II%3A&f =false>. Acesso em: 03 de novembro de 2009. SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994. VIEIRA DUTRA, Ozório. O discurso ideológico e a ilegalidade da “reserva legal”. Disponível em: <http://www.reservalegal.com.br/artigos.htm>. Acesso em: 09 de novembro de 2009. WILSON, Edward O. Biodiversity. Washington: National Academy Press, 1988. 210 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Anotações 211 RESENHA BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do Direito. Apresentação de Celso Lafer. 1. ed. Barueri: Manole, 2007. 285 páginas. Da estrutura à função: novos estudos da teoria do direito From structure to function: new studies of the theory of law JOÃO OTÁVIO BENEVIDES DEMASI Advogado; mestrando em Direito Internacional, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – Fdusp; membro do Fórum Latino-Americano de Jovens Árbitros da International Chamber of Commerce – ICC; membro efetivo da Comissão de Comércio Exterior da Ordem dos Advogados do Brasil/seção São Paulo – Comex-OAB-SP. O objetivo desta resenha é extrapolar as análises meramente descritivas e expressar a essência da obra em referência pela síntese dos valores encontrados, de modo a deixar latitude analítica a cada leitor. O livro Da estrutura à função: novos estudos de teoria do Direito, de Norberto Bobbio, foi traduzido para o português e lançado no Brasil pela Editora Manole em seminário realizado na Bovespa,1 com a presença da ilustre flor acadêmica tributária do filósofo do Direito e sociólogo italiano. Na composição da mesa do seminário, estavam Celso Lafer, apresentador da obra; Mario Losano, seu prefaciador, discípulo direto de Bobbio; Tércio Sampaio Ferraz Júnior, um admirador da obra de Bobbio; e Carlos Mariano, presidente da Bovespa e acolhedor da ideia de criação do espaço Norberto Bobbio na respectiva entidade, celebrado com o lançamento desta tradução no Brasil. Os dez ensaios abordam aspectos variados sob os seguintes títulos: A função promocional do Direito; As sanções positivas; Direito e as ciências sociais; Em direção a uma teoria funcionalista do Direito; A análise funcional do Direito: tendências e problemas; Do uso das grandes dicotomias na teoria do Direito; A grande dicotomia; Teoria e ideologia na doutrina de Santi Romero; Estrutura e função na teoria do Direito de Kelsen; Tullio Ascarelli. Os 10 ensaios de caráter jurídico, histórico, sociológico e filosófico examinam temas jurídicos vistos pelo prisma da Sociologia, mas sempre fundamentados na Filosofia do Direito. 1 Bolsa de Valores de São Paulo. A partir de 2008, passou a se chamar Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – BM&FBovespa. 212 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Bobbio fez uma leitura transdisciplinar e pôs de lado a visão estritamente jurídico-sistemática do Direito, criada pela obra de Kelsen, para expressar o Direito inserido na Sociologia de tal modo que traz à tona a finalidade e a função do Direito, não só como instrumento de manutenção e propagação de sistemas sociais, mas também como institucionalizador jurídico de atividades econômicas sob a fumaça do bom Direito. Imbuído desta ideia, o autor em tela serviu seus ensaios de uma franqueza e de uma variedade de autores de linhas ideológicas distintas para somar, em um mosaico integrativo, não discriminatório e sempre acolhedor da melhor razão, demonstrativo de uma liberdade de pensamento singular para uma realidade na qual imperava a guerra fria. A escritura dos ensaios transmite uma pessoalidade do referido autor que faz com que se sinta Bobbio em um diálogo constante com o leitor. Bobbio, aliás, é um gênio: construiu e reconstruiu a teoria kelseniana do ponto de vista histórico, jurídico e sociológico e filosófico; expôs uma polivalência e multiplicidade de leituras raras aos juristas para, finalmente, implodir Kelsen e, entre a neblina e os escombros, expressar visões de tal modo que realizou o adágio: o aluno supera o mestre. Na metáfora da palavra, Bobbio fez como a série de quadros de Picasso sobre “Las meninas”, de Velásquez, ou traduziu para o piano e orquestra “Quadros de uma exposição”, de Mussorgsky. Bobbio peneirou a eternidade de Kelsen, Hart ou Vivante, mas foi além, como Debussy, e deixou uma impressão pessoal de Ascarelli e de sua magna opera jurídica modelar, capaz de fazer dos leitores filhos e irmãos de um mesmo espírito acadêmico, atos à moda de Ascarelli, tal qual um moto perpetuo de Paganini – inquietante, dilacerante do Direito posto nacional e comparado, procurador e legador de uma verdade d’alma científica não só jurídica, mas também humana. Uma lição de vida. O livro é um cume e um ponto de inflexão bobbiano. A cada capítulo, o Direito é posto dentro da sociedade sob o escrutínio de ser um fenômeno dinâmico, promocional de uma humanidade melhor destinada ao bem comum e à realização individual promovida pelo Estado bonificador, e não mais sancionador e repressor. Bobbio perscrutou e promoveu um Direito destinado a atender, cada vez mais, às paulatinas e difíceis e complexas necessidades de um Estado nacional não mais regulador de todos os direitos e obrigações individuais e coletivas, mas obrigado a dar liberdade às relações contratuais privadas individuais e empresariais, perante uma estrutura jurídica estanque a se transformar para promover interesses gerais maiores. Imagina-se haver, nesta obra, uma solução para a crise do Estado de bemestar social que se avizinhava na década de 1970, com o aumento do preço do barril de petróleo, tendo em vista não mais se aceitar, implicitamente, que setores sociais se RESENHA 213 beneficiassem do Estado sem nada contribuir com o que estimulava a reforma do edifício jurídico então vigente para a multiplicação das normas de condutas bonificadas, com o fito de estimular o gênio criador do ser humano em sua esfera empreendedora. Tais valores estão realmente a ser vistos, a exemplo do que ocorre na maioria das nações. A França está a superar esta questão há mais de 20 anos. No Brasil, a Constituição de 1988 é garantidora, mas ainda pouco promotora de um direito bonificador. Como Bobbio disse, somente a partir de 1960 o Direito deixou de ser um fenômeno repressivo e sancionador para ser promotor e bonificador. Quem faz boas ações vai para o céu. De acordo com Bobbio, cabe ao Estado estimular que sejam dadas ao cidadão condições de boas ações. Bobbio pensou que deve o Estado instrumentalizar a estrutura jurídica com a função de conduzir o homem a fazer boas ações. São exemplos disso: a diminuição geral do valor cobrado sobre a renda empresarial e individual; a criação de leis com alíquotas menores para pesquisa e desenvolvimento de firmas de nanotecnologia e biotecnologia, de modo a estimular, bonificar e conduzir ações privadas com a função de promover o bem-estar individual pelo lucro obtido e, consequentemente, o bem comum. 214 REVISTA DE Revista DIREITO USCS USCS DA – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 1. Os trabalhos devem ser inéditos no Brasil. The papers must be unpublished in Brazil. 2. Na análise dos trabalhos, será levada em conta a pesquisa, a linguagem, a relevância do tema e a contribuição do autor para o tema. On the papers analysis, it will be taken on relevance the research, the language, the relevance of the subject and the author’s contribution for the theme. 3. Os textos devem ser digitados em fonte Times New Roman, corpo 12 (doze), espaçamento 1,5 (um e meio) e recuo na primeira linha de 1 cm (um centímetro). The papers must be keyed on Times New Roman 12, 1,5 space (between lines) and 1 cm paragraph. 4. A configuração da página deve ser papel tamanho A4, com margem superior e esquerda de 3 cm (três centímetros) e margem inferior e direita de 2 cm (dois centímetros). The configuration page is 3cm (superior and left) and 2 cm (bottom and right), on A4 size. 5. Junto com o trabalho, deve ser enviada, por email, uma autorização simples de publicação na Revista do Direito da USCS. With the paper, must be sent, by e-mail, a publishing authorization, specially for the USCS Law Magazine. 6. Os artigos devem possuir de 10 (dez) a 15 (quinze) laudas. Excepcionalmente, poderão ser aceitos trabalhos acima de 15 (quinze) laudas. Não serão aceitos trabalhos com menos de 10 (dez) laudas. The articles have to content 10 to 15 pages. Exceptionally, could be accepted bigger papers. Paper with less than 10 pages won’t be accepted. 7. As avaliações dos trabalhos enviados são de competência exclusiva do Conselho Editorial da revista, sendo que sua decisão é soberana e irrecorrível. The paper evaluation is a exclusive prerogative of the magazine council and its decision is sovereign. 8. As citações devem se restringir ao estritamente necessário e ser feitas segundo o determinado pela ABNT, no estilo nota de rodapé. The quotes could be used only when strictly necessary e have to obey the ABNT rules (www.abnt.com.br), on footnote style. Exemplo/Example: CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. São Paulo: Atlas, 1999. p. 32. Para citações maiores (superiores a três linhas, segundo a ABNT), deve-se fazer um recuo e alterar o espaçamento entre linhas, mantendo-se o tamanho da letra (12). Ver o exemplo abaixo: For bigger quotes (above 3 lines), it have to do a retreat and change the space between lines, keeping the letter size (see the example below): De outra parte, em análise econômica do direito, com base no princípio da “reserva do possível”, pois a efetivação do direito à saúde importa gastos financeiros e recursos de outra ordem (material humano e equipamentos), poder-se-ia defender que somente o administrador, dentro de sua discricionariedade, poderia implementar as políticas públicas que dizem com o direito à saúde; no entanto, o Supremo Tribunal Federal, já deixou assente que (...) a cláusula da “reserva do possível – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade” (cf. RE n. 410.715-AgR / SP, Rel. Min. Celso de Melo, unânime, J. 22.11.2005, p. 11/12). 9. A referência bibliográfica deve ser inserida ao final do artigo, segundo o disposto no item anterior. The bibliography reference mus be insert at the end of the paper, just like the number 8 above. 10. Os artigos devem trazer, obrigatoriamente, em português e inglês, título, resumo (máximo de 50 palavras) e palavras-chave (máximo de quatro), bem como sumário, somente em português. Articles, in a mandatory way, have to show a title – if the text is in english, the title is only in english – abstract (50 words maximum) and a summary. RESENHA Segue exemplo./ See the example. A questão dos portadores de deficiência e sua concreta inserção no mercado de trabalho: o caso do Posto Ecobrasil em São Sebastião, SP The handicapped people issue and its concrete insertion on the work market: the EcoBrasil Gas Station case in São Sebastião, SP Antonio Celso Baeta Minhoto RESUMO A caracterização de um grupo social como minoria; as peculiaridades da situação do portador de deficiência como grupo minoritário; o caso do Posto EcoBrasil em São Sebastião e a inserção dos portadores de deficiência no mercado de trabalho local. Palavras-chave: portadores; deficiência; inserção social; trabalho. ABSTRACT The characterization of a social group as a minority; the handicapped people particular situation as a minority group; the EcoBrasil gas station case in São Sebastião and the handicapped people insertion on the local work market. Keywords: handicapped people; deficiency; social insertion; work. 12. Serão aceitos artigos em português, espanhol, inglês e italiano. Nos textos em português, as citações em língua estrangeira deverão ser traduzidas pelo autor, sob sua responsabilidade pessoal. 215 It will be accepted articles in portuguese, spanish, english and italian. Quotes in other languages must be translated by the author, under his-her personal responsibility. 13. Logo ao final de seu nome, lançado no artigo, o autor deverá inserir uma nota de rodapé e, nesta, relatar seu currículo de modo sucinto, destacando formação acadêmica em nível de pós, atividades profissionais e acadêmicas e referência a, no máximo, um livro de sua autoria. As a first footnote, the author have to indicate his-her resume, in a brief version, with his-her principal and professional occupations and, if is the case, a reference of a book of his-her authorship. 14. Todos os artigos devem ser enviados por email ao seguinte endereço eletrônico: [email protected]. All the papers must be sent to: [email protected]. 15. Para os artigos publicados, constará, ao lado do(s) nome(s) do(s)(as) autor(es)(as), seu(s) respectivo(s) e-mails. For the published papers and beside the author(s) name(s), will be registered his(her) e-mail(s). 17. O desatendimento de quaisquer dos requisitos aqui dispostos implicará a recusa liminar do trabalho. The non-observation of any of this requirements involves the immediately papers refusal. 216 Revista USCS – Direito – ano X - n. 17 – jul./dez. 2009 Anotações